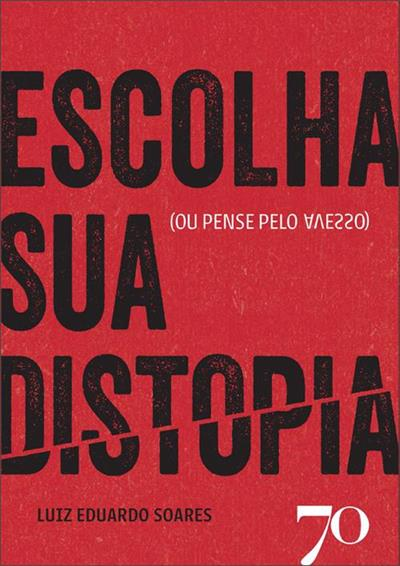Ronaldo Tadeu de Souza[1]
Entender o Brasil sempre fez parte do ofício daqueles que entre nós dedicaram suas vidas à construção de nossas humanidades. Sociedade em que os problemas são de difícil apreensão. País de dimensões culturais incomensuráveis. Um povo espalhado por níveis de sociabilidade as mais díspares. Uma estrutura política em vias de consolidação e ao mesmo tempo robusta enquanto sistema por ser pouco permeável às demandas da sociedade civil. Poderíamos dispor ao leitor uma lista quase infindável de complexidades que foram e ainda são tratadas por nós. O “nós” refere-se aqui àqueles que, nas ciências humanas nos trópicos, buscam pensar o Brasil mobilizando, sobretudo, os aspectos teóricos, epistemológicos, cognitivos e metodológicos das ciências sociais. Um estilo, modalidade pode-se dizer, de se compreender o país, a sociedade brasileira e suas características múltiplas, é pensar o pensamento (Brandão, 2007) dos que constituíram o que se convencionou nomear nas ciências sociais, de pensamento social (e político) brasileiro. Com efeito: três sociólogos são indispensáveis para o exercício de ensaiar entender o Brasil pensando o pensamento: Florestan Fernandes, que neste ano completaria cem anos, Octávio Ianni, um dos seus mais destacados alunos e discípulos, e Chico de Oliveira, falecido em 2019 – e que em entrevistas (2007, p. 27) afirma que pretendeu ser aluno de Florestan no doutorado, fato este nunca realizado, pois segundo Chico, seu amigo Gabriel Bolaffi perdeu o projeto que teria de ser entregue a Florestan na USP, e o resto é história…
Para além da urgência intelectual de perscrutarmos o sentido e os impactos da Covid-19 para a sociedade brasileira – é imperioso as ciências humanas e sociais se posicionarem com vigor crítico acerca da pandemia e o que os governos, em sua maioria de direita, estão fazendo ou não diante dela – pensarmos com nossos principais intelectuais públicos, mesmo que distantes de nosso contexto imediato, torna-se exercício sugestivo hoje. Assim, três temas e preocupações atravessaram as obras de Florestan Fernandes, Octavio Ianni e Francisco de Oliveira aos quais devemos sempre voltar para compreendermos o Brasil. Respectivamente, o caráter e o significado da escravidão, nossa relação com o imperialismo e os ciclos da revolução burguesa e o Estado nacional, pensando a partir da preocupação com a atuação da esquerda. Inúmeros pesquisadores e estudiosos já demonstraram a importância da questão do negro para a formação do pensamento sociológico de Florestan Fernandes (Brasil Jr., 2013; Jackson, 2007 e 2007a). Sua trajetória na construção da sociologia cientifica no Brasil, bem como seus comprometimentos intelectuais com os de baixo, estiveram associados ao entendimento dos dilemas do negro em uma sociedade de capitalismo dependente. Assim, desde o projeto para a Unesco conduzido em parceria com Roger Bastide, e que resultou no livro/relatório Brancos e negros em São Paulo: ensaio sociológico sobre aspectos da formação, manifestação e os efeitos do preconceito de cor na sociedade paulistana (1955) até a tese de cátedra em 1964, o seu Integração do negro na sociedade de classes, passando por trabalhos que visavam expor as mudanças sociais e seus impactos na ordem societária em vias de se tornar competitiva, Florestan dedicou seus esforços a teorizar criticamente sobre os destinos da população negra. É consenso para os dedicados ao pensamento social de Florestan Fernandes que os dois escritos referidos são os principais (e mais conhecidos) do autor sobre o tema do negro. No entanto, há um outro trabalho, um ensaio escrito e debatido no “Simpósio sobe Perspectivas Comparadas sobre a Escravidão nas Sociedades de Plantação no Novo Mundo, realizado na Academia de Ciências de Nova York” (1976), intitulado A sociedade escravagista no Brasil, que é fundamental, por um lado, para atentarmos definitivamente o sentido dos dilemas da problemática do negro na obra de Florestan e, por outro, porque nos permite uma visada teórico-interpretativa prenhe de sugestões para lermos a sociedade brasileira no seu desenvolvimento histórico-social e histórico-político e suas questões mais prementes até nossos dias. Diferente de Brancos negros em São Paulo e Integração do negro, nos quais as indagações são conformadas, grosso modo, pela inserção (ou não) do negro na “ordem social competitiva” após o fim da escravidão, em Sociedade escravagista, Florestan quer averiguar a “sociedade e a articulação das raças contidas nos vários pólos da dominação escravagista” (Fernandes, 1986 [1976], p. 225). Ensaiemos brevemente este ponto.
Trata-se, então de indagar, não mais como negros e mestiços foram integrados na dinâmica capitalista nascente no Brasil, mas do que significa uma sociedade em que a escravidão estende-se por todos os seus momentos de interação. Por outras palavras: Florestan, em A sociedade escravagista, quer desvelar como a escravidão se sobrepôs às múltiplas estruturas de configuração de nossas relações sociais. Florestan Fernandes se expressa assim acerca desta problemática: “as conexões estruturais e dinâmicas, muitas delas institucionais, que surgiam nesta esfera [a de uma sociedade escravagista] ocorriam ao longo de um gradiente diacrônico: não eram portanto, visíveis de maneira direta ou saliente” (Fernandes, 1986 [1976], p. 228). Com efeito, não é o caso de dizer, “pura e simplesmente”, que com o advento do capitalismo brasileiro a “escravidão desaparece [ou] é enterrada” (Ibidem). O que isto quer dizer? O braço escravo dos negros, violentamente transportados para essa terra de desterrados, como dizia Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, suportou (e suporta ainda hoje, infelizmente) todo o desenvolvimento formativo da sociedade brasileira. Na “era colonial”, controlada pela Coroa; no momento de “transição neocolonial”, com a presença da família imperial, “a Independência e a eclosão da modernização capitalista”; no delineamento concreto e expansivo de “um capitalismo dependente”, já no decurso do século XX (Ibidem, pp. 228 e 229) e no modo mesmo de organização de classe do processo societário brasileiro nos dias de hoje – o setor negro é o fundamento mesmo, com sua miséria e sofrimento, da civilização brasileira. Vejamos três momentos deste movimento de uma ordem social escravagista.
Os escravos não eram só o aspecto braçal a ser chicoteado na lavoura e depois na mineração; sobre seus ombros erguia-se o “butim”: pelo que se partilhava na colônia os “frutos […] [da] produção escravista” (Ibidem, p. 235). A difusão do excedente do sistema extraído, violentamente, permitia a dinâmica da economia interna do Brasil – a “economia colonial” – à qual se justapunha a economia da metrópole no âmbito das “economias comerciais hegemônicas e do mercado mundial” (Ibidem). Assim, senhores e negociantes; funcionários da escravaria e intermediários no comercio dos produtos das lavouras; interesses externos (da economia) e o povo miúdo das cidades se beneficiavam estruturalmente da sociedade escravagista. Daí que se constitui o que Florestan Fernandes chama de “ordem social da sociedade escravocrata e senhorial” (ibidem, p. 243) no Brasil.
O segundo momento sobre o qual vale a pena deter-nos por alguns instantes refere-se ao fato de que esta ordem social necessitava ser protegida por todos os meios e expedientes. É por isso que a “força bruta em sua expressão mais selvagem, coexistiam com a violência organizada institucionalmente e legitimada pelo caráter sagrado das tradições [e da] moral católica” (ibidem, p. 250). Engendrado por configurações estruturais, culturais e psíquicas, o escravo negro tornava-se, portanto, “um inimigo público” (ibidem). Vale dizer: a pequena minoria dominante branca exercia sua violência com vistas a manter a ordem social escravocrata não só diretamente, mas também lançando sua teia de interesses compartilhados ao “povo miúdo” (ibidem, p. 248). Os não-escravos em geral, que “saturavam os interstícios” da sociedade escravagista e sua ordem evolutiva, adotavam “a ótica senhorial”. Diz Florestan: “o estamento dominante em arbitro do sistema […] estimulava os demais estamentos [grupos, círculos] e os estratos socialmente oscilantes a se converterem em caixa de ressonância dos interesses senhoriais” (Fernandes, 1986 [1976], p. 248).
Como este sistema (dinâmico) escravagista se desenvolve na fase de transição neocolonial e realiza a passagem contraditória e decisiva para a ordem social competitiva (capitalista)? Neste terceiro momento, gostaria de chamar a atenção para a formulação de Florestan Fernandes a respeito da “elasticidade” estrutural e psíquica da ordem escravagista (ibidem, p. 259).
Aqui, então, o sistema escravista adquire densidade integrativa. Por um lado, no “plano puramente econômico”, a estruturação externa que se beneficiava sobremaneira dos braços e ombros negros é internalizada, consolidando a “emancipação nacional”; por outro, neste desenvolvimento “começa a aparecer um mercado capitalista especificamente moderno” (Ibidem). Ora, a integralidade do sistema ocorre porque justamente estes dois aspectos variavam nas circunstâncias mesma do travejamento pelo trabalho escravo – a “ordem escravocrata e senhorial” (Ibidem, p. 263) que cede passagem ao moderno, trazia no seu núcleo social e político dinâmico os fortes traços constitutivos da sociedade escravagista. Dramaticamente, Florestan Fernandes nos dirá que a expansão do café, graças ao trabalho escravo – e o que este suportava, como vimos – permitiu a construção da “Idade de ouro da ordem escravocrata” (ibidem), de modo que o avanço e desenvolvimento das economias urbanas e sua extensão partilhada de negócios “criados pelo café” transformava o senhor dos estamentos a candidato ao “estilo moderno” de comportamento econômico (ibidem). No palco em que o drama foi, concretamente, encenado, a própria “exploração do trabalho escravo e a espoliação [pela sociedade escravagista]” deu possibilidades para a criação do excedente de recursos econômicos (compartilhado pela teia de interesses) na qual, de modo imanente, conjurou para o abandono da escravidão. Com efeito, Florestan afirma que “largados a si mesmos […] e postos no olho da rua” (Ibidem, p. 263) pela República, o negro escravo foi o esteio do que o mestre eterno da nossa sociologia denominou de capitalismo dependente. Se renascesse das cinzas em 2020, o filho de dona Maria Fernandes, uma doméstica que trabalhou para famílias abastadas da cidade de São Paulo, muito provavelmente não se perguntaria mais como os negros e negras foram (ou não) integrados no mundo dos brancos, e nem mesmo qual o sentido de uma sociedade escravagista, mas: como, numa ordem social escravista compartilhada pelo povo, no vocabulário atual, e que “integrou” os negros no mundo dos brancos tal como o vemos hoje, ainda não viu florescer uma irrupção explosiva, revolucionária, se me permitem, de braços e ombros negros para findar com esta sociedade, que, malgrado as mudanças significativas por que passou, ainda perdura de modo dinâmico e sistematicamente violento?
Se em 2020 não conseguimos responder à fictícia e/ou suposta indagação de Floresta Fernandes, podemos nos voltar a outro dos nossos sociólogos componentes do quadro constitutivo do pensamento social e político brasileiro. No grupo de estudantes formados por Florestan na cadeira de Sociologia I na USP encontramos um dos seus principais discípulos e seguidores (Jackson, 2007 e 2007a). Octavio Ianni dedicou também seu percurso intelectual, seus escritos, ensaios sociológicos e pesquisas à questão do negro numa sociedade escravocrata. Variando na construção dos problemas e hipóteses acerca da “interpretação do Brasil”, Ianni abordou os temas do populismo na América Latina, do Estado capitalista no Brasil e do imperialismo como manifestação econômico-político e cultural. Dois ensaios em sociologia histórica sugerem os obstáculos para que emerja entre nós uma irrupção explosiva dos braços e ombros negros; a saber, Imperialismo na América Latina e O ciclo da revolução burguesa no Brasil. O primeiro é um conjunto de trabalhos reunidos em livro com o mesmo nome; já o segundo se trata de um artigo publicado na Revista Temas de Ciências Humanas, então editada por um grupo de intelectuais públicos como Marco Aurélio Nogueira, José Chasin, Gildo Marçal Brandão, Nelson Werneck Sodré e Carlos Nelson Coutinho.
Com efeito, com a generalização da política de Guerra Fria pela América Latina, em especial no Brasil, difundiu-se no continente a doutrina da segurança hemisférica “sob a tutela dos Estados Unidos” (Ianni, 1974, p. 15) e o preceito da “contra-insurreição” (ibidem, p. 16). Pronto, desde que se tornou a maior potência do mundo ocidental, para construir zonas de influência tanto para estruturar e organizar a economia do excedente, como para intervir na política (seja via diplomacia do dólar, seja pela repressão), os Estados Unidos considerava os povos latino-americanos, dadas as condições sociais de pobreza e desigualdade extrema, como potenciais aliados dos países socialistas, particularmente da União Soviética. Ora, com este panorama “os governos norte-americanos”, nos diz Octávio Ianni, “[e] seus aliados [na América Latina] […] enfatiza[vam] a importância e preeminência da luta contra as forças sociais, políticas e econômicas que pode[riam] alterar as estruturas de dominação política e apropriação econômica convenientes ao status-quo” (ibidem, p. 18). Criou-se no continente estratégias políticas do “tipo contra-revolucionários” (ibidem, p. 21) sempre que as classes subalternas – índios, mestiços, negros e camponeses – vislumbravam mudar as condições opressivas em que viviam. Ianni, rigoroso como o foram os principais alunos de Florestan, mobiliza uma quantidade robusta, expressiva e plena mesma de sentidos, por assim dizer, de relatórios e comunicados oficiais do governo americano sobre a situação complexa (insurrecional) da América Latina. Em um deles consta:
[as] necessidades básicas dos povos americanos, quanto a habitação, trabalho, terra, saúde e escolas [é] preocupação do presidente [americano] e dos seus conselheiros [de Estado] […] operações de contra-insurgência […], programas de ensino […], treinamento militar […], recursos materiais [e] […] financeiros [objetivavam] a expansão das unidades de luta anti[-revolucionárias] (Discurso do Presidente John F. Kenedy em 13 de Março de 1961/Relatório Internal Security and Military Power-Counterinsurgency and Civic Action in Latin América 1966 Apud Ianni, 1974, pp21 e 22).
Vale a pena aqui ressaltar a percepção de Octávio Ianni sobre as circunstâncias do imperialismo na América Latina. A ambiguidade das burguesias nacionais e as transformações qualitativas por que passaram as condições de dominação do continente em meados dos anos 1950 completavam o quadro da política imperialista. Efetivamente, os Estados Unidos (e outras potencias capitalistas) verificaram que o “socialismo não [era] uma estratégia alheia” (Ibidem, p. 50) ao continente sul-americano. De modo que, “desde 1959 […] o socialismo passou a ser um elemento real nas relações interamericanas, como algo efetivamente ocorrido e que poderia ocorrer de novo” (ibidem). E foi o que aconteceu após a Revolução Cubana no referido ano. em 1965, na República Dominicana, houve uma revolta popular e no Chile aconteceu a vitória do então socialista Salvador Allende no pleito eleitoral de 1970.
Maior país da América Latina e estratégico para os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, o Brasil era (e é) o aliado preferencial de sucessivos governos estadunidenses. “O Brasil precisa preencher o […] poder” na região, uma vez que os americanos não o podem fazer diretamente a todo o tempo; esta política diplomática, “a harmonia de interesses”, como lembra Ianni, foi decisiva para conter as subversões sociais dos povos subalternos no continente (Ianni, 1974, p. 71).) Este movimento internacional e estratégico-diplomático dos Estados Unidos expressava-se na articulação entre os ciclos da revolução burguesa no Brasil e nas sistemáticas reorganizações do nosso Estado nacional. Nossas elites econômicas e políticas estariam sempre a gerir seu posicionamento entre os interesses do imperialismo na região, seus interesses imediatos e o potencial de rebeldia dos setores populares.
Logo na primeira frase do artigo O ciclo da revolução burguesa no Brasil, Octávio Ianni formula seu argumento: “a problemática da revolução burguesa reaparece com frequência na reflexão sobre a história e as formas do Estado brasileiro” (1981, p. 1). Esta construção teórica enquanto tal pode se converter em um mapa cognitivo para sugestivas agendas de pesquisa em nossas ciências sociais, bem como mostrar pontos de referência para o debate público sobre o Brasil atual. Ora, se a sugestão para a conformação de agendas de pesquisa e o debate público acerca das características da revolução burguesa no Brasil, e mais particular e decisivamente da reorganização ininterrupta do nosso Estado nacional – uma vez que aquela pode já ter completado sua formação como assevera alguns pesquisadores e intelectuais – pode incitar expressivos debates ainda hoje, desde que posta em circulação, no passado ela mereceu a atenção do pensamento social brasileiro. Assim, Ianni comenta, com maior vagar, cinco ideias de revolução burguesa no Brasil.
Começando com Sérgio Buarque de Holanda, o tópico da transformação burguesa do Brasil explicitava concretamente o fim do trabalho escravo e o “predomínio do trabalho livre […] daí em diante estava dada as condições para que o setor rural (e sua cultura e hábitos característico) não fosse mais o centro de gravidade da sociedade brasileira” (Ianni, 1981, pp. 2 e 3).
Em Caio Prado Jr., segue Ianni, o registro histórico da revolução burguesa articula a cessação da escravatura, a “imigração de braços para a lavoura” com o início do trabalho livre e a reorganização do aparelho estatal – este em consonância com as necessidades do capitalismo nacional (ibidem, p. 3). A preocupação de Octávio Ianni ao construir sua interpretação sociológica do Brasil neste texto que abordamos estava atenta ao que disseram e escreveram nossos historiadores; ao lado de Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Jr., ele comenta a obra do pouco prestigiado, na área de pensamento social brasileiro, Nelson Werneck Sodré. Neste autor, Ianni observa que a formação da “burguesia nacional” surgida dos estertores da “monarquia” (Ianni, 1981, p. 3) é um aspecto primordial no entendimento do sentido de nossa revolução burguesa. Sobre seu mestre, e o de todos nós, Ianni aborda algo decisivo na compreensão de nossas mazelas sociais. Na Revolução Burguesa no Brasil, Florestan Fernandes argumenta que “o passado escravocrata continuou pesando sobre as condições de vida” (Ibidem, p. 4) no Brasil, de modo que o povo – o trabalhador, o negro saído da senzala, o camponês pobre, a mulher dos setores subalternos e a juventude das periferias – não se configurou plenamente como realidade histórica, mesmo com as transformações ocorridas após 1888-1889 (ibidem, p. 5). A violência de nossas elites, desde sempre, foi algo quase que indescritível para impedir o surgimento do povo como sujeito da ação política e social.
Carlos Nelson Coutinho, o mais novo dos autores comentados por Ianni, traduziu para nossa realidade a noção, forjada por Lenin e Lukács, de via prussiana. Nossa revolução burguesa, em sua “feição prussiana” – quer dizer, em que a “passagem para [o] […] capitalismo” ocorre sem alterações na estrutura agrária (ibidem), imantando, com isso, os setores mais arcaicos e conservadores nas instâncias de poder do aparelho estatal – adquire modalidade autoritária.
Com efeito, interpretando as interpretações, Ianni nos diz que no Brasil, malgrado os momentos de transformação burguesa, põem-se e repõem-se o “problema do Estado forte” (Ibidem, p. 6). Quais as implicações dessas peculiaridades sócio-históricas brasileiras? Nosso “Estado forte”, posto reposto ao longo de nossa história, é um compacto círculo de aço de proteção de nossas elites contra a tendência insurrecional do povo rebelde – porque explorado em demasia- no Brasil. Monarquia, poder moderador e corte; Primeira República e a o arbítrio dos governadores (a política de Campos Sales); a revolução de 1930 e o intervencionismo governamental-estatal para impulsionar a indústria nacional; o regime de 1945-1964 que, ainda que democrático representativo, “fechou o Partido Comunista do Brasil em 1947” (ibidem, p. 19) na presidência do marechal Eurico Gaspar Dutra; a ditadura militar (1964) e “conciliação pelo alto” (ibidem, p. 20) para transitar à democracia – é o horizonte da “revolução popular”, a “avalancha revolucionária” (Ibidem, p. 31) que os ciclos da nossa revolução burguesa e as sistemáticas reorganizações do nosso aparato estatal que evitar.
Com a sociedade escravagista e suas características de reprodução teorizadas por Florestan Fernandes, com a presença do imperialismo na economia e na reorganização política do Brasil, com os ciclos de nossa revolução burguesa e o círculo de aço protetor que forma contra o povo sempre descontente em potencial de insurreição na interpretação de Octávio Ianni, qual a reposta da esquerda para este estado de coisas?
Francisco de Oliveira – o nosso Chico de Oliveira – construiu parte de sua sociologia na busca de entender como o principal partido da esquerda no Brasil, e talvez da América Latina, atuou desde sua formação diante daquilo que Florestan Fernandes e Octavio Ianni expuseram em seus respectivos pensamentos sociais. Se na abordagem de Florestan encontramos uma densa, e por vezes até hermética, teoria sociológica (com níveis intrincados de abstração) na explicitação do que significa nossa sociedade escravagista e em Octavio Ianni temos a o delineamento de uma sociologia histórica explicativa da opressão imperialista no continente latino americano combinada com os ciclos conservadores de nossa revolução burguesa, na tentativa de entendimento de das forças de esquerda, do Partido dos Trabalhadores (PT) em especial, Chico de Oliveira desenvolve uma espécie de sociologia político-partidária. Em suas intervenções na Novos Estudos e Novos Estudos Cebrap, que como bem observou Nadya Araujo Guimarães (2019, p.267), foi a plataforma e o espaço em que expressou parte de suas “novas ideias” provocativas sobre o país, é possível verificarmos toda a imaginação crítico-interpretativo da sociologia de Chico de Oliveira. Vejamos primeiro o ensaio E agora PT?
Neste artigo temos uma verdadeira aula não só sobre o PT enquanto tal, mas sobre as dificuldades de toda a esquerda brasileira em agir numa sociedade pouco afeita a, por um lado, se reconhecer como classe – sobretudo os setores desfavorecidos, incluído aí as classes médias- e, por outro, com baixíssima cultura socialista entre os trabalhadores e ativistas. Espantando a muitos que viam no PT uma novidade sem igual na Brasil – no que diz respeito a um partido de esquerda-, Chico de Oliveira, como lhe era peculiar, provoca, afirmando que o partido é “continuador do PC Brasileiro, em sua versão inicial” (1986, p. 33). Semelhante a este, o PT coloca, novamente, para a sociedade brasileira a “questão operária” (ibidem). No entanto, propor o problema da questão operária não significava aderir de pronto à sua cultura. A resposta do PT, nos dirá Chico de Oliveira, estará, enquanto organização e perfil militante, circundada pela dificuldade em tornar o partido efetivamente representante da classe operária brasileira. O que poderia ser autoevidente – tendo em vista a teoria sociológica de Florestan e a sociologia histórica de Ianni – enfrentava certos obstáculos. Arguto desde sempre, Chico sugere que a nova classe operária dos anos 1970 possuía pouca ou “nenhuma cultura política socialista” (ibidem) e isto repercutiu n própria estrutura performática e organizativa do PT. Esta foi – e talvez ainda seja- uma questão que o PT, e a esquerda em geral no Brasil, teve de enfrentar. A isto se justapôs o deslocamento do partido “para membros das classes médias” (ibidem). A situação era agravada para um partido de esquerda que, querendo ser opção de representação dos trabalhadores, se via diante do fato da violência da ditadura militar cortar ligações “entre sindicatos [operários] e partidos” (Ibidem, p. 34). As dificuldades para o PT e para as forças de esquerda eram muitas.
Já nos anos 1980, Chico de Oliveira perceberá algo que as ciências sociais críticas brasileiras compreenderão somente nos anos em que o PT tornar-se-ia ator relevante no jogo político nacional: o impacto e a relevância sociocultural da sociedade de massas e da intervenção da Rede Globo. Mas, ao invés de abordar estes separadamente, Chico de Oliveira, com astúcia sociológica, coaduna as duas variáveis porque a sociedade de massas no Brasil foi difundida pelo aparato de entretenimento da Rede Globo. Melhor dizendo: o entretenimento foi potencializado, pois como “mass media […] a Globo é realmente o padrão exemplar, cuja meta principal é a produção de não-identidade de qualquer grupo ou classe social” (Oliveira, 1986, p. 34). Essa circunstância dificultaria ainda mais qualquer projeto de esquerda que anseia por ser representante da classe trabalhadora. No horizonte político do PT, esta intrincada situação sociológica exigiria um esforço de resposta custoso para o partido. Construir a subjetividade classista no Brasil e inseri-la nas estruturas do jogo político foi (e é) um dos maiores desafios do PT e de toda a esquerda brasileira. Chico de Oliveira percebe, em 1986, algo que completará o quadro de óbices para a esquerda e o PT: a vitória ideológica do capitalismo em nossas terras. Aceitar o capitalismo – “ser capitalista é que é bom” (ibidem, p. 38) – enquanto modo de vida final e derradeiro colocaria mais uma pedra na montanha que a esquerda teria de escalar, ou tirar do caminho, até o topo político.
A sociologia de Francisco de Oliveira continuaria sua saga interpretativa a respeito de como as forças de esquerda e do PT, em particular, responderiam às considerações de Florestan Fernandes sobre a sociedade escravagista brasileira e de Octavio Ianni acerca do imperialismo e dos ciclos da revolução burguesa no Brasil. O artigo O momento Lenin, também publicado na Novos Estudos Cebrap, é um dos últimos esforços da sociologia de Chico de Oliveira na incessante procura de entender e responder, da perspectiva de esquerda, aos problemas mais urgentes do país. Ousado e provocador como o artigo de 20 anos atrás, o ensaio sociológico de 2006 inicia com um dos eventos mais controversos da história social da esquerda: Chico reconstrói o arco político de fevereiro a outubro – “houve [o] abril” (2006, p. 23) – na Rússia de 1917. Com a deposição da monarquia czarista segue-se o governo provisório, as ações de Kerensky, as Teses de Abril de Lenin e por fim os sovietes de operários e camponeses com os bolcheviques terminando o arco. Assim, tendo de continuar “uma revolução democrática” (ibidem), os sovietes e os bolcheviques tiveram que efetuar outra revolução. Nas palavras de Chico de Oliveira: “sovietes de operários e camponeses […] [fizeram] o trabalho que a revolução burguesa havia realizado no Ocidente” (ibidem). No entanto, subjacente a esta narrativa reconstrutiva de Chico, de certo modo conhecida nos ambientes cultos, acadêmicos e do ativismo, o que temos é a conformação da ideia de indeterminação como modalidade de interpretação. O momento de Lenin, dos sovietes e dos bolcheviques é, ao contrário do que se observa, o momento da indeterminação (ibidem, p. 25). E a esquerda brasileira, com o PT sendo o principal expoente histórico, social e político – porque chegou ao governo-, atravessava seu instante Lenin, o instante da indeterminação. Haveria muito a estudar e comentar linha a linha o ensaio sociológico de Chico de Oliveira, sobretudo em nosso contexto político com o governo Bolsonaro e a luta, desesperada até, do conjunto das forças de esquerda brasileira para se reconstruir dos seus escombros e tornar-se o eixo de ação ao qual convergem os sujeitos subalternos do país. Porém, o espaço é curto.
No quadro de argumentação do presente texto, gostaria de abordar apenas dois tópicos: 1) o modo pelo qual o PT pretendeu responder à mazelas de nossa sociedade escravagista e aos ciclos de revolução burguesa circundados pelo imperialismo inserindo-se no sistema político-partidário nacional, 2) e as consequências dessa inserção para o PT e, de certo modo, para o conjunto da esquerda. Ora não é ocasional, ou mesmo exercício retorico, que Chico de Oliveira analise a experiência do PT e de parte da esquerda pós-2002 a partir da formulação de um momento Lenin. Havia uma razoável indeterminação quando o PT disputava votos na campanha eleitoral e mesmo quando vence o pleito e passa a governar. A opção adotada para resolver e dar andamento político e social à indeterminação foi “despetizar [o partido e] o candidato” (Oliveira, 2006, p. 27). Os eventos narrados por Chico de Oliveira em fina prosa sociológica e ao mesmo tempo crítica no melhor sentido de um marxismo imaginativo para sustentar sua argumentação, vão desde compreender a importância que teve o marqueteiro da elite política nacional, Duda Mendonça, na tarefa e responsabilidade de “ressalvar em Lula [e no PT] o que era inespecífico” (2006, p. 27) até a recomposição do “sistema político [por Lula, pelo PT e por parte da esquerda] que o turbilhão combinado da desregulamentação de FHC e da globalização havia implodido” (ibidem, p. 29), passando pela conversão antecipada de Palocci ao neoliberalismo, por Henrique Meirelles, “ex-presidente do Bank Boston”, como chefe do Banco Central e a paralisia dos movimentos sociais. Com efeito, o PT passava a ser o “partido da ordem” (ibidem, p. 30).
Chico de Oliveira perceberia com agudez sociológica algo que, vez por outra, aparece no debate público atual como uma panaceia política. A ideia de consenso, acordos, pactos e diálogos. Uma vez sendo peça fundamental de recomposição do sistema político e transformando-se em partido da ordem, o PT e Lula acreditaram piamente no governo por consenso: ocorreu, assim, o esforço, por um lado, de dar vida e forma a “uma concepção ingênua e simplista do consenso – idealizado sempre na figura da negociação – e, de outro, para conseguir criar aliados” (ibidem, p. 31) dispostos ao diálogo e à conversa racional. Uma demonstração evidente de apatia e irresolução. Pois a “negociação [e o consenso] idealizado[s] esconde[m] a fraqueza do governo gente ao empresariado, nacional e internacional” (ibidem). Atenção para o que havia sido a armadilha ao qual o PT e Lula foram pegos – intencionalmente – hoje, é certo que num cenário político perigoso para a democracia e radicalmente distinto, é recomendada para a reconstrução da esquerda. Como uma Cassandra de nossas ciências sociais, Chico de Oliveira estava atento ao fato de que nossas elites (econômicas, políticas e de direita) não negociam.
A implicação que Francisco de Oliveira apresenta após a fina análise sociológica empreendida é uma espécie de reprodução/repetição da análise mesma efetuada acerca do PT e de Lula como peças constitutivas do sistema político brasileiro – fragilizado abatido. Se, na interpretação de O Momento Lenin, Trotsky e os bolcheviques compreenderam que na brecha da indeterminação proporcionada pelos sovietes e com o sistema político russo em estado de falência e “aprofun[daram] [e] dirigi[ram] o movimento para a revolução socialista” (Oliveira, 2006, p. 29), no Brasil, o PT e Lula escolheram, com consciência e denodo, a “reconstrução do sistema de poder” (ibidem, p. 35). Por outras palavras; optaram – numa sociedade de reprodução escravagista, cercada pelo imperialismo norte-americano, com seus ciclos de revolução burguesa ao modo da via prussiana e um Estado que se reorganiza desde sempre para proteger as elites da ameaça da rebeldia popular – por colocar a ideia-força de “união nacional acima da luta de classes” (ibidem).
Será que estamos colhendo o fruto (envenenado) destas escolhas? Pensar o Brasil sociologicamente, como fizeram Florestan Fernandes, Octavio Ianni e Francisco de Oliveira, pode não nos tirar das circunstâncias às quais nos encontramos hoje; ainda assim, se é certo que o poder material tem de ser enfrentado com poder material, é certo também que o pensamento, e particularmente nosso pensamento social, torna-se material se interpretar e entender as coisas pela raiz. Florestan, Ianni e Chico e suas respectivas sociologias sempre souberam disso.
Bibliografia:
BRANDÃO, Gildo Marçal. Linhagens do Pensamento Político Brasileiro. São Paulo. Hucitec, 2007.
BRASIL Jr., Antonio. A Reinvenção da Sociologia da Modernização: Luiz Costa Pinto e Florestan Fernandes (1950-1970). Trab. Educ. Saúde, v. 11, nº 1, 2013.
FERNANDES, Florestan. A Sociedade Escravagista no Brasil. In: Sociologia (Org.) IANNI, Octávio. São Paulo. Ática,1986.
GUIMARÃES, Nadya Araujo. Francisco Maria Cavalcanti de Oliveira, o Chico de Oliveira (1933-1919). Novos Estudos Cebrap, v. 38, nº 2, 2019.
JACKSON, Luiz Carlos. Gerações Pioneiras na Sociologia Paulista. Tempo Social, v. 19, nº1, 2007.
____________________ Tensões e Disputas na Sociologia Paulista (1940-1970). Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 22, nº 65, 2007a.
IANNI, Octávio. Imperialismo na América Latina. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 1974.
_______________ O Ciclo da Revolução Burguesa no Brasil. Temas de Ciências Humanas, nº10, 1981.
OLIVEIRA, Francisco de. E Agora PT? Novos Estudos, n. 15, 1986.
_____________________ O Momento Lenin. Novos Estudos Cebrap, nº 75, 2006.
Nota:
[1] Doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP) e pesquisador de pós-doutorado no Departamento de Ciência Política da mesma universidade.