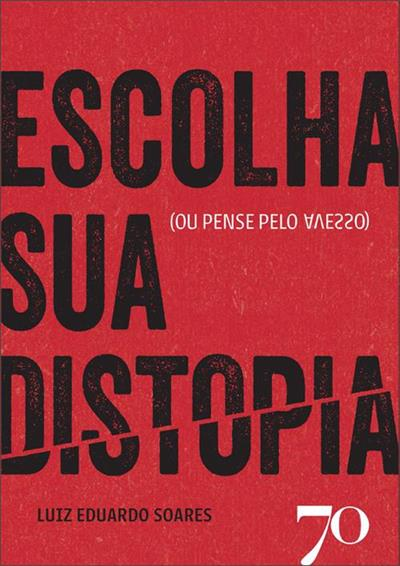7 de fevereiro de 2025
Na coluna de hoje, divulgamos a introdução do relatório de pesquisa “Violência doméstica e familiar contra magistradas e servidoras do sistema de justiça”, coordenado pelas professoras Fabiana Severi (FDRP-USP) e Luciana Ramos (FGV Direito SP). O estudo contou com a participação de juízas, servidores públicos e pesquisadoras vinculadas às instituições mencionadas. O relatório completo pode ser acessado aqui.
A pesquisa apresentada neste relatório foi idealizada por um grupo de magistradas e servidoras de diferentes ramos do Poder Judiciário, sensibilizadas com a notícia do feminicídio cometido contra a juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, morta a facadas pelo seu ex-marido. Viviane tinha 45 anos, atuava no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e era mãe de três filhas, que presenciaram o assassinato.
Como magistrada, Viviane conhecia o sistema de justiça com mais profundidade do que as centenas de mulheres que procuram diariamente as delegacias de polícia e as varas judiciais com competência para processar casos de violência doméstica. Em tese, por conhecer bem a Justiça e conviver com outros profissionais que atuam na área, ela poderia acessar, inclusive com maior facilidade, os mecanismos disponíveis na rede de atendimento às mulheres em situação de violência para garantir a sua integridade e coagir o agressor.
No entanto, compor os quadros do Poder Judiciário não parece ter sido um fator protetivo para a juíza de direito ou sequer suficiente para que ela procurasse o sistema de justiça e pleiteasse, por exemplo, algum dos tipos de medidas protetivas de urgência, mesmo convivendo com ameaças constantes advindas do ex-companheiro. Ele a matou em 24 de dezembro de 2020, na véspera de Natal.
Pesquisas mostram que a maior parte dos feminicídios são praticados pelo ex-companheiro ou ex-marido. O estudo desenvolvido pelo Núcleo de Gênero do Ministério Público do Estado de São Paulo – que analisou 364 denúncias de casos de feminicídios ocorridos entre os anos de 2016 e 2017 no estado de São Paulo – revela que isso aconteceu em mais de 70% dos casos analisados. Além disso, o relatório mostra que a maioria dos assassinatos ocorreu mediante o uso de arma branca (60%); e em mais de 40% dos casos, o fato aconteceu poucos dias após o rompimento do vínculo conjugal e envolveu filhos e filhas como vítimas secundárias (43%). Como regra, as vítimas diretas não tinham procurado a justiça ou a segurança pública antes: 97% delas não estavam assistidas por medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha e 96% não tinham feito registro criminal contra o agressor.
No que diz respeito à violência doméstica e familiar, de modo geral, a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa DataSenado estima que 27% das mulheres adultas brasileiras já vivenciaram alguma situação de violência doméstica ou familiar praticada por um homem, sendo os tipos mais prevalentes a violência física (68%), a psicológica (61%) e a moral (44%). O marido ou companheiro também aparece como principal agressor (52%), seguido do ex-marido ou ex-companheiro (17%). A maior parte das vítimas vivenciou a primeira agressão com até 19 anos (39%), seguida da faixa etária entre 20 e 29 anos (28%).
Apesar de a violência doméstica ser um problema gravíssimo, especialmente do ponto de vista dos impactos que causa nas condições de vida, saúde e exercício de direitos das mulheres, nem sempre é simples buscar apoio para romper o ciclo de violência (Walker, 2009) . Na pesquisa do DataSenado, dentre as mulheres que responderam ter vivido algum tipo de violência, 21% delas disseram não ter procurado qualquer tipo de ajuda ou serviço. A atitude mais frequentemente tomada pelas mulheres em situação de violência doméstica ou familiar foi procurar a ajuda da família (31%), seguida por registrar ocorrência em delegacia comum (22%), buscar suporte dos amigos (18%) e registrar ocorrência em delegacia da mulher (17%). Aproximadamente 36% delas também disseram ter buscado algum tipo de serviço de saúde em razão da violência sofrida.
As dificuldades enfrentadas pelas mulheres para romperem relações conjugais e familiares violentas e os motivos pelos quais elas deixam de procurar ajuda ou serviços de atendimento têm sido amplamente discutidos na literatura nacional e estrangeira. Parte dessa literatura utiliza-se do termo rotas críticas para se referir ao complexo percurso enfrentado pelas mulheres que tomam essa decisão, marcado por avanços, retrocessos e riscos permanentes de revitimização, por meio de atitudes preconceituosas por parte dos profissionais que deveriam acolhê-las (Sagot, 2000) .
O receio em relação às estigmatizações de profissionais dos serviços ou de familiares e amigos, o medo de retaliação por parte do agressor, a culpa pela violência sofrida, as pressões familiares, a vergonha social e a burocratização excessiva dos serviços de atendimento são alguns dos elementos frequentemente apontados como parte desse percurso. Esses fatores tendem a inibir as mulheres a procurarem ajuda para romper relações violentas (Schraiber et al, 2007; Meneghel et al, 2011; Dutra et al, 2013).
No caso da juíza Viviane, ela já havia confidenciado a algumas amigas mais próximas que a violência doméstica tinha sido um dos motivos para o término de seu vínculo conjugal, bem como demonstrado medo em relação ao ex-marido, mesmo após o rompimento. Em setembro de 2020, Viviane chegou a fazer registro policial de lesão corporal e ameaça contra ele, enquadrado como violência doméstica. O episódio a teria motivado a solicitar escolta ao Tribunal do Rio de Janeiro. Contudo, para preservar a intimidade de sua família, por pena do agressor e por imaginar que o perigo havia passado, ela dispensou a segurança dias depois.
Além dos fatores já identificados pela literatura como parte da rota crítica das mulheres, haveria algum outro tipo de determinante – outros receios ou medos específicos – para que mulheres profissionais do próprio Poder Judiciário não procurassem a justiça quando vivem relações familiares e conjugais violentas? Quais as características da rota crítica que esse grupo de mulheres enfrenta? Quais outros meios de ajuda elas procuram, antes ou ao invés de procurar a justiça? Quando procuram a justiça, qual a experiência ou percepção delas em relação à resposta estatal?
Uma de nossas hipóteses foi que magistradas e servidoras teriam dificuldades em procurar a justiça pela combinação de receios em relação aos pré-julgamentos de familiares ou amigos e amigas e no ambiente profissional que, no caso delas, são os próprios tribunais de justiça. A proximidade delas com tal universo pode ser, na prática, um entrave – e não uma vantagem –, já que elas podem se sentir expostas no local de trabalho. Outra hipótese foi que existiria um tipo de descrença desse grupo de mulheres em relação à proteção que o sistema de justiça pode oferecer, construída com base na própria experiência profissional.
Considerando tais hipóteses, o objetivo desta pesquisa foi levantar os principais fatores associados à decisão de juízas e servidoras do Poder Judiciário que passaram ou passam por situação de violência doméstica e familiar de buscar (ou não) os serviços do sistema de justiça. Como objetivos secundários, buscamos identificar quais outros meios e serviços, além do sistema de justiça, tais grupos acessaram para lidar com a violência, cruzando esses dados com o perfil das respondentes.
A pesquisa foi coordenada pelas acadêmicas Fabiana Severi (FDRP-USP) e Luciana Ramos (FGV Direito SP). Ela foi desenvolvida com apoio de uma equipe formada pelas juízas que elaboraram a proposta inicial do estudo e pesquisadoras vinculadas à FDRP-USP e à FGV Direito SP. As magistradas participaram em todas as etapas da pesquisa: a construção do seu desenho, a preparação do questionário, a coleta de dados e a organização da análise, por meio de reuniões periódicas em que as coordenadoras apresentavam propostas e resultados prévios para discussão. A adaptação do questionário ao formato eletrônico e o tratamento da amostra contaram com a consultoria voluntária do pesquisador José de Jesus Filho e do servidor e técnico da FDRP-USP, Antonio Tadeu Campos Mesquita.
Para a elaboração da pesquisa e do instrumento de coleta de dados, procuramos nos referenciar em estudos que visam compreender as perspectivas e experiências das mulheres em situação de violência para desenvolver políticas e modelos de atendimento de profissionais que atuam em algum dos serviços da rede de acolhimento às mulheres (Dutra, 2005; Santi et al, 2016; Carvalho & Oliveira, 2016; IPEA, 2019). Também seguimos os resultados de pesquisas sobre a percepção dos próprios agentes do sistema de justiça e de outros integrantes dos serviços da rede de enfrentamento à violência doméstica sobre as mulheres usuárias e sobre os serviços prestados (Pasinato, 2015; Saxton et al, 2018).
Assim, apesar do foco nas juízas e servidoras do Poder Judiciário, a pesquisa traz contribuições importantes para os estudos sobre políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres de forma geral. Isso porque questiona alguns estereótipos, que afetam não apenas as juízas e servidoras do Judiciário, mas também impactam outros grupos de mulheres de modo indireto.
Um desses estereótipos seria que mulheres com maior conhecimento sobre seus direitos e acesso à justiça se utilizariam com maior facilidade dos mecanismos judiciais disponíveis e experimentariam menos os fatores de resposta negativa dos serviços de atendimento, comuns a muitos grupos de mulheres na rota crítica para superar a violência. Dentre as participantes da pesquisa, apenas 25% nunca ingressaram na justiça em razão de algum tipo de conflito. Ou seja, são mulheres que atuam profissionalmente no Poder Judiciário e aparentam utilizar os serviços da justiça para lidar com outros tipos de conflitos. Todavia, quando se trata do tema da violência doméstica e familiar, ao menos dentre as respondentes da pesquisa, o percentual daquelas que sofreram algum tipo de violência doméstica e familiar e que procuraram a justiça é bem menor do que o percentual das mulheres entrevistadas da pesquisa feita pelo DataSenado.
Outro estereótipo seria a existência de uma maior consciência sobre a gravidade da violência doméstica e familiar contra as mulheres junto a grupos de mulheres relativamente mais familiarizadas com o tema, ao menos do ponto de vista jurídico. Contudo, como veremos, o fator mais frequentemente citado pelas participantes da pesquisa como motivo para não terem procurado a justiça em face da violência sofrida foi considerarem que a situação vivida não era séria o suficiente. Desse modo, integrar instituições jurídicas e ter conhecimento acerca de regras formais parece entrar em conflito, aqui, com as instituições informais, ou seja, regras sociais tradicionais, que naturalizam esse tipo de violência.
Os dados da presente pesquisa reforçam outras evidências produzidas por diversos estudos sobre o tema, que têm reiterado o caráter estrutural das múltiplas e interseccionais formas de violência contra as mulheres no país e as dificuldades para que mudanças legais – no caso brasileiro, a Lei Maria da Penha – consigam promover transformações sociais significativas sem a implementação adequada por parte dos poderes públicos.
Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
Referências Bibliográficas
CARVALHO, José Raimundo; OLIVEIRA, Victor Hugo. Pesquisa de Condições Socioeconômicas e Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2016
DURAND, Julia Garcia. Gestação e violência: estudo com usuárias de serviços públicos de saúde da Grande São Paulo. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
DUTRA, Maria de Lourdes et al. A configuração da rede social de mulheres em situação de violência doméstica. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 18, n. 5, p. 1293-1304, 2013.
MENEGHEL, Stela Nazareth et al. Rotas críticas de mulheres em situação de violência: depoimentos de mulheres e operadores em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 27, n. 4, p. 743-752, 2011.
PASINATO, Wania. Acesso à justiça e violência doméstica e familiar contra as mulheres: as percepções dos operadores jurídicos e os limites para a aplicação da Lei Maria da Penha. Revista Direito GV, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 407-428, 2015
SAGOT, Montserrat. Ruta crítica de las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar en América Latina: estudios de caso de diez países. Washington: Organização Pan-Americana de Saúde, 2000.
SANTI, Liliane Nascimento et al. Percepção de mulheres em situação de violência sobre o suporte e apoio recebido em seu contexto social. Texto & Contexto Enfermagem, Florianópolis, v. 19, n. 3, p. 417-424, 2010.
SAXTON, Michael et al. Experiences of intimate partner Violence Victims with Police and the Justice in Canada. Journal of Interpersonal Violence, v. 36, n. 3-4, p. 2029-2055, 2018.SCHRAIBER, Lilia Blima et al. Prevalência da violência contra a mulher por parceiro íntimo em regiões do Brasil. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 41, n. 5, p. 797-807, 2007
WALKER, Lenore E. A. The Battered Woman Syndrome. 3ed. New York: Springer Publishing Company, 2009.
Fonte Imagética: Palácio da Justiça de São Paulo/Reprodução. Disponível em < https://www.tjsp.jus.br/Memoria/PalacioJustica/Apresentacao >. Acesso em 04 fev 2025.