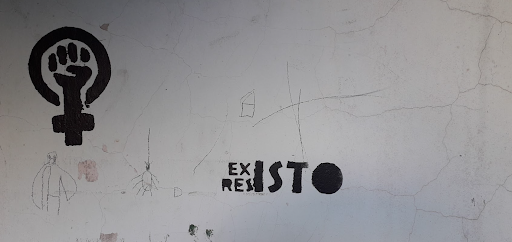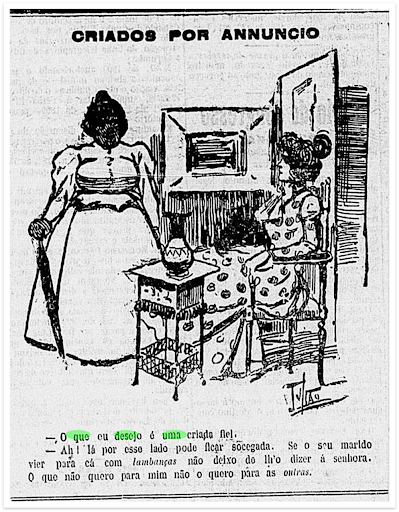Marina Olinda Calori de Lion[1]
23 de abril de 2025
Este texto sintetiza um artigo de mesmo título recentemente publicado na revista Áskesis (UFSCar). Ele pode ser lido aqui.
Em “A questão meridional”, texto escrito por Antonio Gramsci em 1926, pouco tempo antes de ser capturado e preso pelas forças fascistas de Mussolini, o autor propõe uma reflexão sobre as relações de poder na Itália de sua época. A proposta aqui é analisar, a partir do conceito gramsciano de questão meridional, as relações entre as diferentes regiões do Brasil, com foco na região Nordeste e sua histórica relação com o Centro-Sul. Essa análise não será feita de maneira mecanicista, quando o conceito é transportado para a realidade do Brasil de maneira linear, mas sim, considerando as particularidades históricas e sociais que separam a Itália do século XX do Brasil contemporâneo.
A questão meridional em Gramsci
Gramsci parte do pressuposto de que a região Sul da Itália, agrária e rural, era marcada pela pobreza que atingia grande parte da população, além do acentuado atraso econômico devido à baixa industrialização. O Sul contava, ainda, com uma alta taxa de analfabetismo, uma vez que a educação era muito fraca e até mesmo inexistia em algumas partes, o que acarretou em uma migração de intelectuais do Sul para o Norte. Gramsci sabia que essa condição não era natural, por isso observava com olhar crítico e concluía que esses problemas eram causados por uma série de fatores históricos, sociais, culturais e políticos, ou seja, ele partia da análise do movimento da totalidade e das contradições geradas por esse movimento, como a exploração do Sul pela burguesia do Norte, que culminava em relação de dependência, acarretando um “colonialismo interno”.
Entender a questão meridional também contribuiria, segundo ele, para compreender a luta de classes na Itália e, a partir disso, mirava construir uma revolução proletária exitosa em seu país natal. Para Gramsci, só seria possível superar essas diferenças regionais formando uma subjetividade no Sul, uma vez que a problemática regional colocava os camponeses do Sul contra os trabalhadores industriais do Norte e vice-versa. Sua prioridade era compreender o contexto desta lógica para superar essa ruptura entre as classes subalternas, pois sabia que as contradições estavam presentes no processo de consolidação do capitalismo na península Itálica.
Dessa forma, é possível perceber também como Gramsci elaborou sua concepção sobre hegemonia cultural e política, um dos conceitos tidos como mais importantes de toda a obra gramsciana. Para que o Sul se mantivesse subordinado ao Norte, não bastava somente uma dominação econômica, mas também uma concepção de mundo que legitimasse e naturalizasse a posição antagônica entre as regiões, ou seja, formou-se uma ideologia em torno dessa questão, que era aceita sem questionamento pelos trabalhadores do Sul, explorados e submissos ao Norte. Um dos caminhos para romper com a lógica exploratória que sustentava as relações entre as regiões seria uma aliança entre operários fabris e camponeses, formando assim uma frente ampla entre trabalhadores do campo e das fábricas.
Todavia, essa proposta era demasiadamente complexa, já que ambos os grupos sofriam influência da hegemonia burguesa, que resultava na assimilação da noção de que a Itália era uma país atrasado devido ao Sul. Dessa forma, difundia-se a ideia eugenista de que os meridionais eram inferiores biologicamente e isso era a causa do seu atraso, num movimento que naturalizava as diferenças sociais e históricas entre as regiões, eximindo o avanço capitalista de qualquer responsabilidade por essas diferenças. Para a burguesia italiana, a divisão ideológica entre o Norte e o Sul era vantajosa, pois a desunião, e o não sentimento de nação, era uma forma de dominação política e econômica. Em suma, o sentimento de união poderia fazer com que o proletariado do campo e das fábricas se unissem contra seus algozes (Gramsci, 1987).
Se até aqui o esforço foi identificar o debate que Gramsci construiu sobre a questão meridional da Itália do século XX — além de uma questão puramente regional e/ou geográfica, pois ultrapassa essa barreira e se torna uma reflexão política e histórica sobre um conflito que talvez não tenha sido resolvido com o passar dos anos — cabe, neste momento, tratar a respeito das categorias teóricas que o comunista sardo desenvolveu para pensar essa questão. Desse modo, dialoga-se, a partir do prisma gramsciano, com uma problemática que persiste no interior da sociedade brasileira, ou seja, o preconceito contra a região Nordeste do Brasil.
Formação histórica e social da região nordeste brasileira
Para buscarmos compreender uma possível questão meridional no Brasil, é preciso estabelecermos o que se entende por Nação. Segundo Eric Hobsbawm em seu livro “Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade”, o conceito moderno de nação surgiu em fins do século XIX e, mesmo assim, de maneira vaga e abrangente; com o passar do tempo, o conceito se desenvolveu até chegar ao que se define hoje como Estado-nação. O conceito tomou forma no período em que o liberalismo ganhou espaço nas sociedade ocidentais, tendo em vista que o capitalismo contemporâneo estabeleceu fronteiras imaginárias para manter sua hegemonia, tendo sido determinado pelas classes dominantes ocidentais. Esse processo contribuiu, durante o século XX, para a construção dos principais Estados ocidentais, e é aqui que esse conceito se entrelaça com o discurso do que “é” o Nordeste.
Assim como o conceito de nação surge “pelo alto”, ou seja, sem a participação popular e com intuito de manter o status quo do ocidente, o discurso do que “é” o Nordeste brasileiro surgiu a partir de um processo que privilegiou o Centro-Sul brasileiro como centro econômico e político desde, pelo menos, o declínio do ciclo do açúcar. Nesse momento, a região nordestina foi reservada a posição de periferia do Brasil, esquecendo a sua enorme importância para a construção do país, homogeneizando a visão sobre o Nordeste e desconsiderando sua imensa diversidade cultural e social.
A partir daqui, procura-se compreender como se deu a formação histórica do Brasil, mas com foco na região Nordeste, tendo em vista que tratar sobre a formação de um país de dimensões continentais e com determinadas particularidades é demasiado complexo, o que justifica a abordagem, ainda que holística, de uma região específica.
Para Nelson Werneck Sodré, a formação do Brasil foi um processo complexo, no qual os portugueses organizaram grupos mercantis hegemônicos para promover a expansão marítima portuguesa para diferentes partes do mundo. No Brasil, os portugueses implementaram, em termos de sistema econômico e social, resumidamente, uma lógica semifeudal, em particular ao que existia em terras portuguesas, a exemplo das sesmarias, que, mais tarde, se transformaram em capitanias hereditárias. Com o tempo, esse sistema “importado” começou a falhar e, na concepção de Sodré, foi o momento em que se iniciou o retrocesso histórico do país, que “regrediu” ao escravismo. Vale destacar que, para o autor, essa lógica não se reproduz de maneira mecânica na particularidade da colônia, uma vez que ao retroceder para o escravismo, o “novo” sistema que se iniciava era um escravismo colonial explorado pelo grupo mercantil europeu e não o modo de produção escravista como havia existido na Europa durante a antiguidade, portanto, uma antítese do modelo europeu (Sodré, 1962).
A zona escravista se estabeleceu na região Nordeste, área das capitanias hereditárias e sesmarias, cuja principal atividade econômica girava em torno da produção de cana-de-açúcar, produção esta que tinha como destino a Metrópole (Portugal). Mesmo após a abolição da escravidão, as relações de trabalho se mantiveram arcaicas e os agora “homens livres” trabalhavam em troca de moradia e comida com pouca ou nenhuma proteção legal. É nessa relação que o proprietário da terra tinha posse sobre essas pessoas. Nelson Werneck Sodré considera tal ponto semelhante ao estabelecido entre suseranos e vassalos durante o feudalismo europeu, refletindo que houve uma regressão feudal. Em suma, são esses retrocessos que o autor identifica ao longo da história do Brasil que não permitem o pleno avanço tecnológico e industrial do país.
Em resumo, Sodré considerou que a região Nordeste brasileira sofreu exploração e se subdesenvolveu devido à herança colonial e ao modo de produção que ali se estabeleceu. Para ele, diferentemente do feudalismo europeu, em que a produção agrícola era voltada para a subsistência do feudo, a produção na colônia era para fins de exportação e abastecimento de Portugal, o que colocava o Brasil na rota internacional do comércio. Essa lógica condicionou o Nordeste brasileiro a uma relação de dependência que perdura até os dias de hoje.
Tendo isso em mira, há de se refletir sobre a região Nordeste brasileira, a exemplo de aspectos sobre sua formação histórica e social, bem como o papel que exerce no contexto nacional, seu impacto na economia e na política e como a divisão regional do Brasil pode ser também ideológica, causando diferentes tipos de preconceito e dividindo a classe trabalhadora brasileira, tal qual Antonio Gramsci discutiu em A questão meridional, ao tratar sobre as divisões entre Norte e Sul da Itália.
Reflexão sobre a realidade brasileira atual a partir dos prismas de Gramsci
Concomitantemente ao declínio do ciclo do açúcar, que se concretizou no século XIX, o Centro-Sul do Brasil passou a investir na produção cafeeira e por isso, começou a escoar a força de trabalho das pessoas ex-escravizadas. O progresso econômico do Centro-Sul brasileiro exigiu produção de determinadas mercadorias que antes não existiam, justamente para alimentar o mercado interno, que, nessa altura, já caminhava para se solidificar. Para isso, a instalação de fábricas foi imprescindível para a formação do operariado brasileiro, o que acarretou em mudanças significativas nas relações de trabalho, que ditaram o tom da industrialização e do desenvolvimento do Centro-Sul do Brasil (Cruz, 2015).
A consolidação do capitalismo brasileiro aconteceu tardiamente, veio por meio de uma revolução passiva, nos termos gramscianos, ou seja, uma revolução dentro da ordem, liderada por Getúlio Vargas e pela Aliança Liberal em 1930. Nessa altura, o Centro-Sul já estava em fase de industrialização, enquanto o Nordeste já se consolidava como uma região atrasada tecnologicamente com poucos avanços de modernização, resultando em um desenvolvimento desigual das regiões (Santos, 2017).
Foi nesse momento da história brasileira que a configuração político-econômica começou a ganhar a forma que se tem hoje, isto é, Centro-Sul desenvolvido, com alta taxa de concentração populacional e de renda, contra o Nordeste subdesenvolvido. Essas características contribuem, por vezes, para o estímulo à xenofobia e à falta de conhecimento que, em geral, se tem sobre a região Nordeste, acarretando preconceito e segregação social, que perduram no interior da sociedade. Vale destacar que foi somente na década de 1940, por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que surgem os conceitos das cinco regiões brasileiras como existem hoje. Antes disso, o país era dividido somente em Norte e Sul, elaboração estabelecida para fins de divulgação de pesquisas estatísticas (Cruz, 2015).
Nas últimas décadas, o Nordeste vem passando por profundas mudanças, principalmente a partir da década de 2000, com investimentos estatais em infraestrutura e programas de transferência de renda que aquecem a economia local e melhoram a qualidade de vida de sua população. Os investimentos industriais privados e voltados ao mercado regional, bem como os investimentos dos mercados extraregionais apresentam sazonalidade, o que impacta diretamente a renda dos trabalhadores nordestinos bem como a dinâmica social e econômica (Cavalcanti Filho, 2015).
De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que analisou a economia do Nordeste de 2002 a 2020, a região, formada por nove estados, representou cerca de 13% do PIB brasileiro, com uma distribuição bastante concentrada: Bahia, Pernambuco e Ceará juntos representaram mais de 60% do seu crescimento econômico. Os maiores números foram identificados nos setores da agropecuária e de serviços, enquanto a indústria teve um crescimento pequeno em relação às demais regiões do Brasil. Outra informação importante de se destacar é que o PIB do Nordeste é o terceiro maior do país e fica atrás dos PIB’s do Sul e Sudeste (Instituto Brasileiro de Economia, 2023).
Ainda que esses investimentos tenham levado melhorias para a região, eles não romperam com a estrutura social e política que mantém o Nordeste em uma posição periférica dentro do próprio país. Esses números ainda revelam que a região foi praticamente ignorada pelo Estado em determinados períodos de sua história, recebendo uma maior atenção recentemente.
Para as classes dominantes, separar ideologicamente as regiões serve como uma ferramenta poderosa de alienação para a perpetuação de sua hegemonia. O papel dos intelectuais nesse processo é de profunda importância, a exemplo da tese de Albuquerque Júnior sobre a “Invenção do Nordeste”, amplamente criticada por intelectuais nordestinos. Trata-se de uma interpretação de corte foucaultiano em que se sustenta que o Nordeste brasileiro foi “inventado” a partir de discursos. Essa tese homogeneíza a região e não menciona que, na verdade, o Nordeste foi construído a partir da materialidade, tendo sua consolidação, por assim dizer, a partir da integração nacional que proporcionou uma série de problemas devido ao desenvolvimento desigual do capitalismo brasileiro[2].
Considerações finais
A relação de hegemonia e subalternidade das regiões do Brasil, sobretudo quando se trata de Centro-sul “contra” o Nordeste, tem suas raízes históricas, como exposto neste texto, haja vista que a construção do que é o Nordeste do Brasil é multifacetada e complexa. A significativa presença da escravidão, e o processo de desenvolvimento capitalista desproporcional na região, perpetuou as profundas desigualdades socioeconômicas e raciais em relação ao restante do país. A profunda exploração e as sucessivas invasões da era colonial também deixaram marcas que afetaram a população nordestina e, consequentemente, a sociedade brasileira como um todo, até hoje[3].
As categorias teóricas de Gramsci são fundamentais para se entender a luta de classes da periferia do capitalismo bem como a formação do Estado burguês nesses países, que no Brasil é marcada pela falta de participação popular nas lutas por independência, com liderança das elites somada ao processo de formação ideológica com forte participação da intelectualidade burguesa, o que consolida a hegemonia da burguesia agrária e seus interesses em manter a classe subalterna politicamente dividida.
Ainda que progressos importantes tenham acontecido na região nas últimas décadas, persistem as desigualdades sociais e econômicas que impactam diretamente a vida do povo nordestino. Para haver uma superação efetiva dessas desigualdades, é necessário, a curto prazo, um esforço conjunto da sociedade brasileira para vencer alguns preconceitos imediatos e, a longo prazo, essa divisão, que assim como na Itália de Gramsci foi ideológica, só será superada quando a luta pela plena emancipação dos trabalhadores for organizada e posta em prática em sua totalidade.
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
Referências bibliográficas
CAVALCANTI FILHO, Paulo Fernando de Moura Bezerra. A encruzilhada da economia do nordeste: tendências recentes e perspectivas. Revista Economia do Nordeste, Fortaleza, v. 46, n. 2, p. 151-169, jun. 2015. DOI: https://doi.org/10.61673/ren.2015.56. Disponível em: https://www.bnb.gov.br/revista/index.php/ren/article/view/56. Acesso em: 10 mar. 2024.
CRUZ, Luana Honório. Os caminhos do açúcar no Rio Grande do Norte: o papel dos engenhos na formação do território potiguar (século XVII ao início do século XX). 2015. 312 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/20391. Acesso em: 5 mar. 2024.
GRAMSCI, Antonio. A questão meridional. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1987.
INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA. FGV IBRE. Nordeste: monitor do PIB. Rio de Janeiro, 2023. Fundação Getúlio Vargas (Press release). Disponível em: https://portalibre.fgv.br/noticias/analise-do-pib-nordeste. Acesso em: 22 fev. 2024.
SANTOS, Nivalter Aires dos. Questão nordestina: esboço de uma interpretação a partir da questão meridional de Gramsci. MovimentAção, Dourados, v. 4, n. 7, p. 108-130, 2017. DOI: 10.30612/mvt.v4i07.7394. Disponível em: http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/movimentacao. Acesso em: 21 ago. 2024.
SODRÉ, Nelson Werneck. Formação Histórica do Brasil. São Paulo: Editora Brasiliense, 1962.
[1] Bacharela e licenciada em Ciências Sociais pela Unesp, campus de Marília, mestranda na mesma instituição na linha de pesquisa “Determinações do Mundo do Trabalho”. Membra do grupo de pesquisas “Núcleo de Estudos da Ontologia Marxiana” (NEOM), realiza pesquisa sobre a dualidade liberal da UDN, modernização e conservadorismo, sob a orientação do Prof. Dr. Anderson Deo. E-mail: marina.calori@unesp.br
[2] Essa é uma das várias fundamentações da extensa crítica à obra de Durval Muniz Albuquerque Junior.
[3] A questão regional no Brasil não se resume somente a estes fatos, a questão aqui é de ilustrar, na medida do possível, determinadas causas que contribuíram para essa divisão social e ideológica do país.
Referência imagética: Brazil, or trans-atlantic Portugal, publicado por John Luffman, Londres, 1808. Fonte: Disponível em: <http://hdl.loc.gov/loc.gmd/g5400.br000016>.