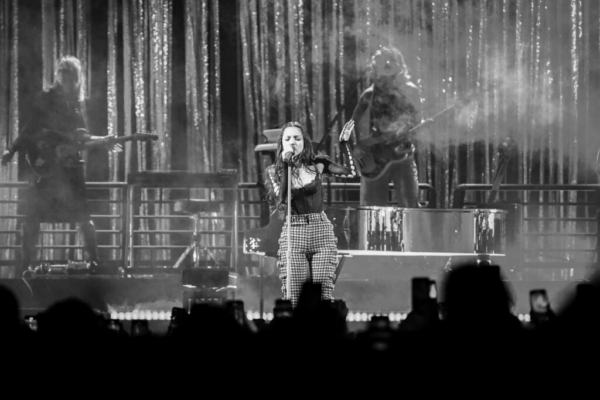***
Esta série especial do Boletim Lua Nova reúne reflexões críticas elaboradas por graduandas, mestrandas e doutorandas selecionadas por meio de edital de monitoria que acompanharam o Colóquio Internacional “Colonialidade, Racialidade, Punição e Reparação nas Américas (Séculos XIX-XXI)”, realizado de 26 a 29 de novembro de 2024, com financiamento do Instituto Beja, no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP). Longe de exercerem funções estritamente logísticas, essas pesquisadoras transformaram o Colóquio em um laboratório de formação acadêmica e política: acompanharam os debates, dialogaram com as/os palestrantes e produziram textos de relato‑reação que combinam descrição empírica e análise conceitual das mesas‑redondas. O texto que a leitora ou o leitor tem em mãos é fruto desse trabalho coletivo.
***
Camila Bernardo de Moura[1]
Ana Cristina Grein Marra[2]
Gessica da Silva[3]
10 de julho de 2025
A Mesa-Redonda “Lutas e resistências à violência do Estado: perspectivas abolicionistas e desencarceradoras” realizou-se em 28 de novembro de 2024, no Auditório Nicolau Sevcenko — Prédio de História e Geografia (FFLCH) — e contou com as presenças de Débora Maria (Movimento Mães de Maio/CAAF/UNIFESP), Andrea Aguirre (Universidad Andina Simón Bolívar, Equador), Lucía Espinoza Nieto (Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, UABC, México) e Miriam Duarte (AMPARAR).
A mesa abordou o surgimento dos movimentos de mulheres/mães em sua luta contra a perda dos filhos, seja pelo encarceramento, seja pela violência estatal — sobretudo a violência policial que vitima jovens negros e periféricos. Embora o movimento das mães e a luta antiprisional sejam distintos, eles passaram a convergir, e muitas mães ativistas engajaram-se também na causa anticárcere.
Lucía Espinoza Nieto abriu o debate contextualizando o sistema prisional mexicano, marcado por um punitivismo incentivado pelo modelo norte-americano de ampliação das prisões preventivas, mesmo para delitos de menor potencial ofensivo. Destacou que as prisões têm se enchido de pessoas criminalizadas por classe social, gênero e etnia — especialmente indígenas — e que muitas instituições são, de fato, governadas pelo crime organizado, fator determinante no país.
As políticas de segurança adotadas pelo governo mexicano, articuladas à “guerra às drogas”, tratam o encarceramento como solução eficaz, investindo pesadamente na construção de muros e em políticas desumanizadoras. Lucía mostrou que, nesse contexto, foi inaugurado o primeiro complexo penitenciário privado do México, evidenciando um projeto estatal que serve à lógica capitalista. Revelou ainda que Carlos Slim — o homem mais rico do país — figura entre os investidores do sistema carcerário, lucrando com a privatização do cárcere e a criminalização dirigida a grupos específicos.
O complexo prisional mencionado por Lucía é exclusivamente feminino e, em seu entendimento, esses espaços funcionam como verdadeiros laboratórios em que o Estado, sob a bandeira da segurança pública, legitima o uso da força por meio do punitivismo. Para a pesquisadora, estudar o sistema carcerário equivale a analisar a situação das mulheres presas, atravessadas por violências de gênero, étnicas e de classe. Essa dinâmica evidencia-se no aumento do encarceramento de mulheres indígenas e em dados que indicam que 39% das mulheres privadas de liberdade no México sofreram algum tipo de violência durante o processo prisional. Lucía destaca, ainda, um traço característico do modelo de cárcere privatizado: o crescimento do número de suicídios entre mulheres presas.
Esses dados têm levado o Estado a abrir as prisões a organizações como as Hermanas en la Sombra, que promovem oficinas de escrita sobre identidade feminina como forma de resistência. Encaminhando-se para a conclusão, Lucía exibiu um vídeo do movimento Hermanas en la Sombra (2022) em que mulheres em situação prisional são convidadas a se expressar por meio da escrita. O objetivo do coletivo não é ensinar essas mulheres a escrever, mas construir uma escrita compartilhada que entrelace histórias historicamente silenciadas por um sistema patriarcal que criminaliza mulheres e as submete à violência. O movimento pretende educar a sociedade — e não as mulheres presas — para que se compreenda que o cárcere é o problema, não a solução. Lucía encerrou convidando Valentina Castro para ler o texto “Eu me vi entre elas”, dedicado às interlocutoras que participam das oficinas.
Na sequência, Andrea Aguirre estruturou sua exposição em três eixos, resultantes de uma reflexão coletiva das Mujeres de Frente, organização popular feminista e antirracista do Equador que reúne mulheres, meninas, meninos e jovens em uma comunidade de cuidado. O espaço busca promover um diálogo latino-americano capaz de contestar visões reacionárias e afirmar a urgência de transformações sociais. Andrea apresentou o caso equatoriano para evidenciar especificidades nacionais e, sobretudo, problemas comuns à região.
Assim como no México e na Colômbia, a chamada guerra às drogas no Equador configura, na prática, uma guerra contra os pobres — autêntica guerra civil marcada pelo terrorismo de Estado, fenômeno também observável no Brasil. Segundo Andrea, a complexidade equatoriana reside no fato de grupos do crime organizado recrutarem jovens e, paradoxalmente, legitimarem a violência estatal. Vinculados ao narcotráfico e a outras atividades ilícitas, esses grupos são compostos por pessoas racializadas que, no discurso oficial, tornam-se “responsáveis pela violência”, permitindo que o Estado se apresente como força benigna. Tal narrativa exime o próprio Estado de responsabilidade na estruturação dessas formas de crime organizado, embora evidências indiquem que agentes estatais e grandes empresários constroem e sustentam essas redes.
O segundo ponto destacado por Andrea é a inutilidade das prisões, que, no contexto equatoriano contemporâneo, podem se converter em ferramentas para sustentar estruturas letais de poder. Ela recorda que, em 2017, durante um governo progressista, inaugurou-se um complexo penitenciário sem precedentes; penitenciárias ultrassecuritárias ampliaram significativamente a capacidade estatal de encarceramento. Os números confirmam esse avanço: enquanto, em 2008, registravam-se cerca de 8.000 pessoas presas em um país de aproximadamente 17 milhões de habitantes, em 2017 o total saltou para 39 000, evidenciando um processo de encarceramento em massa. A combinação entre a construção desse megasistema e a alteração do Código Penal — que passou a punir com prisão delitos de menor gravidade — explica tal crescimento.
Nesse cenário, Andrea interpreta as prisões como novas formas de escravidão e, especificamente no Equador, como um mecanismo de recolonização: jovens recrutados por grupos armados morrem cotidianamente em circunstâncias naturalizadas, convertendo o cárcere não apenas em espaço de exclusão, mas em fonte de trabalho forçado — e, muitas vezes, letal. Ela ressalta, ainda, processos de privatização que, embora menos explícitos do que em países vizinhos, avançam no sistema prisional equatoriano.
O terceiro ponto de sua análise diz respeito à guerra interna: a população encontra-se armada, registra-se expansão das forças militares e policiais, e empresas de segurança privada dominam zonas residenciais. Tal situação se agravou após a legalização do porte de armas para setores de classe média, medida que fomentou o contrabando e a distribuição ilegal de armamentos. Segundo Andrea, trata-se de uma participação estratégica do Estado em uma guerra civil não declarada. Diálogos com coletivos de outros países, como as Hermanas en la Sombra, indicam que esse contexto de mortes extrajudiciais, corpos não identificados e dados ocultados cria condições ideais para a acumulação de capital. A guerra, portanto, não é mero subproduto da neoliberalização, mas instrumento que arma a população, gera lucros expressivos e acompanha a privatização dos setores de energia elétrica, mineração e petróleo. Tais políticas, contudo, também abrem brechas para formas de resistência coletiva.
Andrea conclui enfatizando a necessidade de vigilância sobre essa guerra doméstica como chave para enfrentar os problemas carcerários e raciais. Defende um olhar feminista, pois contextos de conflito reproduzem a violência letal como princípio político, expressão do patriarcado que o feminismo deve contestar. Encerra, assim, sublinhando o papel central dos movimentos de mães e familiares na linha de frente do debate e da luta contra a guerra.
Débora Maria, integrante do Movimento Mães de Maio, iniciou sua intervenção elogiando a realização do Colóquio e destacando sua relevância para o debate sobre a violência de Estado. Ressaltou, ainda, a importância de a mesa ser composta exclusivamente por mulheres e de sua própria presença como ato de resistência.
Ao narrar como a execução de seu filho — dor vivida de forma imediata — impulsionou-a a engajar-se na defesa da vida de milhares de jovens, Débora enfatizou o papel da maternidade na construção da memória e na busca por direitos e dignidade para si e para seus filhos. Lembrou que tanto essas mortes quanto o encarceramento em massa não são fenômenos casuais, mas resultam de projetos patrocinados que servem a interesses coloniais; é o caso da denominada “guerra às drogas” no Brasil, marcada por recortes de cor, classe, gênero e território bem definidos.
A militante destacou o trabalho de mulheres que, privadas do pleno exercício da maternidade, acessam a universidade e articulam teoria e prática — algo possível porque se organizam como sujeitas políticas. Reconheceu esse movimento como gesto descolonizador: adentrar a academia e nela introduzir suas questões mostra que o interesse dessas mulheres pela pesquisa ultrapassa o âmbito estritamente acadêmico. Nas suas palavras: “Não precisamos do currículo Lattes, porque nosso currículo vai ser ‘late’, mas ele vai morder. Ele late e morde”. Débora criticou, assim, o conhecimento circunscrito aos muros universitários, referindo-se às instituições como “monstros” que tentam engolir quem está fora delas, pois foram construídas para servir ao capital. O movimento das mães rompe essa lógica ao assumir a autoria de saberes ancorados na experiência, deixando de ser objeto de investigação para produzir conhecimento próprio.
Em seguida, analisou como a criminalização permeia os territórios em que vivem, de modo que os rótulos não apenas legitimam a execução das vítimas, mas também condenam pessoas pelos corpos que habitam e pelos lugares que ocupam. A tese de Denise Ferreira da Silva ilumina por que a racialidade produz justificativas para o inadmissível:
“Introduz-se uma formulação da violência racial que captura o modo como a racialidade imediatamente justifica a decisão do Estado de matar algumas pessoas — a maioria (mas não apenas) composta de jovens de cor — em nome da autopreservação. Esses extermínios não desencadeiam uma crise ética porque os corpos dessas pessoas e os territórios em que elas habitam quase sempre já significam violência” (SILVA, 2014, p. 69).
A luz deste argumento, Débora afirmou que, mesmo rotuladas como terroristas ou “donas de biqueira”, as mulheres que enfrentam o sistema inevitavelmente são criminalizadas. Concluiu enfatizando que é preciso coragem para enfrentar os estigmas impostos e persistir na busca por justiça.
Débora questiona o fato de que, mesmo sob um governo progressista, o país invista no armamento de agentes penitenciários responsáveis por pessoas em situação de vulnerabilidade. “Qual reparação o nosso país — ou a América Latina — tem a nos oferecer?”, indaga. Para ela, a derrubada “dos colonizadores” constitui o único caminho de reparação e de mudança estrutural. Reitera, assim, a necessidade de uma aliança entre países sob uma lógica comum que rompa com o discurso acadêmico hierarquizante e assegure uma luta horizontal, na qual todas possam reivindicar suas demandas: “Não adianta falar de racismo e reparação enquanto a academia se coloca em posição de superioridade, utilizando as mães, por exemplo, como laboratório”.
Encerrando sua intervenção, Débora observa que ocupar um espaço em que o luto não é permitido — realidade que se estende a outros países latino-americanos — fortalece a organização, a preparação e, sobretudo, a união das mulheres que integram os movimentos de mães. Esse é um dos coletivos mais estruturados do Brasil; seu crescimento expressivo, porém, responde a circunstâncias trágicas. Amparadas por leis e medidas jurídicas, essas mulheres reivindicam e constroem seu próprio espaço, exigindo que o debate passe por elas e seja elaborado com elas.
A rodada de exposições foi concluída por Miriam Duarte, integrante da Associação de Amigos e Familiares de Presos (AMPARAR). O movimento surgiu em 1998, como “Mães da FEBEM”, focalizando o vínculo entre mães e filhos; em 2004, adotou o nome AMPARAR e ampliou seu escopo para atender famílias de vítimas do sistema prisional. A organização reconhece esses familiares como principais produtores de informação sobre as vítimas e seus contextos, além de compreender o impacto do cárcere na vida das famílias, especialmente das mães. Sua atuação pauta-se na valorização da vida e na preservação da integridade física e moral das pessoas atingidas, desde o recebimento das denúncias até o acompanhamento das vítimas, evitando qualquer juízo de valor ou estigmatização
Nesse sentido, Miriam explica que a atuação em rede constitui uma “saída” ao sistema vigente, pois a AMPARAR, ao articular coletivamente familiares e amigos de presos, assume um posicionamento abolicionista ao pensar para além do eixo penal. Para ela, abolicionismo significa garantir educação de qualidade, saúde, moradia e acesso a direitos básicos; implica conceber a segurança pública não como prerrogativa exclusiva das forças armadas do Estado, mas como expressão da seguridade social. Miriam encerrou sua exposição com a exibição do vídeo “Presas por um fio”, produzido pela AMPARAR.
Em síntese, os movimentos de mães que reivindicam justiça diante da morte, prisão ou tortura de seus filhos — como Mães de Maio, Mães de Acari e Mães de Osasco — caminham lado a lado com o combate ao encarceramento em massa, pois o cárcere vitima exatamente o mesmo perfil de pessoas cujo luto essas mulheres tornam público e político: jovens, sobretudo homens negros, pobres e periféricos. Sobre esses coletivos, Vinícius Santiago observa:
“A luta das mães pela responsabilização e pelo reconhecimento do Estado brasileiro pelas mortes de seus filhos as inscreve em um movimento que mobiliza a maternidade como símbolo central para o engajamento político. É sobre os limites e ambivalências da maternidade que as mães mobilizam as condições para catalisar um espaço de aliança e resistência” (SANTIAGO, 2019, p. 1).
Bibliografia:
“Presas por um fio – AMPARAR (Associação de Familiares e Amigos de Presos)” .2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zPVT5lv8H7w. Acesso em: 21 fev. 2025.
Santiago Vianna. Adriana. A maternidade como resistência à violência de Estado . Cad Pagu [Internet].
2019;(55):e195511. Available from: https://doi.org/10.1590/18094449201900550011
Silva, Denise Ferreira da, Ninguém: direito, racialidade e violência , Meritum, Revista de Direito da Universidade FUMEC: Vol. 9, Nº 01 – janeiro/junho 2014
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
[1] Mestranda em Ciência Política IFCH – Unicamp. Graduada em Ciência Política e Sociologia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Pesquisa violência institucional e movimentos de mães que lutam por justiça, reparação e memória. E-mail: c232656@dac.unicamp.br
[2] Bacharela em Direito pela UFMG, Pós-graduada em Poder Legislativo e Democracia no Brasil pela Escola do Parlamento e mestranda em Teoria Social e Ciências Humanas pelo PCHS da UFABC. É pesquisadora de estudos de gênero, sistema prisional, feminismos, maternidade e teoria do cuidado.
[3] graduanda do curso de Letras/ FFLCH – USP. Pesquisadora em treinamento na cátedra Olavo Setubal de Arte,
Cultura e Ciência, perdurante a cátedra da Profª.Dra. escritora Conceição Evaristo, no Instituto de Estudos
Avançados (IEA – USP, 2023). E-mail: gessicadasilva@usp.br