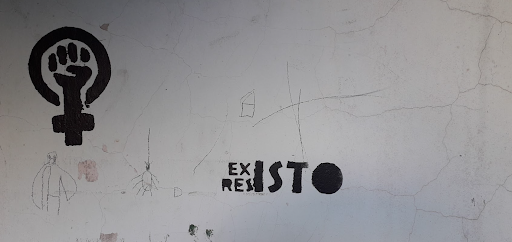Dulcilei da Conceição Lima[1]
22 de setembro de 2025
O texto a seguir corresponde à divulgação do artigo homônimo, publicado pela autora na edição mais recente da revista Civitas, disponível aqui.
Coletivos feministas negros: a geração MNU
O feminismo negro surge por meio dos coletivos de mulheres negras no final dos anos 1970, a partir do processo de abertura política que permitiu a reorganização de movimentos sociais como o sindicalista, o estudantil, o movimento negro e feminista, ganhando efetivamente projeção nacional e identidade própria apenas em 1986 (Lima, 2011; Rios, 2017).
A inserção de mulheres negras nas universidades também colaborou para o nascimento do feminismo negro, uma vez que tais espaços propiciavam tanto as reflexões quanto o engajamento em atividades políticas. Nos espaços acadêmicos, destacavam-se nomes como Matilde Ribeiro, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Thereza Santos e Edna Rolland (Rios, 2017; Brazil e Schumaher 2007).
Inseridas em espaços feministas no contexto da década internacional da mulher, promovida pela ONU entre 1975 e 1985, as ativistas negras expandiram seu campo de ação, abrangendo também as conferências internacionais, o que permitiu a formação de alianças com feministas de várias partes do mundo (Rios, 2017; Brazil e Schumaher 2007).
Ainda nos anos 1980, diante das limitações impostas por homens negros e mulheres brancas dentro das organizações e diante da urgência em pautar os prejuízos decorrentes da intersecção entre racismo e sexismo, as feministas negras optaram por organizar grupos independentes, nos quais poderiam protagonizar a luta antirracista associada à luta feminista. Nascem, dessa forma, os Coletivos de Mulheres Negras. Os coletivos eram células locais que, junto a organizações como as associações de moradores, lidavam com problemas cotidianos enfrentados pelas mulheres negras, como a falta de creches, a insegurança alimentar, a violência contra negros e negras, as dificuldades de acesso ao mercado de trabalho formal, problemas de moradia. Os primeiros coletivos surgiram no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Os coletivos de mulheres negras atuavam localmente, mas também estavam presentes em ações e debates mais amplos dos movimentos negro e feminista. Essa articulação entre ações locais e ampliadas favoreceu a multiplicação de coletivos e a constituição de redes que seriam fundamentais em ações como os preparativos para a conferência de Durban, onde as mulheres negras desempenharam um papel fundamental.
Através desses coletivos, as ativistas negras buscaram estabelecer alianças com os
movimentos negro e feminista, além de sindicatos e partidos políticos.
As mulheres negras desenvolveram linhas de atuação através de fóruns, conferências, encontros, boletins, revistas, jornais e mais recentemente em sites, blogs e redes sociais na internet (Barreto, 2005).
Ao longo dos anos 1990, os movimentos sociais passaram por um forte processo de
institucionalização, muitos dos coletivos de mulheres negras se tornaram ONGs e apoiaram
suas atuações na ajuda financeira de entidades privadas, principalmente as estrangeiras (Rios, 2017).
O ponto alto desse momento foi a articulação das mulheres negras para participar da III Conferência contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobiae Intolerâncias Correlatas que se realizaria em Durban (África do Sul) no ano de 2001. Se valendo da ramificação dos coletivos feministas negros país afora e da articulação com as ONGs que contavam com recursos, reuniões preparatórias e debates foram realizados em
todo o território nacional. A Conferência de Durban marcou a “maturidade e a força do movimento de mulheres negras brasileiras no âmbito internacional” (Rios, 2017; Brazil e Schumaher, 2007, p. 374).
A partir das atividades preparatórias para Durban e como consequência da Conferência, em setembro de 2002, surgiu a Articulação das Organizações de Mulheres Negras Brasileiras – AMNB que promoveu, em novembro de 2015, a I Marcha Nacional das
Os movimentos sociais contemporâneos ou novos ativismos insurgentes
Os anos 1960 e 1970 inauguram os novos movimentos sociais que se caracterizam
pela autonomia em relação às instituições de qualquer tipo, inclusive o Estado. É nesse período que emergiram os movimentos pelos direitos civis nos EUA, os movimentos estudantis, de contracultura e uma nova fase do movimento feminista (Santiago, 2016; Gerbaudo, 2014, Gohn e Bringel 2012). No Brasil, os feminismos, as lutas antirracistas, ambientalistas, indígenas, homoafetivas, ganharam expressividade entre as décadas de 1970-1980 e buscaram alcançar direitos no País em transição para a democracia e em vias de criar uma nova constituição (Gohn, 2017; Perez e Souza 2017).
É neste mesmo contexto que surge o MNU. O Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial (MNUCDR e posteriormente apenas MNU) surgiu em São Paulo em 1978, como protesto contra a discriminação de quatro atletas negros no Clube Regatas Tietê e contra a tortura e assassinato do taxista Robson Silveira da Luz, em uma delegacia de Guaianazes (Albuquerque; Filho, 2006). Seu primeiro ato público ocorreu em 7 de julho de 1978, nos degraus do Teatro Municipal de São Paulo. Com a missão de unificar as organizações negras do país, o MNU realizou, em 1979, o I Congresso Nacional no Rio de Janeiro, que discutiu desde a organização do movimento até pautas amplas como reforma agrária e educacional (Lima, 2011). Entre seus fundadores estavam ativistas negras como Lélia Gonzalez e Neusa Maria Pereira. Diferente de outros momentos da história do movimento negro brasileiro, o MNU já nasceu incorporando pautas das mulheres negras, incluindo planejamento familiar, combate à violência contra a mulher e melhoria das condições de trabalho (Domingues, 2009).
Em autores como Richard Day (2005), Maria da Glória Gohn (2017) e Manuel Castells (2003), os ativismos contemporâneos são caracterizados como movimentos marcados pela horizontalidade, informalidade, espontaneidade, pelo apartidarismo, federalismo, norteados pela descolonização, pela busca de alternativas de organização e pelo uso sistemático das tecnologias de informação e comunicação (TICs), em particular, por meio da internet e das redes sociais em suas ações. Seriam ainda, conforme Day (2005), orientados por afinidades, ou seja, por “relações não universalizantes, não hierárquicas, não coercitivas, baseadas em ajuda mútua e compromissos éticos compartilhados” (Day 2005, pp. 8-9, tradução nossa).
Ilse Scherer-Warren (2006, p. 120) reconhece nos ativismos contemporâneos um conjunto de valores e ações orientadas pela solidariedade e cooperação visando os grupos populacionais “mais excluídos, mais discriminados, mais carentes e mais dominados”. A autora atribui às organizações sociais mais recentes uma mescla de três formas de atuação: produção de conhecimento, ativismo e prestação de serviços.
Castells (2003) e Day (2005) avaliam que esses movimentos se dedicam, na contemporaneidade, à luta por mudanças dos significados atribuídos historicamente a grupos marginalizados e incorporados no cotidiano social como norma. Dessa forma, um dos objetivos que se pretende alcançar por meio do uso das ferramentas da internet por esses ativismos é a mudança de valores que estruturam a sociedade e moldam as instituições: “os movimentos sociais pretendem conquistar poder sobre a mente, não sobre o Estado” (Castells, 2003, 117).
Coletivos feministas negros contemporâneos
Antônio Sérgio Guimarães, Flavia Rios e Edilza Sotero, professores respectivamente da USP, UFF e UFBA, analisaram o fenômeno dos coletivos de estudantes negros, tendo suas universidades como
estudos de caso e as conclusões a que chegaram convergem com as análises empreendidas por autores que estudam os movimentos sociais contemporâneos e com os achados da minha pesquisa.
Guimarães, Rios e Sotero (2020) argumentam que os coletivos de estudantes negros universitários mobilizam estratégias já consolidadas pelo movimento negro e feminismo negro, no entanto, se diferenciam pela horizontalidade, novo repertório de ação, uso sistemático das redes sociais digitais, preferência pela nomenclatura “ativistas” em detrimento de “militantes” (termo mais associado às entidades tradicionais das quais desejam se afastar) e a quebra de hierarquia de gênero, tendo como protagonistas desses coletivos, mulheres, gays ou lésbicas.
Os autores atribuem ainda aos coletivos negros, o empenho de estudantes negros na produção de conhecimento sobre temática racial e destacam a presença desses coletivos nas redes sociais onde compartilham suas proposições e perspectivas extrapolando os muros das universidades (Guimarães et al. 2020).
Reconheço que o feminismo negro das redes sociais compartilha de características atribuídas aos coletivos de estudantes negros e aos movimentos sociais contemporâneos, cujos principais argumentos foram apresentados anteriormente. As principais características
identificadas nos atuais coletivos de feministas negras e que se distinguem dos coletivos de décadas anteriores são a autodefinição como movimento político, mas também intelectual dedicado a desenvolver e disseminar concepções teóricas, métricas de análise, metodologias de pesquisas e epistemologias; o uso das tecnologias; acesso, produção e difusão de conhecimento de forma descentralizada; independência em relação às instituições, grande adesão às pautas LGBTQIAP+, especialmente quanto às demandas de mulheres negras transgênero e travestis; segmentação em dois tipos de feminismo negro nas redes sociais, um feminismo negro liberal ou de consumo associado às influenciadoras e intelectuais midiáticas e um feminismo negro colaborativo orientado pela busca por justiça social, é neste segmento que se encontram os coletivos feministas negros contemporâneos, cujos discursos e ações nas redes sociais são orientados pela premissa da colaboração horizontal em rede.
As plataformas da internet como os blogs e redes sociais foram paulatinamente apropriadas pelos coletivos de movimentos sociais como canais de circulação de informações, mobilização, construção identitária, organização de ações, proposição de conteúdos próprios e distintos das narrativas hegemônicas dos veículos de comunicação tradicionais. As mulheres negras, como tantos outros atores sociais, se inseriram nestas plataformas e têm feito múltiplos usos delas, seja para fomentar redes de empreendimentos econômicos como faz o coletivo Meninas Mahin (Oliveira e Lima, 2020), buscar ou compartilhar conhecimento sobre questões raciais e de gênero, a exemplo da atuação do coletivo Mulheres Negras na biblioteca ou para outras atividades políticas relacionadas às suas demandas como faz o coletivo Mulheres Negras decidem.
Considerações finais
O feminismo negro brasileiro organiza-se em coletivos desde o fim dos anos 1970. A geração MNU marcou presença nacional em associações, sindicatos e partidos, enfrentando questões como trabalho, moradia, creches e alimentação. Apesar do baixo acesso ao ensino superior, produziu intelectuais como Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro. Nos anos 1980 e 1990, os coletivos se multiplicaram, formaram redes e se institucionalizaram, sendo fundamentais para políticas públicas como ações afirmativas e saúde da população negra. As feministas atuais se reconhecem herdeiras dessa geração, embora nem sempre haja diálogo entre elas. Suas pautas retomam agendas anteriores, mas também incluem questões LGBTQIAP+, produção e difusão de conhecimento via redes sociais e serviços como apoio a estudantes e bibliotecas negras. Atuam na produção de saberes, ativismo e prestação de serviços, mantendo características como horizontalidade, informalidade, descolonização, solidariedade e cooperação com grupos vulneráveis. O uso das redes sociais fortalece a sociabilidade, as denúncias e a convocação para mobilizações, articulando luta intelectual e política contra opressões de gênero, raça e classe. Destaca-se ainda o papel das universidades no surgimento de coletivos, embora seja necessário aprofundar a análise sobre sua influência.
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
Referências bibliográficas
Albuquerque, Wlamyra; Filho, Walter Fraga. 2006. Uma história do negro no Brasil.Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação Cultural Palmares.
Barreto, Raquel de Andrade. 2005. Enegrecendo o feminismo ou feminizando a raça: narrativas de libertação em Angela Davis e Lélia Gonzalez. Mestrado em História, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Brazil, Érico Vital, e Schuma Schumacher, orgs. 2007. Mulheres negras do Brasil. Senac Nacional.
Castells, Manuel. 2003. A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Zahar.
Day, Richard. 2005. Gramsci is dead: anarchist currents in the newest social movements. Pluto Press.
Domingues, Petrônio. 2009. Entre Dandaras e Luizas Mahins: mulheres negras e anti-racismo no Brasil. In: PEREIRA, Amaury Mendes; SILVA, Joselina (orgs.). Movimento Negro Brasileiro: escritos sobre os sentidos de democracia e justiça social no Brasil. Belo
Horizonte: Nandyala.
Gerbaudo, Paolo. 2014. The persistence of collectivity in digital protest. Journal Information, Commu-nication & Society 17 (2): 264-268. https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.868504.
Gohn, Maria da Glória e Breno M. Bringel, orgs. 2012. Movimentos Sociais na era global. Petrópolis, RJ: Vozes.
Gohn, Maria da Glória. 2017. Manifestações e Protestos no Brasil: correntes e contracorrentes na atualidade. Cortez.
Guimarães, Antônio Sérgio, Flávia Rios e Edilza Sotero. 2020. Coletivos negros e novas identidades raciais. Novos estudos Cebrap 39 (2): 309-27. https://doi.org/10.25091/s01013300202000020004.
Lima, Dulcilei da Conceição. 2011. Desvendando Luíza Mahin: um mito libertário no cerne
do feminismo negro. Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Oliveira, Taís e Dulcilei C. Lima. 2020. Mulheres e tecnologias de sobrevivência: economia étnica e afro-empreendedorismo. In Comunidades, algoritmos e ativismos digitais: olhares afrodiapóricos, organizado por Tarcízio Silva. LiteraRua.
Perez, Olívia C., e Bruno M. Souza. 2017. Velhos, novos ou novíssimos movimentos sociais? As pautas e práticas dos coletivos. Anais 41º Encontro anual da Anpocs. Anpocs.
Rios, Flavia. 2017. A cidadania imaginada pelas mulheres afro-brasileiras: da ditadura militar à democracia. In 50 anos de feminismo: Argentina, Brasil e Chile, organizado por Eva
Alterman Blay e Lucia Avelar. Edusp.
Santiago, Leonardo Sagrillo. 2016. Os “novíssimos” movimentos sociais e a sociedade em rede: a criminalização das “jornadas de junho” de 2013 e a consolidação de um estado
delinquente. Mestrado em Direito, Universidade Federal de Santa Maria.
Scherer-Warren, Ilse. 2006. Das mobilizações às redes de movimentos sociais. Sociedade e estado 21 (1): 109-30. https://doi.org/10.1590/S0102-69922006000100007
[1] Minibio: Pós-doutoranda em Antropologia Social pela USP. Doutora em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC, mestra em Educação, Arte e História da Cultura pelo Mackenzie e bacharel em História pela USP. E-mail: dulcilima78@gmail.com / linktr.ee/dulcilima78 .
Fonte imagética: Manifestantes marcham por igualdade racial em frente ao viaduto do Chá, no centro de São Paulo. Foto de Jesus Carlos. Disponível em: <https://memorialdademocracia.com.br/card/ato-reorganiza-o-movimento-negro>. Acesso em: 19 ago 2025.