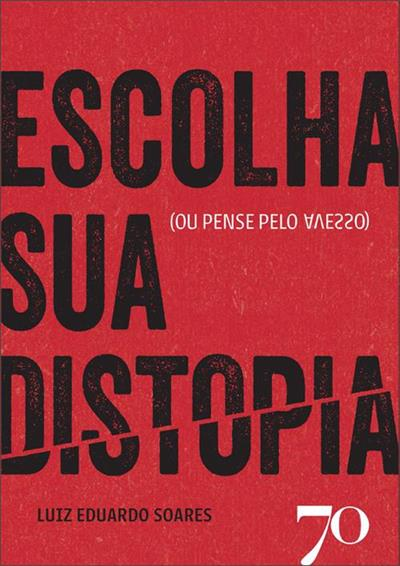André da Silva[1]
Guilherme Cardoso de Moraes[2]
Andréia Fressatti Cardoso[3]
19 de novembro de 2025
No dia 7 de novembro de 2025, enquanto os líderes mundiais chegavam a Belém do Pará para discutir as principais pautas mundiais de justiça climática na COP 30, um evento climático extremo chamou a atenção para a região sul do país. Três tornados atingiram o estado do Paraná, com ventos que chegaram a 330 km/h. Nas cidades de Guarapuava e Turvo, os ventos atingiram os três dígitos de velocidade, mas Rio Bonito do Iguaçu foi a mais atingida: estima-se que 90% da cidade esteja destruída, com 835 pessoas feridas e sete vítimas fatais.
Os pesquisadores que assinam este texto estiveram na cidade no dia 11 de novembro de 2025. Optou-se por não realizar entrevistas em um momento ainda tão próximo da tragédia, considerando que os danos materiais e psicológicos são igualmente profundos. Contudo, nossa observação in loco aponta para a imprevisibilidade do evento e uma dimensão traumática que ultrapassa os limites do que se pode descrever em poucas palavras. Em segundos, casas, comércios, prédios públicos e pessoas desapareceram. Três dias depois, algumas pessoas ainda não sabiam o paradeiro dos materiais que compunham suas moradias, restando apenas o chão.
Mas de que modo a tragédia de Rio Bonito do Iguaçu, a COP30 e a Justiça Climática se relacionam?
Justiça Climática e Populações Vulneráveis
Nos últimos anos, a comunidade científica passou a atribuir às atividades humanas as principais causas das mudanças climáticas, reconhecendo que a ação antrópica se tornou uma força geológica capaz de transformar profundamente os sistemas antes estáveis do período que marcou a relativa estabilidade climática em que se desenvolveu a história humana, conhecido como Holoceno. Essa constatação deu origem ao conceito de Antropoceno, termo que designa uma nova era geológica na qual o impacto humano se inscreve na própria estrutura da Terra, dos solos e dos oceanos à composição da atmosfera (Crutzen e Stoermer, 2000).
A recorrência de eventos climáticos extremos e a associação cada vez mais nítida de suas causas à ação humana colocaram a questão ambiental no centro da agenda política global. É nesse contexto que se insere a COP30, na qual lideranças e autoridades buscam debater estratégias conjuntas para mitigar os efeitos dessas transformações. Em jogo estão fenômenos que ameaçam a base ecológica da vida: a extinção em massa de espécies, a insegurança alimentar global e a intensificação de ondas de calor, de chuvas intensas e de inundações costeiras. No Brasil, espera-se a continuidade de secas severas na Amazônia, como as de 2005, 2010 e 2015, estiagens persistentes no Nordeste e crises hídricas recorrentes no Sudeste (Nobre; Marengo; Soares, 2019).
Trata-se, portanto, de um desafio técnico e político de coordenação global voltado à preservação ambiental e à redução das emissões de CO2. No entanto, a literatura sobre justiça climática acrescenta uma dimensão normativa fundamental: como garantir que as políticas e práticas adotadas sejam não apenas eficazes, mas também justas?
Essa preocupação tem levado autores como Darrel Moellendorf (2022) a formular uma objeção moral à tese da Prioridade da Erradicação da Pobreza Global. Segundo essa visão, os esforços internacionais deveriam concentrar-se na eliminação da pobreza extrema, mesmo que isso implique um aumento temporário das emissões de carbono. A ideia é que o desenvolvimento humano ampliaria, no futuro, a capacidade de adaptação e transição energética dos países mais pobres. Em termos práticos, diante de recursos limitados e de urgências concorrentes, deveríamos priorizar o crescimento econômico imediato, ainda que isso adie algumas respostas à crise climática (Lomborg, 2008).
Moellendorf (2022), entretanto, contesta essa posição. Ele argumenta que há um limite global de emissões que não pode ser ignorado e que a confiança em uma suposta capacidade adaptativa futura é exagerada, sobretudo porque os países em desenvolvimento tendem a ser os mais atingidos pelas mudanças climáticas. O risco, portanto, está distribuído de forma desigual: populações costeiras, comunidades insulares e habitantes de biomas áridos já enfrentam ameaças imediatas, como o avanço do mar e o prolongamento dos períodos de seca.
Dessa forma, o conflito entre justiça climática e justiça social se revela, em grande parte, um falso dilema. De um ponto de vista normativo, a proposta mais defensável é aquela que combina transição energética e proteção aos mais vulneráveis, distribuindo os encargos de mitigação de modo proporcional às capacidades financeiras de cada grupo ou país. Trata-se de uma perspectiva rawlsiana, segundo a qual políticas justas devem ser estruturadas para beneficiar prioritariamente aqueles em posições sociais e econômicas menos favorecidas.
Essa abordagem, contudo, depende de uma identificação prévia de quem são os mais vulneráveis aos eventos climáticos extremos. Em geral, utilizam-se critérios como a localização geográfica (regiões costeiras ou áridas), o nível de desenvolvimento humano ou a exposição a riscos previsíveis. Mas eventos extremos e inesperados, como o tornado que devastou Rio Bonito do Iguaçu (PR), complicam essa lógica. O que acontece quando a vulnerabilidade não pode ser prevista, mas é criada pelo próprio evento climático? Que tipo de justiça se demanda quando o desastre produz novas formas de vulnerabilidade?
Eventos Extremos Imprevisíveis: Rio Bonito do Iguaçu
O que se relata do ocorrido em Rio Bonito do Iguaçu no dia 7 de novembro é a imprevisibilidade e a velocidade com que a cidade foi destruída. Imagens do antes e depois da cidade revelam um grande dano causado em um período muito curto de tempo: os dados divulgados pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar, 2025) indicam a formação do tornado por volta das 18h, com um diâmetro entre 800 m e 1 km.
Rio Bonito do Iguaçu é uma cidade pequena, ao sul do estado. De acordo com o último Censo (2022), sua população era de 13.929 pessoas, escolaridade de 99,56% e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,629. Após um evento de curta duração, estima-se que mais de mil pessoas tenham ficado desabrigadas, muitos perderam todos seus bens materiais. Em entrevista à Agência Estadual de Notícias do Governo do Estado do Paraná (AEN-PR), Romualdo Vovani, morador de uma cidade vizinha, mas cujos pais ainda residiam em Rio Bonito do Iguaçu, indicou a imprevisibilidade do ocorrido: “ninguém estava preparado para algo assim, ninguém tem dinheiro guardado para esse tipo de situação”.
A mesma reportagem relata que houve um aviso da Defesa Civil de Quedas do Iguaçu para risco de tempestades fortes na região, mas não se esperava nada na dimensão de um tornado F3 na escala Fujita:
O estudante Eduardo Henrique Zanotto, 22 anos, não imaginava o tamanho do estrago que seria feito pela chuva, que depois confirmou ser um tornado. “No momento em que começou a destelhar a casa, eu e minha mãe corremos para o banheiro. Meu pai ficou para trás e acabou se abrigando debaixo de uma mesa, e isso foi o que salvou ele. Ele foi arrastado, se machucou todo, cortou a perna, ficou com o braço ferido, com um pedaço de madeira preso”, detalhou o jovem (AEN-PR, 2025).
Algumas das primeiras respostas dos governos federal e estadual foram rápidas: auxílios financeiros à população para a reconstrução de suas casas além do envio da Força Nacional do SUS, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. A população também tem recebido apoio de cidades vizinhas e doações de diferentes partes do país. O Estado já havia enfrentado um tornado em 1997, que destruiu 80% da cidade de Nova Laranjeiras, deixando dois mortos e 76 feridos. Todavia, a força dos ventos em 2025 foi muito superior: em 1997, a velocidade foi de 120 km/h, número quase triplicado no fenômeno dos últimos dias.
Nesse sentido, entendemos que eventos como o ocorrido em Rio Bonito do Iguaçu desafiam as perspectivas de justiça climática em dois sentidos. O primeiro deles é chamar a atenção para eventos extremos que ocorrem pontualmente e com grande potencial de destruição em poucos minutos. O estado do Paraná é o segundo maior corredor global de tornados, atrás apenas dos Estados Unidos. As áreas entre Foz do Iguaçu e Ponta Grossa são descritas como mais propensas por serem regiões planas e com pouca mata. Em que pese a ocorrência passada de vendavais e até tornados na região, o que se observa é um aumento de sua intensidade e uma preocupação de que eles se tornem recorrentes em razão do aumento da temperatura global.
O segundo desafio é pensar a vulnerabilidade diante de tais eventos. Se, por um lado, notamos um justo destaque às populações que já possuem fatores de vulnerabilidade prévios, a exemplo de países em desenvolvimento e populações localizadas em áreas de risco, é inevitável considerar que as mudanças climáticas e eventos extremos imprevisíveis podem gerar um tipo de vulnerabilidade climática, isto é, grupos cuja vulnerabilidade só pode ser identificada e auferida após o evento climático extremo. Do ponto de vista de uma teoria da justiça, pensar em tais cenários segue como uma tarefa fundamental: o Antropoceno cria a vulnerabilidade imprevisível.
O impacto humano do tornado em Rio Bonito do Iguaçu não se limita à destruição material imediata. Muitos dos atingidos já se tornaram, e outros ainda se tornarão, refugiados ambientais (Almulhim et al., 2024), categoria utilizada para designar pessoas forçadas a deixar suas casas, cidades ou países em razão de mudanças ou eventos ambientais que ameaçam sua sobrevivência. Os relatos de deslocamento são abundantes. Famílias inteiras buscaram abrigo em municípios vizinhos, como Laranjeiras do Sul, que se encontra lotada, sem vagas em hotéis ou plataformas de hospedagem temporária. Muitos moradores foram acolhidos por parentes e amigos em outras localidades.
Ainda que haja investimento estatal voltado à reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu, é provável que uma parcela significativa da população não retorne, sobretudo aqueles que não possuíam terreno próprio e dependiam de atividades econômicas locais, comércios e indústrias, hoje devastados. A dificuldade de retomada da economia e do emprego faz com que recomeçar a vida em cidades com infraestrutura preservada pareça uma alternativa mais viável. Soma-se a isso o trauma coletivo e o medo de permanecer em uma região situada em um corredor de massas de ar propenso a novos tornados, o que, além de agravar o sentimento de insegurança, contribui para a desvalorização imobiliária e para o esvaziamento populacional gradual do município.
Em Rio Bonito do Iguaçu, o tornado não destruiu apenas casas, mas também desfez, em minutos, a lógica de vida de uma comunidade inteira. Até as 17h50 daquela sexta-feira, tratava-se de um dia comum: o comércio funcionava, as crianças voltavam da escola, os moradores encerravam a semana de trabalho. Poucos minutos depois, tudo havia acabado. O que se perdeu não foi apenas o espaço físico, mas uma rede de pertencimento, segurança e continuidade construída ao longo de gerações. O evento marcou o fim abrupto de uma normalidade cotidiana e o início de uma existência atravessada pela incerteza, pela memória do desastre e pela necessidade de reconstruir, simultaneamente, o território e o sentido de futuro.
Retomando nossa pergunta inicial: de que modo a tragédia de Rio Bonito do Iguaçu, a COP30 e a Justiça Climática se relacionam? O desastre revela, de forma trágica, que a justiça climática não pode ser pensada apenas em termos de mitigação e prevenção, mas também de reparação e de cuidado com as novas vulnerabilidades que emergem. A COP30, ao discutir metas globais e responsabilidades compartilhadas, precisa reconhecer que cada evento extremo, como o de Rio Bonito do Iguaçu, é também um lembrete concreto de que a desigualdade climática se mede, cada vez mais, em vidas e comunidades despedaçadas.
Referências
ALMULHIM, Abdulaziz I. et al. Climate-induced migration in the Global South: an in-depth analysis. npj Climate Action, v. 3, n. 1, p. 47, 14 jun. 2024.
CRUTZEN, Paul J.; STOERMER, Eugene F. The “Anthropocene”. Global Change Newsletter, n. 41, 2000.
LOMBORG, Bjørn. Cool It: The Skeptical Environmentalist’s Guide to Global Warming. New York: Alfred A. Knopf, 2008.
MOELLENDORF, Darrel. Mobilizing hope: climate change and global poverty. Oxford: Oxford University Press. 2022.
NOBRE, C. A.; MARENGO, J. A.; SOARES, W. R. (Eds.). Climate Change Risks in Brazil. 1. ed. Cham: Springer, 2019.
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
[1] Doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Professor do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá. Coordena o Grupo de Pesquisa Teoria Política, Democracia e Sociedade (TPDS/UEM), é membro do Núcleo de Pesquisa em Participação Política (NUPPOL/UEM) e do Grupo de Estudos em Teoria Política (GETePol/UEL). Pesquisador do INCT-REDEM. E-mail: alsilva3@uem.br
[2] Doutorando em Ciência Política no PPG do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. É pesquisador do Grupo de Estudos em Teoria Política (GETePol/UEL), Grupo de Pesquisa Teoria Política, Democracia e Sociedade (TPDS/ UEM), DesJus/Cebrap e do INCT-INEU. É bolsista de doutorado da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, processo nº 2022/09444-8).
[3] Doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e mestra em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Teoria Política, Democracia e Sociedade (TPDS/ UEM), DesJus/Cebrap, INCT-INEU e do INCT-REDEM. E-mail: afressatticardoso@gmail.com.
Referência imagética: Escombros em Rio Bonito do Iguaçu, 10 de novembro de 2025 (Acervo dos autores).