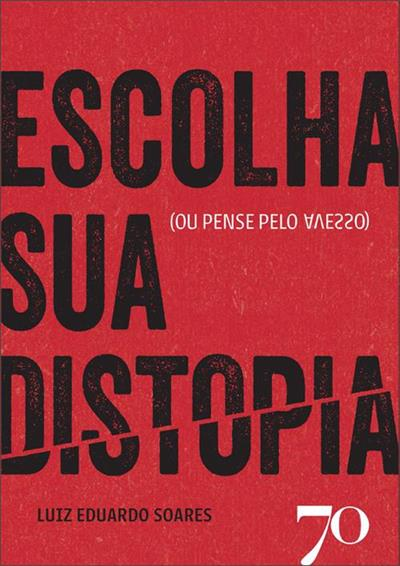Felipe Freller[1]
O Supremo Tribunal Federal (STF) vive dias difíceis em seu relacionamento com os demais poderes e a nação. Em meio a um inquérito polêmico sobre ameaças e fake news contra os ministros da corte, crescem as pressões para a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Lava Toga, sob o clamor de que os guardiões da Constituição devem ser eles próprios vigiados e prestar contas à sociedade. O Brasil revive, assim, um problema clássico do constitucionalismo moderno – quem guarda o guardião da Constituição? –, mas em um contexto especialmente problemático, no qual a corte suprema é taxada de protetora de corruptos por parte considerável da opinião pública e vê a proliferação de iniciativas parlamentares para colocar seus ministros “contra a parede”.
A questão “quem guarda o guardião da Constituição?” é clássica, na medida em que é tão antiga quanto a própria ideia de guardião da Constituição, apresentando-se antes mesmo de haver um consenso de que essa guarda caberia ao Poder Judiciário. Se remontarmos aos debates da Revolução Francesa, a ideia de guardião da Constituição se apresenta de modo claro em 1795, quando se tratava de redigir uma nova carta constitucional que impedisse a volta de uma ditadura como a de Robespierre, derrubada um ano antes. A proposta de um “guardião da Constituição” é apresentada por ninguém mais ninguém menos do que Emmanuel-Joseph Sieyès, o abade que havia lançado o “programa” da Revolução Francesa com seu O que é o Terceiro Estado?, de 1789. “Uma Constituição é um corpo de leis obrigatórias, ou não é nada”, dizia Sieyès, em 1795, aos seus colegas da Convenção Nacional. “Se é um corpo de leis, pergunta-se onde estará o guardião, onde estará a magistratura desse código”. O ex-abade propõe como guardião um corpo político chamado “júri constitucional”, uma assembleia de representantes que teria, entre outros poderes, o de anular os atos dos poderes Legislativo e Executivo sobre os quais recaísse a queixa de violar a Constituição. A proposta causou perplexidade entre os colegas de Sieyès, suscitando uma viva discussão. Por fim, a proposta foi derrubada pela incapacidade dos membros da Convenção de responder à pergunta de Louvet de la Somme: “Se me objetam que é preciso um poder para vigiar de algum modo os outros, e ao qual os cidadãos que se sentirem lesados possam recorrer, eu pergunto de minha parte por quem esse poder será ele próprio vigiado, e a quem poderão ser levadas as queixas contra seus próprios atos”[2].
Nessa época, a democracia política era mais um projeto do que uma experiência já assentada. Ela se consolidou nos séculos XIX e XX, seguindo lógicas institucionais diferentes das debatidas nas assembleias revolucionárias por “filósofos legisladores” como Sieyès ou Louvet, imbuídos de muita visão e pouca experiência prática de suas ideias. Isso não impediu, entretanto, que a figura do “guardião da Constituição”, derrotada em 1795, tenha terminado por se impor nas democracias modernas, sob a forma de cortes constitucionais como o STF, bastante diferentes do “júri constitucional” concebido por Sieyès. Integrando o Poder Judiciário, a natureza, em grande parte técnica, da função das cortes constitucionais contemporâneas – verificar se as leis aprovadas pelo Legislativo estão em conformidade com a norma superior da Constituição – afasta os problemas políticos que se colocavam de modo mais evidente contra o júri constitucional de Sieyès, que aparecia como a aberração de uma assembleia representativa pairando acima das outras assembleias sem nenhum contrapeso.
Segundo Marcel Gauchet (1995), Sieyès e outros atores da Revolução Francesa que buscaram um poder para supervisionar o Legislativo e o Executivo intuíam uma necessidade real da democracia moderna, embora tivessem dificuldade de expressar essa necessidade de modo adequado: “É preciso que a apreensão última do corpo político sobre si mesmo seja simbolicamente assegurada por um mecanismo que garanta que os poderes delegados não escapem ao controle da potência delegante” (GAUCHET, 1995, p. 273; tradução minha). Para o autor, a corte constitucional moderna realiza essa necessidade de modo menos controverso. Ela estabilizou, nas democracias contemporâneas, essa necessidade de “dar figura a esse além ou esse acima das autoridades constituídas, em relação ao qual a soberania de todos se verifica” (Ibid, p. 274).
No entanto, a questão de “quem guarda o guardião” continua pairando sobre as democracias contemporâneas, e não apenas o Brasil, sem nunca poder ser plenamente respondida. Ela é apenas acomodada em arranjos políticos e constitucionais que gozam de maior ou menor estabilidade e aceitação social, conforme o contexto histórico. Trata-se de um problema real, o qual atravessa toda a história da democracia moderna.
Se o problema geral da “guarda do guardião” é real e atravessa toda a história da democracia moderna, como ele se apresenta no Brasil atual? O STF se encontra em uma posição delicada porque, já há alguns anos, essa função de figurar um ponto acima das autoridades constituídas por meio do qual o povo pode exercer um controle sobre seus representantes lhe vem sendo disputada. Há muito tempo, a nação brasileira vive um sentimento de divórcio com seus representantes, especialmente com o Congresso Nacional. Esse divórcio se torna explícito nas manifestações de junho de 2013, as quais rapidamente tornaram a classe política o alvo direto da raiva difusa expressa nas ruas. Quando esse divórcio entre o povo e seus representantes se escancara, torna-se mais necessária do que nunca uma instância por meio da qual o povo possa ter uma sensação de controle sobre seus representantes realizado por cima, de modo a vivenciar uma reapreensão da comunidade sobre si mesma. Ora, quem se aventurou nessa seara não foi o STF, mas a Operação Lava Jato.
À medida que foi realizando o que até então parecia impossível – colocar na cadeia poderosos da política e do empresariado –, a Lava Jato foi se construindo como a referência popular da possibilidade de realizar, enfim, o almejado controle sobre os representantes que pareciam fora de controle. Todavia, não se tratava do controle sereno exercido por um órgão encarregado de verificar a fidelidade das leis do momento às aspirações de longo prazo do povo expressas em sua Constituição, como deveriam fazer as cortes constitucionais. Pelo contrário, a Lava Jato operou por meio de intervenções violentas e caóticas sobre o jogo político, virando tudo de pernas para o ar com o objetivo de fazer da classe política uma tábula rasa. Em certo momento, os três poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – se viram obrigados a dançar conforme sua música, ou seja, de modo descoordenado e esquizofrênico. Na classe política, os atores foram carregados pelo tsunami da Lava Jato sem conseguir controlá-lo, tentando apenas se beneficiar quando os atingidos eram os adversários e se proteger quando a onda se voltava contra eles. Assim, tucanos e peemedebistas surfaram na onda da Lava Jato à medida que ela erodia o governo Dilma Rousseff e apeava o PT do poder, passando para a defensiva quando nomes de seus partidos começaram a ser alvo da operação e esta fragilizou também o governo de Michel Temer (PMDB). Inversamente, boa parte da esquerda satanizou a Lava Jato quando se tornou claro que um de seus objetivos era a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas aplaudiu quando Eduardo Cunha (PMDB) foi cassado e preso e Aécio Neves (PSDB) desmascarado como corrupto, alegando que as provas contra os adversários eram maiores. A reação à recente prisão de Temer parece ter sido menos efusiva, sugerindo a leitura de que os atores de Curitiba estão sendo tratados como mais temíveis do que os adversários recentes de Brasília.
O que é mais grave, o STF foi levado pelo mesmo tsunami. Sendo obrigado a se pronunciar sobre acontecimentos cuja iniciativa provinha de Curitiba, o tribunal sempre precisou correr atabalhoadamente atrás da Lava Jato, sem conseguir dominar a situação, nem sequer estabelecer uma linha de ação coerente. Suas divisões se aprofundaram a tal ponto que a imagem de um órgão de supervisão sobre os outros poderes se esfacelou, sobrando ministros individuais que tentam surfar ou se proteger da Lava Jato de modo análogo aos políticos. Assim, Gilmar Mendes usou e abusou das inventivas da Lava Jato contra o PT para dar prosseguimento à ação do PSDB no TSE contra a chapa vencedora da eleição presidencial de 2014 e, desse modo, pressionar o governo Dilma, mas se tornou o líder da coalizão anti-Lava Jato quando a turma de Curitiba se tornou incômoda para seus amigos tucanos e peemedebistas no poder. Outros, como Luís Roberto Barroso, Luiz Fux e Luiz Edson Fachin, fizeram da defesa da Lava Jato um palanque político. Há ainda os ministros cujos votos se tornaram objeto de especulação em cada decisão sobre a Lava Jato (por exemplo, Rosa Weber e Carmen Lúcia), contribuindo para tornar essas decisões do STF imprevisíveis.
As intervenções dos ministros do STF sobre o jogo político conturbado pela Lava Jato, muitas vezes em caráter individual mais do que colegiado, tornaram o cenário ainda mais caótico. Ora era um presidente da Câmara dos Deputados afastado em momento controverso, ora um presidente do Senado afastado sobre o qual se volta atrás, ou um senador que o STF impede que se afaste, sem falar em alterações sobressaltadas sobre as regras de financiamento eleitoral ou de cumprimento de pena – decisões marcadas sempre por alta controvérsia interna e vaivéns sem fim, instaurando a insegurança jurídica e tornando a política refém de decisões arbitrárias e casuísticas. A credibilidade do STF se desgastou a ponto de nem todas as suas decisões passarem a ser respeitadas. Ainda mais grave, atores políticos passaram a se sentir legitimados a intimidar publicamente o tribunal de modo incompatível com uma democracia constitucional. Às vésperas do julgamento do habeas corpus de Lula, um comandante do Exército se sentiu autorizado a utilizar sua conta pessoal no Twitter como meio de pressão sobre a corte, revivendo as décadas em que foi o Exército, não o Judiciário, o verdadeiro Poder Moderador. Por fim, venceu a eleição um grupo político que pensa poder fechar o STF com “um soldado e um cabo”.
Ao nomear Sergio Moro ministro da Justiça, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) tentou passar a mensagem de que agora é a Lava Jato que está no poder. À medida que o STF decaiu perante a opinião pública, a Lava Jato se tornou a grande referência popular para a necessidade democrática de controlar os representantes fora de controle. Mais do que isso, tenta-se agora popularizar o modelo da Lava Jato como forma de resolver todos os problemas do país. A única bandeira apresentada até o momento para a Educação é a “Lava Jato da Educação” – como se não houvesse serviços públicos como a escola a melhorar, apenas corruptos e “doutrinadores” a prender. Analogamente, para o problema real da guarda do guardião da Constituição, a primeira coisa que vem à mente é uma… Lava Toga.
Porém, se o problema de quem guarda o guardião da Constituição é real e histórico, sua solução pela fórmula punitiva e desestabilizadora da Lava Jato é pura demagogia. Se é evidente que o STF vive uma crise de legitimidade, a tarefa urgente é restaurar sua credibilidade como corpo guardião da Constituição, o qual será mais do que nunca necessário para fiscalizar os poderes Executivo e Legislativo recém-empossados e os impedir de violar direitos civis, políticos e sociais básicos assegurados na Carta de 1988 (sem entravar esses poderes nas ações que não ferem a Constituição). Discutir meios para manter os guardiões da Constituição sob controle é perfeitamente legítimo. Mais do que isso, essa questão é indissociável da democracia moderna e nunca será plenamente respondida, como procuramos mostrar. Contudo, o modelo “Lava Jato”, que já causou tanto dano ao mundo político e jurídico brasileiro, contribuindo para o esgarçamento da credibilidade do STF, causará ainda mais danos se for aplicado diretamente à corte constitucional.
[1] Doutorando em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP) e na mention “Études Politiques” da École des Hautes Études en Sciences Sociales/Centre d’Études Sociologiques et Politiques Raymond Aron (EHESS/CESPRA).
[2] Todo o debate da Convenção referente à Constituição de 1795 se encontra transcrito em TROPER, 2006.
Referências bibliográficas:
GAUCHET, Marcel. La Révolution des pouvoirs: La souveraineté, le peuple et la représentation. Paris: Gallimard, 1995.
TROPER, Michel. Terminer la Révolution: La Constitution de 1795. Paris: Fayard, 2006.
Referência imagética:
Site do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392162 (Acesso em 25 mar. 2019)