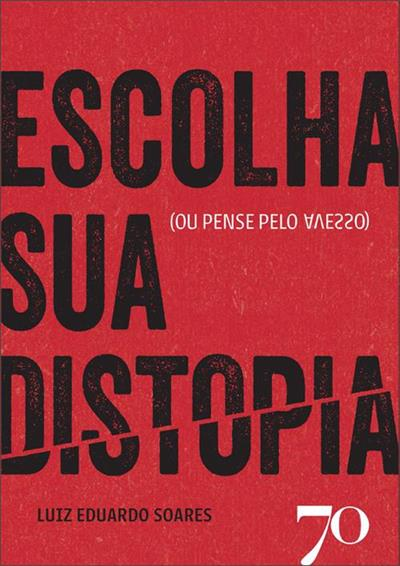3 de setembro de 2018
Álvaro Okura[1] e Leonardo Octavio Belinelli de Brito[2]
BLN: No período havia a Presença, que também articulava a ideia de Cultura e Política e não se enquadrava na imprensa alternativa, não é?
GC: Isso, a Presença também não. Com a Presença eu tenho certa afinidade. A orientação dela era essa mesma. A revista Versos, que é um pouco do que você falou, a imprensa alternativa, tem muito a ver com isso. Não sei se caiu em mãos de vocês ou alguma coisa. Tem até um livro que reúne o material dessa publicação. Ela não foi modelo. Se a gente fosse examinar a Lua Nova e sua trajetória, você poderia fazer um confronto com essas publicações, que eram realmente diferentes. Eu diria que essas eram simpaticamente moleques e altamente sofisticadas, como a Almanaque. Isso não teve influência sobre o CEDEC e a Lua Nova. Teve influência sobre a Folha [de São Paulo], o Folhetim, pois essas coisas absorveram muito disso. Nesse ponto, o CEDEC era mais sisudo, dizia-se: “Não, não estamos aqui para brincadeira. Nós estamos querendo é que o grande debate ganhe consistência, não fique um pouco perdido”. Eu até desconfio que atualmente ele está muito perdidão. Vocês têm que fazer uma campanha forte para o pessoal por aí ler mais Lua Nova, viu? Porque está meio perdidão. Por causa até da dinâmica no momento muito perversa das redes. Contam que as músicas hoje não podem ter nada de novo que dure mais do que 1 minuto, depois tem que ser a repetição porque ninguém acompanha mais do que 1 minuto e por aí vai. Você já imaginou a Lua Nova de minuto? Eu tinha sugerido na época um título alternativo, mas o Conselho Editorial muito autoritariamente [risos] não permitiu, que era Eclipse.
BLN: Um título premonitório, porque hoje…
GC: Pior, quem poderia imaginar? Não, é claro que se você pensar no que era a atmosfera e o debate no período da chamada redemocratização é impensável o cenário atual. Aquele momento não foi uma coisa fácil porque havia um nível quase patológico de politização do cotidiano. Então, tudo era medido se era democrático ou não. E é óbvio que o meu era democrático e o do outro não era, por isso era um horror em vários aspectos. Eu, pessoalmente, tive chance de sentir isso muito de perto na época. Mas o fato é que o contraste é espantoso. Se pensar em uma época em que você está jogando todas as suas aspirações e esperanças para frente, dizendo “Ah! Nós vamos conseguir, nós vamos transformar essa droga aqui numa sociedade democrática, vibrante” e, de repente, você vê o Temer. Quem é que poderia pensar? Temer? Era inconcebível. Saímos do autoritarismo, não teremos mais, não vai ter segunda rodada de regime autoritário, agora é construir a democracia e vamos em frente. Era impensável. Então, isso marca um pouco a revista também. O nome nesse sentido era premonitório, não é? Essa revista é marcada pela ideia de que vamos avançar, construir, dar fundamentos, ajudar a refletir sobre o que estamos fazendo.
BLN: O senhor deu a sugestão de Eclipse por alguma uma razão particular?
GC: Isso era muito ligado às brincadeiras que corriam o tempo todo. A redação da Lua Nova era muito “piradinha”. Houve a tal história de que o – e isso é verdade, nunca foi refutado, isso é um dos meus orgulhos, nunca foi refutado – que o Amartya Sen só ganhou o Prêmio Nobel depois de ter publicado em Lua Nova. Nós proclamamos isso na revista.
BLN: Já que mencionou a questão do Conselho, que era bem-humorado, qual foi o principal desafio que o senhor e a equipe editorial enfrentaram na época?
GC: Bom, na realidade os desafios mesmos nem eram de ordem editorial ou intelectual, eram de ordem material. O CEDEC dos anos 1990, exatamente no período que estive com maior presença lá, passou por dificuldades imensas. O CEDEC tinha muito apoio de agências, inclusive internacionais, como a Fundação Ford, entre outras. Não porque morressem de acesso democrático, mas simplesmente porque era conveniente na época. Se bem que isso coincidiu em alguns momentos, no caso americano, com o absoluto anti-Trump que era o presidente [Jimmy] Carter. Carter era realmente uma figura excepcional, totalmente diferente, um ponto fora da curva. E isso deu muita força a esses apoios, às entidades que trabalhavam pela abertura dos regimes em vários lugares. Então, houve esse momento. Depois que a coisa começou a se normalizar, que avançou a chamada transição, a redemocratização e que, aparentemente, as coisas estavam sendo resolvidas, o pessoal resolveu investir em outras instituições. Internamente também o ambiente era muito ruim para qualquer apoio. É curioso, pois o Brasil tem isso. Se você quer apoio para uma iniciativa de caráter cultural, aqui dentro vai ser mais difícil conseguir do que em Bangladesh ou lá na China. Comigo mesmo, em minha atividade, longe de ganhar uma nota, muitas vezes coloquei a mão no bolso para resolver esse ou aquele problema. Isso era normal na época, todo mundo fazia. Os defeitos mesmo eram de manter o bichinho vivo, de conseguir custos razoáveis de produção. A produção editorial era feita pelos editores, não havia revisores, não tinha coisa nenhuma. Era algo muito louco. Eu fui duramente criticado por colegas e, até em alguns momentos, quase que motivo de gozação. Gozação amistosa por fazer esse tipo de coisa, de pegar e ficar não só revendo, como editando, muitas vezes reescrevendo enormes passagens de artigos. Eu tinha um colega no CEDEC que dizia: “Eu não me preocupo com essa coisa de redação quando eu escrevo. Eu sei que quando passa o artigo aí, alguém vai reescrever para mim”. E o pior era que acontecia isso. Você não podia publicar do jeito que estava.
Aliás, aqui posso introduzir uma coisa que vocês perguntavam sobre o perfil dos autores. Atualmente, tudo está muito mais organizado, pois a Lua Nova se profissionalizou nos anos recentes. Na minha época era a pura e simples avacalhação porque não era uma organização profissional, de alto padrão. Jamais alguém imaginaria que pudesse haver qualquer estímulo externo a participar da edição da revista. Não era nem sequer por prestígio, muito menos por dinheiro, que se podia fazer alguma coisa lá dentro. Até o contrário. Mas isso que eu dizia, de ser duramente criticado por isso, é porque as pessoas entendiam ser o absurdo da coisa. Inclusive, um colega dentro do CEDEC dizia: “Puxa vida, você tem que só dar a orientação básica. O resto tem que ser feito por outros. Você não pode ficar se metendo em todas as etapas”. Acontece que se eu não me metesse, quem é que ia se meter? E além do mais, eu gostava de acompanhar todas as etapas. Mas isso não é um padrão adequado e também não convida ao que chamei de profissionalização, de consolidação institucional. Isso porque não foram criados com o devido cuidado, pelo menos na minha época, os mecanismos de chamadas públicas de artigos, por exemplo. Podia-se convidar colegas para escrever e também ajudá-los, tudo informalmente. O que não significa que fosse só o CEDEC. A gente se preocupou com o fato de estar indexado, porque se não estivesse isso significava a morte mesmo. Mas isso que depois se consolidou, que no meu entender é um horror absoluto, essa qualificação, esse Qualis. Esse horror espantoso não existia e muito menos estava no nosso horizonte. Então, isso nos dava mais latitude de ação. Não ficávamos nos preocupando com isso. Ao mesmo tempo, tenho que reconhecer que isso dava um certo ar diletante, quase amador, ao modo do fazer. Quer dizer, não era aquela coisa organizada ou muito bem calculada.
BLN: Mas nesse tempo também não tinha nenhuma outra revista com esse padrão de institucionalização e profissionalização na área das Ciências Sociais.
GC: É, nisso você tem razão. Se você olha a Novos Estudos, ela era e sempre foi, explicitamente, uma house organ, uma revista da instituição. A Novos Estudos é do CEBRAP, então respondia às exigências internas e nunca se importou com exigências externas – ou na verdade se importou em alguma medida, porque está no Qualis. Esse atual Qualis é gozadíssimo. A Lua Nova, me disseram, era A1 na área do Direito, sabe por que? Porque a gente se preocupa com direitos. Mas eram os direitos do cidadão, não tecnicamente a área do Direito. Se um advogado quiser publicar um belo artigo sobre tal coisa do Direito Penal, ele pode trazer. Quer dizer, não tem pé nem cabeça. Agora, isso foi uma mudança radical e provavelmente os atuais editores tenham, por um lado, menor latitude de ação, mas por outro, maiores condições organizacionais para que, com muito mais facilidade, abram chamadas para artigos – tem mil veículos e formas de fazer isso agora –, e convidem colegas para editar. Outro dia eu encontrei o Iram [Jácome Rodrigues], um colega que trabalha com Sociologia do Trabalho, e ele disse “Ah! Eu estou preparando um número especial da Lua Nova, sobre a coisa do trabalho”. Então, isso faz sentido, é uma atuação normal. Mas não era sistemático. A Lua Nova mudou muito quanto à organização do trabalho, quanto às condições materiais de manutenção. Na época em que eu estava mais ativo, um recurso federal era a coisa mais difícil. Não havia nenhum tostão. A pobre da Amélia [Cohn] tinha que lutar como uma leoa para o bicho se manter. E isso pesou também. E, talvez, tenham contribuído também as pressões sobre os pesquisadores, que aumentaram por causa dessa normatização crescente do trabalho e das bolsas. O resultado é que a efervescência, de algum momento anterior, certamente não existe mais. Não sei como é que está agora, mas deve ter secado de novo, porque agora secou tudo.
Eu diria que Lua Nova é uma publicação consolidada, que encontrou o seu caminho, o seu espaço dentro do debate e das publicações, porque as outras têm um caráter mais marcadamente acadêmico, como a revista da Anpocs, a Dados, e a revista da ABCP. Nesse sentido, Lua Nova fez bem em manter o seu perfil. Ela compõe um determinado aspecto do nosso cenário, da nossa dinâmica política e cultural, que outros não cobrem. Tenho a impressão que não cobrem. Então, valeu manter o bichinho andando. Agora, é claro, numa fase mais tormentosa.
BLN: Como o senhor vê a possibilidade de uma revista do tipo da Lua Nova nesse cenário de normatização da vida acadêmica e política?
GC: Olha, eu estou falando da maneira mais irresponsável porque não estou lá dentro. No entanto, talvez se pudesse levantar que, exatamente porque tudo está cada vez mais regulamentado, normatizado, especializado, talvez fosse o caso de uma pequena inflexão da revista no sentido de torná-la, digamos, mais leve. Claro que a ideia do Boletim é suprir esse espaço, mas não é suficiente. Quer dizer, a própria revista talvez pudesse pensar formas de se distanciar um pouquinho dessa coisa muito careta que tomou conta das publicações. Vocês levantavam antes a continuidade do que era a imprensa alternativa nos anos 1970, por aí, em publicações que tinham uma marca mais irreverente. Lua Nova, para dizer o mínimo, é uma revista com muito pouco humor. Não sei se a época em que estamos entrando não requer uma forma um pouquinho mais leve de chamar a atenção para a necessidade do diálogo ganhar profundidade e densidade porque, se não, pode haver um momento em que a gente não se distinga. Pode haver o risco, que no meu entender é um risco que deve ser evitado de qualquer modo, de não se distinguir do resto. Porque todo esse esforço imposto institucionalmente, por CAPES e companhia, isso daí leva a uma brutal homogeneização, que é um negócio horrível. Deixando de lado, é claro, a injustiça monstruosa que se faz a muita coisa interessante que se publica nesse país em revistas que não são lidas e não são procuradas porque não dão pontos. Você vive em um universo em que faz trabalho intelectual para ter pontos! Imagina se isso fosse dito na primeira etapa de Lua Nova: que alguém fosse escrever sobre um tema para ter pontuação! Os caras iam morrer de rir! “Não, eu estou escrevendo porque eu quero entrar quero dar minha voz no debate”. Então, o risco, no meu entender, que Lua Nova corre não é a de ficar para trás, de ficar soterrada, de ser esquecida, pois ela já se consolidou. Mas o risco é de ficar mais do mesmo. E mesmo na época em que o Álvaro e eu estivemos lá, a nossa aposta era que trabalhando daquele jeito que nós trabalhávamos, nós nos distinguíamos do restante das eventuais publicações, tanto as que já existiam quanto as que fossem criadas, porque elas tenderiam a um perfil totalmente focado em um partido ou mesmo em uma escola ou seriam padronizadas. Então, nós achamos que esse perfil era legal. Eu desconfio, realmente, que agora a aposta começa a se tornar outra. “Agora”, eu estou usando a expressão de uma maneira muito enfática, porque até há quatro anos atrás você não precisava colocar isso nesses termos que estou colocando. Havia respiros dentro da nossa dinâmica política e cultural. Mas a partir de 2014, 2015 e 2016, o sufoco é completo. Então, será que a gente não tem que trabalhar mais como um camundonguinho que procura seus espaços? Eu nem saberia que formato teria, mas se eu estivesse lá ainda discutindo isso, tentaria estimular um debate interno sobre como é que pode mudar um pouquinho. Como é que pode não cair na horrível tentação de rotinizar? Como fazer isso, por que ângulo sair? Que tipo de autores?
Por falar no tipo de autor, é bom lembrar que isso deve ser uma marca que tenho certeza que se mantém, uma tendência que a gente procurava imprimir na época, que era dar, na medida do possível, espaço para jovens pesquisadores que estavam começando. Muitos daqueles artigos de pesquisa são artigos de gente que estava entrando no debate. Lua Nova, nesse sentido, foi beneficiada pela alta qualidade do pessoal que passou no CEDEC. Era um pessoal que de repente publicava um artigo e pensávamos “puxa, esse garoto é bom, vamos dar uma força”. Depois se descobria que logo ele não precisava mais de força nenhuma porque estava se projetando, fazendo em cima daquele artigo um livro que tinha boa recepção. Muitas vezes dava certo isso, mas a ideia era, sempre que possível…
BLN: Semear.
GC: …empurrar para frente. Semear, um pouco isso. A ideia de você só pegar os cardeais, o Butantã, nunca foi atraente, embora muitas vezes caía nisso. Escapava-se disso por pouco, por acidente. Me lembro de uma ocasião em que entramos em contato com o Wanderley Guilherme [dos Santos]: “Wanderley, você tem alguma coisa aí que possa mandar para gente?” – era a questão do debate sobre os partidos, uma coisa assim. E ele: “Olha, eu vou fazer outra coisa: vou te indicar dois moços que estão trabalhando comigo e eles poderão fazer”. Daí a gente publicou coisas desses moços e deu certo, um deles era o Jairo Nicolau, que virou uma figuraça. Então, o Wanderley teve uma intuição boa. Nesse eu não vou falar a mesma coisa que disse sobre Amartya Sem, mas enfim… [risos]. Isso de publicar autores jovens era uma marca. Também não sei quais são as condições atuais para isso, mas acredito que um jovem doutorando que tenha chance de publicar um artigo numa dessas revistas mais fortes, arranca com força na carreira. Logo depois que se defende a tese, há uma importante pressão sobre isso. Mas vejam que aí está uma diferença: não pode ser tudo por pressão externa. E o que aconteceu, e isso afeta Lua Nova, assim como o conjunto de nossa vida política, cultural e as instituições, é que a tendência é trabalhar sob pressão externa e não pelo espontâneo. Estava lendo outro dia um artigo de um dos fundadores do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, Abraham Flexner. Ele foi o presidente do Instituto durante muito tempo e era um educador importante. O lema dele era o seguinte: o trabalho científico é movido por curiosidade, por inquietação intelectual. Então, nada de conversa mole, o que o cientista tem que fazer é ser curioso, espontâneo, aberto para o mundo e não ligar a mínima para a aplicação possível do conhecimento que vá produzir. Com isso é que se produz coisa que preste, essas são as que ficam marcadas. O restante é aplicação técnica, que é importante, evidentemente, mas não é propriamente conhecimento. Nós estamos, na nossa pátria, matando isso. Matando! Chegam as instituições e cercam o coitado do pesquisador: “Ah, tem que ser isso!” ou “agora tal tema está dando financiamento, o outro tema não dá financiamento”. Meu Deus do céu, que monstruosidade estamos construindo? O que o pessoal faz? Vai tentar as coisas mais promissoras. Mas isso tem alguma coisa a ver com a dinâmica da tua inquietação intelectual? Muito pouco. Você pode ter sorte e coincidir, mas muito pouco. O meu pavor é que o pessoal do CEDEC, da revista, fique, em algum momento, desatento e caia nisso. Já se caiu muito, quando virou Qualis, quando entrou nos mecanismos maior produtividade. Agora precisa analisar, dentro disso, qual é o máximo de liberdade possível. Mesmos os editores, coitados, estão tendo que fazer uma força enorme para se manter à tona da água lá nos seus departamentos. Diante disso tudo, você corre o pior dos riscos, que é a Lua Nova, se me permitem retomar minha antiga brincadeira, virar Eclipse. Mas tem muito chão ainda, viu? Tem muito chão. Eu não fecharia a revista. Pelo menos não fecharia esse ano [risos].
BLN: O senhor mencionou que uma das características da Lua Nova é ser muito aberta para vários temas, o que a distingue de outros periódicos. Observando a Lua Nova durante a sua gestão, nota-se a chegada de novos autores e enfoques, como a teoria normativa, de John Rawls. Quais outros teóricos ou correntes que a revista trouxe nos anos 1990 e início dos anos 2000 que fizeram carreira? Por exemplo, o debate sobre esfera pública, Habermas…
GC: Isso daí era um dos grandes temas. Ainda é, mas era um dos grandes temas.
BLN: O senhor esteve tradicionalmente ligado à tradição da Teoria Crítica. Ao mesmo tempo, comentou a união com o Álvaro e a chegada da teoria normativa. Como é que enxergava esse diálogo? Como isso era feito e pensado?
GC: Teoria Crítica só entrava lá por molecagem minha, porque eu é que acabava escrevendo sobre Adorno e companhia. O Habermas, não. Eu me lembro que publicamos um artigo dele que era uma síntese de parte importante daquele livro sobre facticidade, Facticidade e validade, juntamente com um pouco de debate a respeito do texto. Fizemos coisa semelhante com aquele arqui-adversário do Habermas, o [Niklas] Luhmann. Sobre o Luhmann, vários colegas escreveram, inclusive o Cicero e acho que o Leopoldo Waizbort também. Enfim, havia realmente uma diversidade nos debates. Mas o que me diverte na pergunta é como é que havia o diálogo, digamos, entre teoria política normativa e a teoria crítica da sociedade? Não havia nenhum [risos]. Quando o Álvaro se distraía, eu colocava uma coisinha e quando eu estava olhando lá para cima, ele chegava com um dos caras dele. Umas figuras interessantes que ele descobria, não é? Ele realmente trouxe coisas muito boas. Uma vez ouvi essa caracterização de Lua Nova, anos atrás: que é a publicação que mais dá espaço à essa teoria política normativa. Quem quiser acompanhar isso vai ter que, de alguma maneira, consultar a Lua Nova. Mas a coitada da Teoria Crítica da sociedade está apanhando, viu?
Mas vocês poderiam me perguntar se a gente apostava no debate, mas não o exercia. Não é bem assim, pois o ambiente era de bastante companheirismo e havia essas concordâncias fundamentais. Esse negócio de estimular o pessoal que está entrando no campo e não os já estabelecidos era absoluto consenso no interior da redação e certamente o conselho nada tinha contra isso. Que eu me lembre, nunca houve divergências reais do tipo “olha, isso nós não podemos fazer, isso é um absurdo, o que você fez aí é completamente fora de qualquer padrão”. Não me lembro de ter acontecido isso não.