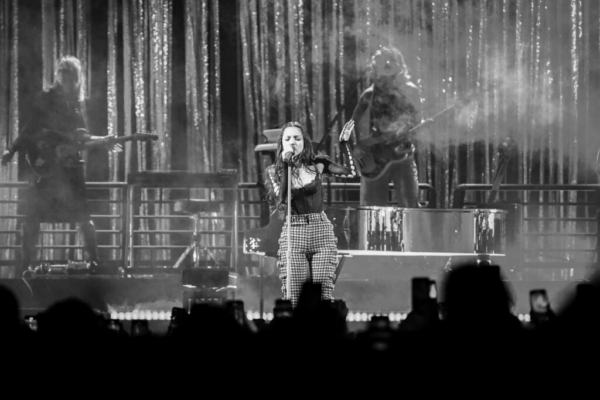Marco Aurélio Vannucchi[1]
9 de setembro de 2025
***
O Boletim Lua Nova divulga o livro A política das classes médias: corporativismo no Brasil pós-1930, de Marco Aurélio Vannucchi. A obra pode ser acessada e adquirida neste link. Agradecemos ao autor pela gentileza de disponibilizar o texto.
***
A tese que este livro sustenta é a da existência de um corporativismo voltado às classes médias, erigido e colocado em funcionamento durante o regime varguista. A importante e volumosa literatura sobre o corporativismo brasileiro interessou-se pela relação do empresariado e dos trabalhadores com o Estado, mas pouco percebeu que o mesmo movimento que incorporou politicamente, em chave corporativa, esses grupos sociais também abrangeu as classes médias. E, a partir da década de 1930, boa parte da ação coletiva das classes médias canalizou-se para o aparato corporativo.
Para entender adequadamente a introdução e a consolidação das formas corporativas de representação de interesses no Brasil é preciso evocar o contexto histórico no qual ocorreram. O movimento político-militar que encerrou o regime liberal-oligárquico em 1930 inaugurou um processo de modernização conservadora, nos termos propostos por Barrington Moore. Segundo o sociólogo estadunidense, uma das vias historicamente realizadas de conversão de sociedades tradicionais em sociedades modernas é a de uma industrialização acelerada viabilizada por uma “revolução pelo alto”. Em países como a Alemanha ou o Japão, a modernização conservadora foi liderada por elementos dissidentes da antiga classe dominante, majoritariamente provenientes do campo, secundados por uma burguesia comercial e industrial relativamente frágil. Nessa via de modernização, um fator fundamental foi a existência de uma coalizão entre a aristocracia rural e a burguesia comercial e industrial. As condições necessárias para o sucesso dessa via de modernização consistiram em: a.) a neutralização de setores reacionários, contrários às reformas modernizantes, especialmente entre os grandes proprietários rurais; b.) a construção de um aparato burocrático poderoso, incluindo organismos repressivos encarregados de conter tanto os reacionários quanto os setores populares; c.) a autonomização relativa do Estado em relação à sociedade. O agente que conduziu a modernização conservadora nos países em que ela ocorreu foi o Estado. Ele viabilizou a afirmação da indústria, recorrendo a várias medidas, como a disponibilização de recursos e o controle sobre o operariado fabril (Moore, 1967: XV-XVI, 436-441).
Também o Brasil transitou para o capitalismo industrial pelo caminho da modernização conservadora, sob a direção do Estado instaurado em 1930. Dirigido por elementos de oligarquias rurais voltadas à produção para o mercado interno (originários, especialmente, dos estados do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais) e por elementos urbanos (industriais, profissionais liberais e militares), o novo Estado garantiu as três condições mencionadas por Moore para o sucesso da “revolução pelo alto”. Com o auxílio de um aparato estatal centralizado e ampliado, conteve tanto os setores oposicionistas das classes dominantes (destacadamente a oligarquia paulista) quanto as organizações de esquerda e o movimento operário mais combativo. Igualmente, o Estado pós-1930 apresentou uma significativa margem de autonomia, que permite classificá-lo como bonapartista (Coutinho, 1992: 126; Weffort, 1978: 70).
Tal autonomia beneficiava-se da incapacidade de qualquer fração das classes dominantes exercer hegemonia, assim como da necessidade de incorporar as classes médias e o operariado urbano para dotar o regime de razoável estabilidade. O operariado foi incorporado ao processo de modernização conservadora usufruindo da legislação social e de uma participação política controlada (quando não reprimida) pelo Estado. Por sua vez, as classes médias foram atraídas pela expansão do emprego público, pela proteção do status e dos interesses econômicos das profissões liberais (propiciada pela regulamentação profissional) e pelo alargamento dos canais de apresentação de suas demandas junto ao Estado (concretizado pela criação das entidades corporativas). O empresariado industrial passou a contar com um nível de influência junto ao Estado e de acesso aos recursos públicos que até então não conhecera. Os grandes proprietários rurais, apesar de sua relativa decadência política, continuaram amparados pelo Estado, de que são prova a política cafeeira da década de 1930, a preservação da estrutura de propriedade da terra e o bloqueio da vigência da legislação trabalhista e social no campo. Aliás, apenas os trabalhadores rurais foram excluídos da aliança policlassista que sustentou o Estado varguista, sacrificados pelos interesses dos fazendeiros (Diniz, 1996; Vianna, 1976: 119).
O corporativismo, compreendido como uma modalidade de relação entre Estado e sociedade (Schmitter, 1974: 86-94; Pinto, 2020: 8-9), constituiu um instrumento fundamental para viabilizar dois aspectos da modernização conservadora colocada em marcha a partir de 1930: a.) a industrialização (ao abrir espaços de participação ao empresariado em instâncias de planejamento e decisão econômica e ao estabelecer controle sobre a organização operária ) (Vianna, 1976: 135); b.) a montagem do Estado de Compromisso (ao criar canais de participação política para os grupos sociais que formavam a aliança policlassista em que o Estado se arrimava) (Vannucchi, 2019: 68-71).
James Malloy aponta essa dupla função do corporativismo não apenas no Brasil, mas em vários outros países latino-americanos (como Argentina e México) nos anos 1930 e 1940. Segundo ele, os “regimes autoritários corporativistas” (dentre os quais o varguista) constituíram uma tentativa de superação de uma crise geral de autoridade (o que parece significar uma crise de legitimidade do Estado). Tais regimes procuraram incorporar uma multiplicidade de interesses inscritos na sociedade, a fim de garantir estabilidade política e permitir a implementação de políticas voltadas ao desenvolvimento. A crise de autoridade foi uma crise do poder oligárquico, causada pela crise da economia agroexportadora. Para dar suporte à sua iniciativa de diversificar a economia, o que incluiu, sobretudo, incentivos à industrialização, os novos regimes incorporaram politicamente os setores subalternos das cidades e do campo (faço a ressalva de que o Governo Vargas não incorporou nem socialmente nem politicamente os trabalhadores rurais). Ao mesmo tempo, tal incorporação visava ao incremento da autonomia do Estado. Para que ela fosse obtida, fez-se necessário que o Estado se protegesse tanto das pressões dos grupos dominantes, quanto dos grupos subalternos, recém-incorporados, o que seria obtido pelo controle da participação política, sobretudo por meios dos mecanismos corporativos (Malloy, 1977: 5-14). Ainda de acordo com Malloy, os regimes policlassistas que substituíram os oligárquicos teriam sido liderados pelas classes médias nacionais (de que, evidentemente, discordo quanto ao caso brasileiro (Malloy, 1977: 9).
Esclareço que, no livro, faço empréstimo da definição de classes médias[2] proposta por Décio Saes: o conjunto dos trabalhadores predominantemente não-manuais das sociedades capitalistas, “e não o conjunto da camada dos trabalhadores improdutivos”. O autor esclarece tal ressalva: “É que a hierarquia do trabalho, cujos efeitos conservadores se fazem sentir sobre os trabalhadores improdutivos não-manuais, não impede que os trabalhadores improdutivos se unam à classe operária fabril na crítica integral (…) ao capitalismo.” (Saes, 1996: 452).
Saes distingue dois grandes grupos no interior das classes médias: a camada superior (constituída por altos funcionários públicos, gerentes de bancos e profissionais liberais, dentre outros segmentos) e a camada inferior (formada pelo baixo funcionalismo público, empregados de comércio e bancários, por exemplo). A clivagem entre as duas camadas alicerça-se tanto no comportamento político quanto nas situações de trabalho, compreendidas como arranjos específicos de elementos como relações de trabalho, forma de remuneração, nível de remuneração e nível de formação necessário (Saes, 1996: 452-454).
Este livro resulta de uma agenda de pesquisa desenvolvida ao longo de vários anos e financiada pela FAPERJ, CNPq e Fundação Biblioteca Nacional. Originalmente, os capítulos que se seguem foram publicados como artigos. Mantive aqui o caráter autônomo dos capítulos, de forma que o leitor poderá ler o capítulo que quiser e o livro na ordem em que preferir. De todo modo, o texto dos artigos foi alterado a fim de garantir a organicidade do livro. O que significa dizer que o leitor também poderá ler com proveito o livro na sequência tradicional, o que lhe permitirá perceber que o eixo que perpassa todo o livro é o corporativismo das classes médias no Brasil entre as décadas de 1930 e 1960.
O primeiro capítulo do livro explora a conexão entre a constituição da base de apoio ao regime instaurado no Brasil em 1930 e a criação de instituições corporativas, destacadamente a representação classista e o sindicalismo oficial. Na Assembleia Nacional Constituinte ocorrida entre 1933 e 1934 as disposições do regime em relação às formas corporativas estiveram em debate e sofreram resistências, especialmente por parte dos representantes da Igreja Católica e das oligarquias estaduais. De todo modo, pela Constituição promulgada ou por legislação ordinária, o regime logrou manter tanto a representação classista quanto a organização sindical corporativa.
O segundo capítulo examina a inserção dos profissionais liberais no aparato corporativo. O corporativismo dos profissionais liberais incumbiu-se tanto da regulamentação profissional quanto da representação de interesses e seus órgãos oficiais foram os sindicatos e os conselhos profissionais. Também procuro mensurar o poder que esses órgãos tinham para fazer valer os interesses dos grupos profissionais que representavam.
O capítulo seguinte avalia o impacto da implementação do aparato corporativo sobre a autonomia da sociedade civil. Abordo a incorporação política em chave corporativa do empresariado e dos trabalhadores urbanos, mas especialmente dos profissionais liberais. Procuro sublinhar o caráter dinâmico e classista desse processo. Ademais, demonstro que, malgrado a predominância tendencial do Estado na relação com a sociedade civil, o corporativismo implicou em ganhos e perdas (em qualidade e quantidade diferentes) para ambas as partes.
Já o quarto capítulo demonstra que o aparato corporativo ofereceu, durante a ditadura estadonovista, um canal direto e permanente de apresentação de demandas das profissões liberais ao Estado, concretizado nas entidades sindicais e nos conselhos profissionais. Ao mesmo tempo, permitiu ao Estado controlar este grupo social. No entanto, o controle necessitava de contínua atualização pelo regime e enfraqueceu-se quando este entrou em crise, o que deu margem a que parte do aparato corporativo, como a OAB e o Sindicato dos Advogados, fosse tomada por forças oposicionistas.
O quinto capítulo investiga um aspecto peculiar do corporativismo destinado às classes médias no Brasil, qual seja, a duplicidade dos seus organismos de representação. Ao contrário do que ocorreu com o empresariado industrial e os trabalhadores urbanos, o exercício da representação das classes médias perante o Estado foi compartilhado pelos conselhos profissionais e os sindicatos. No caso dos advogados, a relação entre o conselho profissional e os sindicatos foi marcadamente conflituosa. Note-se que a existência de dois organismos corporativos potencialmente dotava a representação de maior legitimidade, considerando o processo de diferenciação político-ideológica vivenciado pelas classes médias.
O último capítulo analisa a atuação das entidades corporativas dos advogados, especialmente seu conselho profissional, frente as mudanças sofridas pela profissão em decorrência da modernização da economia e do Estado brasileiro. As metamorfoses pelas quais passaram a advocacia giraram em torno de três pontos: a diversificação das condições de trabalho e de posicionamento político-ideológico da categoria profissional; a inflação de advogados no mercado de trabalho e a demanda de um novo perfil profissional. A Ordem dos Advogados respondeu à nova situação, com resultados distintos: logrou garantir seguridade social aos advogados, porém não foi capaz de impedir a ampliação do ensino jurídico. Ademais, foi obrigada a assumir a pauta sindical, sob risco de perder legitimidade no interior da categoria profissional.
Em conclusão, pode-se sustentar que, com a introdução do aparato corporativo, as classes médias ganharam novos canais para a expressão de suas demandas junto ao Estado e aos patrões, com destaque para os sindicatos oficiais e os conselhos profissionais, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura. Os sindicatos oficiais contribuíram para que as categorias assalariadas das classes médias adquirissem direitos sociais e trabalhistas. Já os conselhos profissionais atuaram para diminuir a concorrência profissional, fechando o mercado de trabalho em favor dos portadores de diplomas. No que diz respeito à ação coletiva das classes médias, o corporativismo favoreceu, simultaneamente, o seu insulamento político e o seu fortalecimento organizativo.
De modo mais geral, a criação do aparato corporativo teve efeitos majoritariamente regressivos para a sociedade civil durante o Primeiro Governo Vargas. A estatização dos sindicatos e o funcionamento dos conselhos profissionais protegeram o direito de associação das classes médias (e dos trabalhadores), porém submeteu sua organização à depuração político-ideológica e ao controle governamental.
No entanto, o corporativismo acabou por dar, a partir da crise da ditadura do Estado Novo, uma contribuição significativa ao fortalecimento da sociedade civil. Ao incentivar a organização dos grupos sociais, o Estado permitiu a criação de um conjunto de entidades de representação de interesses em todo o país que, aproveitando-se do arrefecimento da repressão estatal, passaram a atuar com maior autonomia e, em alguns casos, em oposição aberta ao regime. Desde então, e até o golpe militar de 1964, o aparato corporativo acabou por colaborar decisivamente para a ocidentalização (Gramsci, 2000: 262) do país.
Referências bibliográficas
COUTINHO, C. N. Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
DINIZ, E. Estado Novo. Estrutura de poder. Relações de classe. In: FAUSTO, B. (Dir.). História Geral da Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.
GRAMSCI, A. Cadernos do cárcere. Maquiavel. Notas sobre o Estado e a política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. v. 3.
MALLOY, J. M. Authoritarism and corporatism in America Latina. In: MALLOY, J. M. (Ed.). Authoritarism and corporatism in America Latina. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1977.
MOORE, B. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston: Beacon Press, 1967.
PINTO, A. C. Latin American Dictatorship in the Era of Fascism. New York: Routeldge, 2020.
SAES, D. Classe média e política no Brasil, 1930-1964. In: FAUSTO, B. (Dir.). História Geral da Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. t. 3. v. 3.
SCHMITTER, P. C. Still the Century of Corporatism? The Review of Politics, v. 36, n. 1, p. 85-131, 1974.
VANNUCCHI, M. A. O corporativismo como estratégia: governo Vargas, apoio social e a Constituinte de 1933-1934. Ler História, v. 75, p. 65-87, 2019.
VIANNA, L. W. Liberalismo e sindicato no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.
WEFFORT, F. O populismo na política brasileira. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1978.
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
[1] Professor da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC-FGV). Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais (PPHPBC) do CPDOC-FGV. Bolsista de Produtividade CNPq. Bolsista Cientista do Nosso Estado FAPERJ. Bolsista da Fundação Biblioteca Nacional entre 2018 e 2019. Editor da revista Estudos Históricos entre 2014 e 2018. Coordenador da graduação em História do CPDOC-FGV entre 2014 e 2016. Graduado e mestre em História pela Universidade de São Paulo (USP). Doutor em História pela mesma instituição, com período-sanduíche na Universidade Paris IV (Sorbonne). Pós-doutor em Sociologia pela UNICAMP. Professor visitante na PUCRS (2020) e pesquisador visitante na Universidade Torcuato di Tella, Argentina (2024), no ICS-Universidade de Lisboa, Portugal (2025) e na Universidade de Valência, Espanha (2025). Autor do livro “A política das classes médias” e de diversos artigos publicados no Brasil e no exterior. Integrante da Research Network for the Study of Fascisms, Authoritarianisms, Totalitarianisms, and Transitions to Democracy (REFAT) (https://site.unibo.it/refat/en/network). Integrante da Rede Direitas, História e Memória (https://www.direitashistoria.com/)
[2] Embora reconhecendo sua heterogeneidade, Saes usa o termo no singular (classe média). Preferi usar o termo no plural (classes médias), justamente para ressaltar tal heterogeneidade.