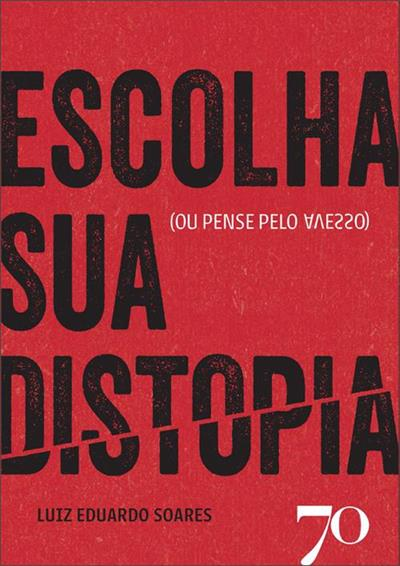Alessandra Teixeira[1]
Andrei Koerner[2]
Raissa Wihby Ventura[3]
28 de outubro de 2025
***
O texto a seguir corresponde a Apresentação da última edição dos Cadernos Cedec, organizado por Alessandra Teixeira e Raissa Wihby Ventura . A edição completa pode ser acessada aqui.
***
O Colóquio Internacional Colonialidade, Racialidade, Punição e Reparação nas Américas (Séculos XIX-XXI), realizado de 26 a 29 de novembro de 2024, com financiamento do Instituto Beja, no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP), propôs-se a examinar os modos pelos quais os sistemas punitivos foram moldados por experiências coloniais e hierarquias raciais, traçando um arco que conecta o passado escravista às práticas contemporâneas de punição, vigilância e encarceramento.[4] Além disso, investigou estratégias insurgentes, proposições transformadoras e soluções reparatórias para as violências cometidas pelo aparato legal e penal do Estado.
A programação contou com mesas-redondas, grupos de trabalho, minicursos e apresentação artística, organizados para promover o intercâmbio de saberes e fazeres entre pesquisadores, pesquisadoras e atores políticos de diferentes movimentos sociais. Os debates abordaram questões teórico-político centrais, como o impacto das estruturas coloniais no sistema jurídico-penal, o papel das populações racializadas na formação das sociedades americanas e as possibilidades de desracializar e descolonizar os sistemas punitivos.[5]
Idealizado pelo pesquisador Dirceu Franco Ferreira (1980-2024), o Colóquio teve como inspiração as discussões trazidas em sua tese de doutorado Insurgências prisionais em São Paulo e no Rio de Janeiro (1940-1961) Fugas, rebeliões e reformas em um contexto de virada punitiva, defendida em 2023 no Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Universidade de São Paulo. Dirceu, que também foi o principal organizador do Colóquio, nos deixou precocemente em 22 de setembro de 2024, portanto às vésperas do evento. Como parte da missão de levar adiante seu legado intelectual, uma mesa em sua homenagem foi realizada durante Colóquio, e nela alguns aspectos de sua obra foram trazidos, em especial a temática das insurgências e contra-insurgências nos sistemas de controle e punição, e sua relação com os modos específicos de operar o racismo no país. Em sua tese Dirceu observa que, sem precisar recorrer a mecanismos nomeadamente raciais, como os dispositivos de segregação racial, a violência institucional no país dirigiu-se primordialmente aos corpos negros, tendo como sustentação os processos de criminalização ornados pela racialidade. Como bom arqueólogo, Dirceu buscou os rastros e os elementos soterrados desses mecanismos, encontrando nos discursos imagéticos da imprensa policial e na produção heterodoxa de dados criminais, segundo supostos marcadores raciais, importantes modos de operar e legitimar o racismo institucional como política de controle e punição dos negros, no contexto histórico que ele denominou “virada punitiva” no país.
Como espaço de encontro, o Colóquio compôs uma rede plural de associações, movimentos sociais e pesquisadoras/es de diferentes universidades nacionais e internacionais. Por um lado, a participação de representantes de movimentos sociais e associações trouxe ao evento o diálogo entre a experiência militante e o conhecimento situado com os saberes acadêmicos: estiveram presentes organizações históricas do movimento negro, como o Movimento Negro Unificado (MNU) e a Kilombagem; coletivos de familiares de vítimas da violência estatal, entre eles o Movimento Mães de Maio, a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas e a Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio; entidades de apoio a pessoas presas e egressas, a exemplo da AMPARAR e do Núcleo Memórias Carandiru (IREC); iniciativas voltadas à justiça reparatória, como o Projeto Reparações (CAAF–UNIFESP), a Iniciativa Pipa e o Fundo Agbara; articulações feministas antiprisão transnacionais, a exemplo de Hermanas en la Sombra (México), Yo No Fui (Argentina) e Mujeres de Frente (Equador); além de organizações de incidência jurídica e política, como a Iniciativa Pipa e a ONG Criola. A presença desses 14 coletivos — selecionados para compor mesas, minicursos e grupos de trabalho — garantiu que os debates sobre colonialidade, racialidade e punição estivessem ancorados em lutas concretas por memória, justiça e reparação.
Além dos movimentos sociais, o Colóquio contou com participação variada de instituições acadêmicas . Do lado brasileiro, estiveram representadas universidades públicas federais e estaduais, entre elas a USP, UNIFESP, UNICAMP, UFABC, UFRJ, UFMG, UFG, UFGD, UFMA, UFMS e UNIRIO, cujos docentes e discentes coordenaram mesas, grupos de trabalho e minicursos. A dimensão transnacional do encontro foi assegurada por pesquisadoras/es de instituições latinoamericanas e europeias, a exemplo da Université de Guyane, Sorbonne Université, Aix–Marseille Université, Université Paris 8, Universidad Andina Simón Bolívar (Equador), Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) e University of British Columbia (Canadá), bem como por integrantes do Reparations Narrative Lab (EUA). Ao reunir representantes de universidades nacionais e estrangeiras, o Colóquio reforçou seu caráter interdisciplinar e comparativo, criando um fórum de diálogo que atravessou fronteiras geográficas e epistemológicas.
Esta série especial dos Cadernos do Cedec reúne reflexões críticas elaboradas por graduandas, mestrandas e doutorandas selecionadas por meio de edital de monitoria06. Longe de exercerem funções estritamente logísticas, essas pesquisadoras transformaram o Colóquio em um laboratório de formação acadêmica e política: acompanharam os debates, dialogaram com as/os palestrantes e produziram textos de relato‑reação que combinam descrição empírica e análise conceitual das mesas‑redondas.
A experiência ampliou a pluralidade de vozes e resultou na produção intelectual que ora apresentamos. Ao converter esse trabalho em documento para publicação, a série especial demonstra que a construção de conhecimento crítico exige práticas pedagógicas que extrapolam a sala de aula — escuta, reconhecimento e redistribuição de oportunidades são alguns dos elementos que guiaram a experiência do Colóquio.
O relato elaborado por Gessica da Silva e Ana Cristina Grein Marra registra que a mesa de abertura, “Raça e racismo na formação do sistema punitivo brasileiro”, reuniu Fernando Salla (NEV‑USP) e Juliana Vinuto (UFF) para demonstrar que o cárcere nacional é herdeiro direto da ordem escravista: Salla destacou o Código Criminal de 1830, que racializou a figura do “criminoso”, e a Lei de Vadiagem de 1890, que manteve o controle sobre libertos e pobres; Vinuto, dialogando com a tradição intelectual negra, mostrou como o punitivismo moderno conserva a “síndrome do medo” descrita por Clóvis Moura, convertendo territórios negros em alvos preferenciais da violência estatal e articulando raça, classe e gênero como eixos estruturantes da punição.
O relato de Kátia Silene Souza de Brito sobre a mesa “Estratégias de insurgência: descolonizar e desracializar os sistemas punitivos nas Américas” registra que Dina Alves (PUC‑SP), Weber Lopes Góes (UFABC) e Bruno Xavier Martins — tradutor de California Gulag — articularam uma discussão sobre o abolicionismo penal e a crítica ao capitalismo racial: Alves situou as mães negras como núcleo da luta anticarcerária, Góes vinculou a criminalização da juventude negra ao controle de mão‑de‑obra excedente e Martins descreveu a expansão prisional neoliberal como reedição da escravidão.
O texto de Júlia Batista B. Farias e Stefani Silva Souza relata a mesa “Gênero, raça e punição”, em que Mary Jello (RENFA/Coletivo Por Nós), Jules Falquet (Université Paris 8‑IdrA) e Regina Lúcia dos Santos (MNU‑SP) trataram da feminização da violência penal: Jello apresentou a organização de egressas como resposta comunitária ao cárcere, Falquet denunciou a prisão‑empresa e o endividamento das detentas, e Santos defendeu a revogação da Lei de Drogas como passo inaugural de justiça interseccional.
No relato de Sofia Zuca Portugal Pudles sobre “Memória, justiça e reparação dos povos originários”, Ana Carolina Alfinito Vieira (FGV/SP) expôs a violência extrativista contra territórios indígenas, Erileide Domingues (liderança Guarani‑Kaiowá) denunciou o genocídio contínuo de seu povo e Edmundo Dias Netto Júnior (MPF/PRMG) historicizou a omissão estatal de massacres, defendendo uma justiça transicional ampliada.
A mesa “Colonialidade, injustiça e racialidade: trajetórias para a reparação”, relatada por Sofia Pudles e Ana Cristina Grein Marra, reuniu Marcelle Decothé (Iniciativa Pipa), Aline Odara (Fundo Agbara) e Trevor Smith (Reparations Narrative Lab, EUA), que convergiram na defesa de redistribuição radical de recursos por meio da Filantropia. Enquanto Decothé vinculou a memória à luta reparatória, Odara criticou a filantropia que perpetua a escassez e Smith propôs modelos sociocráticos para devolver poder econômico às comunidades racializadas.
No relato assinado por Kátia S. Souza de Brito, Gessica da Silva e Camila Bernardo de Moura, a mesa “Violações de Estado e colonialidade: operações policiais no Brasil contemporâneo como expedientes punitivos” mostrou Felipe Freitas (Secretaria de Justiça e DH‑BA), Katiara Oliveira (Kilombagem/Rede de Proteção contra o Genocídio) e Jaqueline Cipriany (Rede de Proteção contra o Genocídio) articulando necropolítica policial, juvenicídio e estratégias quilombo de proteção territorial, defendendo seguridade social e controle civil da polícia como respostas institucionais necessárias.
O relato de Camila Bernardo de Moura, Ana Cristina Grein Marra e Gessica da Silva sobre a mesa “Abolicionismo e desencarceramento: memória, justiça e reparação” destaca Helen Baum (Núcleo Memórias Carandiru – IREC), Valentina Castro (Hermanas en la Sombra, México), Liliana Cabrera (Yo No Fui, Argentina) e Elizabeth Pino (Mujeres de Frente, Equador) compartilhando práticas artísticas e cooperativas que disputam o imaginário punitivo e constroem economias solidárias no interior e fora das prisões. Da mesma autoria, o relato da mesa “Lutas e resistências à violência do Estado: perspectivas abolicionistas e desencarceradoras” apresenta Débora Maria (Movimento Mães de Maio/UNIFESP), Andrea Aguirre (Universidad Andina Simón Bolívar, Equador), Lucía Espinoza Nieto (UABC, México) e Miriam Duarte (AMPARAR) evidenciando a convergência entre as lutas de mães e as lutas feministas latino‑americanas, denunciando a prisão privatizada como dispositivo de recolonização e defendendo a escrita identitária como cuidado coletivo.
No relato de Murilo Nazareth para a mesa “Colonialidade, racialidade e punição na formação de fronteiras”, Sydney Lobato (UNIFAP), Marquisar Jean‑Jacques (Université de Guyane) e Charlotte Floersheim (Aix‑Marseille Université) analisaram a Guiana Francesa como espaço de exceção colonial: Floersheim ligou diagnóstico tardio de HIV a cartografias fronteiriças, Jean‑Jacques discutiu invisibilização estatística de povos indígenas e Lobato historicizou a fronteirização como estratégia de segregação racial.
O texto de Júlia B. B. Farias com Stefani S. Souza sobre “Memória, justiça e reparação: povos africanos e afro‑brasileiros” relata Fernanda Thomaz (Comissão da Memória e Verdade sobre a Escravidão), Handel Wright (University of British Columbia) e Fábia Ribeiro (UNIFESP) discutindo reparações transnacionais, desmontando mitos multiculturais e defendendo fundos comunitários de memória.
Por fim, o relato de Camila Bernardo de Moura e Murilo . Nazareth para a mesa “Violência racial e reparação” mostra Carla Osmo (UNIFESP/CAAF), Matheus Almeida (USP/CAAF) e Dona Zilda Maria (Mães de Osasco‑Barueri) defendendo a reparação integral — restituição, compensação, reabilitação, memória e garantias de não repetição — para casos de violência política e evidenciando a distância entre esse ideal e a realidade burocrática enfrentada pelas famílias de vítimas desse tipo de violência.
Convidamos leitoras e leitores a percorrer os relatos que compõem esta série especial dos Cadernos do Cedec: cada texto‑reação condensa, com rigor analítico e voz própria, as discussões travadas no Colóquio — da genealogia escravista do sistema penal brasileiro às práticas contemporâneas de abolicionismo, das lutas indígenas por reparação à crítica feminista da prisão‑empresa, das fronteiras amazônicas às diásporas africanas. Ao entrelaçar teoria, militância e experiência vivida, os relatos revelam como colonialidade, racialidade e punição se articulam — e, sobretudo, como podem ser desafiadas. A leitura oferece, assim, um panorama plural de diagnósticos e de estratégias de transformação, convidando-nos a imaginar outros futuros possíveis para a (in)justiça nas Américas.
** Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
[1] Professora adjunta da Universidade Federal do ABC (UFABC), doutora e mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Bolsista de Produtividade do CNPq (PQ2), coordena o grupo de pesquisa RESISTÊNCIAS. Controle social, Memória e Interseccionalidades.
[2] Professor Associado do Depto. de Ciência Política-IFCH/Unicamp, coordenador do Ceipoc-IFCH/Unicamp e pesquisador associado do Cedec.
[3] Mestre e Doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, professora no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Unicamp e pesquisadora do consórcio JUSTLA (Justice in the XXI Century: A Perspective from Latin America).
[4] Para informações adicionais sobre a organização do evento, consulte a página do IEA/USP: https://www.iea. usp.br/eventos/colonialidade-racialidade-americas-seculos-xix-xxi.
[5] As mesas que compuseram o evento foram gravadas e estão disponíveis no acervo digital do IEA/USP, podendo ser visualizadas no canal do Instituto no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0w3Sivfmq9A&list=PLzxGsRt_ Q0kf-9EPVk3mfQXyo9o5GWpFu.