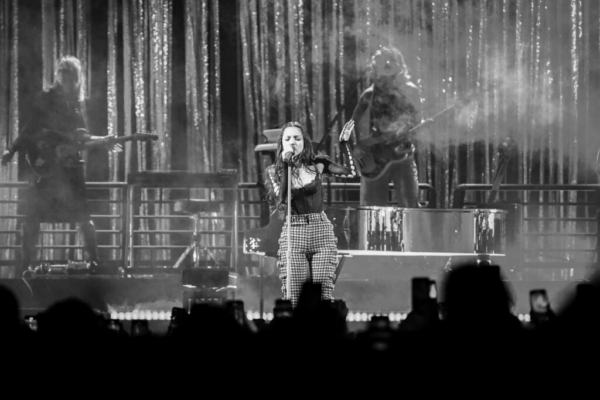Rodrigo Sartori Bogo[1]
10 de setembro de 2025
Texto de divulgação do artigo científico de mesmo título, disponível para leitura aqui.
A gestão urbana e participativa no Brasil tem, no momento presente, sido composta por algumas contradições significativas. Posso destacar duas dentre as mais importantes, e ambas giram em torno da relevância e do legado do orçamento participativo (doravante OP). A primeira diz respeito à intensa disputa pelo controle dos recursos públicos manifestada na atual – e intensa – tensão entre executivo e legislativo no nível federal, com o segundo “capturando” investimentos (que poderiam estar em ministérios, e, consequentemente, voltado a políticas públicas) por via de emendas parlamentares majoritariamente opacas (Fedozzi, 2024); enquanto, ao mesmo tempo, o executivo tenta emplacar inovações democráticas na escala nacional por via de sua Secretaria Nacional de Participação Social, incluindo a proposta de um Orçamento Participativo Nacional.
A segunda contradição observada se refere ao próprio OP no nível de gestão em que foi elaborado e segue sendo principalmente aplicado: o governo local. Enquanto internacionalmente este instrumento segue apresentando uma relevante tração com agentes-atores de diferentes origens, demonstrando robusta adaptabilidade e transferibilidade (nos termos de Smith [2009]), potencialmente ultrapassando 10 mil experiências globalmente antes da pandemia de COVID-19 (Dias; Enríquez; Júlio, 2019), no Brasil – o país onde o OP surgiu, a partir do paradigmático modelo de Porto Alegre – o contexto é fundamentalmente diferente. Em decadência constante no número de programas implementados ao menos desde 2012, com uma queda vigorosa após 2016 – que nem um pequeno aumento observado em 2024 pode suplantar (Bogo et al., 2025) -, o OP em municípios brasileiros não só caiu em relativo desuso, como, em muitos casos, tem demonstrado uma mudança em seu conteúdo, com a ascensão de abordagens mais tecnocráticas e menos participativas (idem, 2025).
Esse duplo momento – de uma expansão internacional que envolve muita adaptação (ou seja, afastamento das origens) e da transformação dos casos nacionais – implica que, atualmente, raramente os OPs ativos estão calcados em seus “princípios fundamentais” que embasavam experiências brasileiras de sucesso dos anos 1990 e 2000, como Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Guarulhos e Ipatinga, para citar alguns exemplos. Dentre estes princípios vinculados à origem do OP, os dois dos mais citados são a inversão de prioridades e a justiça social. Ambos sugerem, em conjunto, que tal instrumento deva ser voltado ao combate de desigualdades socioespaciais e políticas, por via de estratégias de cunho territorial (algo inerente ao orçamento público e, por consequência, ao OP). Logo, um dos argumentos usados aqui, é que o OP precisa ser interpretado sob a ótica do conceito de justiça espacial e, mais especificamente, justiça territorial, algo pouco explorado pela literatura científica.
Essa lacuna resultou em duas perguntas de pesquisa: 1) O orçamento participativo tem potencial de ser um veículo para a justiça territorial?” ; e 2) “Como a justiça territorial se manifesta empiricamente via OP entre realidades diferentes?”. Considerando a tradição empirista da Geografia, do qual este autor está envolvido e se identifica, aplicou-se metodologia de matriz qualitativa (e.g. entrevistas semiestruturadas e análise documental) para explorar as questões em dois estudos de caso, que se relacionam com o duplo momento – nacional e internacional – do OP, sendo estes Araraquara (São Paulo, Brasil) e Vallejo (Califórnia, EUA). A ideia foi não só de fortalecer estudos do tipo comparativo entre entidades subnacionais de países diferentes (Snyder, 2001), mas também aprofundar pesquisas que anteriormente compararam os dois países, que por sua vez não trataram de casos particulares (Gilman; Wampler, 2019; Goldfrank, 2020). Brasil e EUA são países que, apesar de influentes no campo do planejamento e gestão participativos e, também particularmente, no OP, tendem a abordar o instrumento de maneira diferente.
Como é possível avaliar pelos parágrafos acima, o núcleo fundamental do OP tem uma forte vertente normativa. Porém, seus efeitos e resultados foram extensamente analisados por cientistas de diferentes linhas e, após anos iniciais de um certo otimismo, as avaliações críticas se fizerem presentes em variadas perspectivas. Tanto das próprias limitações de alcance do instrumento, quanto as amarras do desenho institucional e a dependência de vontade política, falhas foram observadas também na mobilidade internacional, com diversos casos tratando de valores de investimento irrisórios, compostos por pseudoparticipação ou com nenhum direcionamento às necessidades de populações periféricas. Porém, a existência de problemas em casos considerados frágeis ou limitados – sendo estes a maioria, reforça-se – não excluiu os elevados impactos e avanços observados nas experiências de alta qualidade. Apesar de dependerem de um conjunto de condições, como alta vontade política, capacidade administrativa, investimentos públicos significativos e um desenho institucional bem elaborado, há evidência científica suficiente (especialmente em cidades brasileiras) que aponta para a ocorrência de ganho coletivo em duas vias: políticas e territorial. O primeiro porque, em um OP robusto, cidadãos que antes não acessavam a tomada de decisão agora poderiam fazê-lo. Já o segundo está amarrado à função do OP na gestão urbana, ao passo que ocorre uma descentralização das informações – que não ficam restritas somente aos técnicos – e um input muito mais significativo em relação às demandas de serviços e melhorias a serem realizadas em diferentes partes da cidade, destacando-se as periferias.
Vale ainda ressaltar que, por “território”, não se fala somente em limites administrativos ou na localização de equipamentos públicos, mas sim enquanto a espacialização das relações de poder. Como argumentado por Raffestin (1993, p. 60), “O território é o espaço político por excelência, o campo de ação dos trunfos”. Logo, considerando a centralidade da dimensão política para o espaço e o território, é possível visualizar a posição do OP em tal dinâmica.
Por isso a relevância de se tratar analiticamente da justiça e, mais especificamente, da justiça territorial. Ainda que caracterizar a avaliação ou os critérios para definir o que é “justo” ou “injusto”, no que tange especificamente o OP e suas possibilidades, pode-se incluir o quanto dos recursos públicos são redistribuídos em direção às áreas necessitadas; o grau de inclusão social do instrumento, o controle da população em torno da tomada de decisão, a efetiva execução dos projetos e sua tipologia, por exemplo. Naturalmente, o desenvolvimento de injustiças vai muito além do escopo do OP, sendo interseccional, envolvendo representações e estando associado com a própria reprodução do espaço urbano voltado ao lucro, centrado no binômio valorização/desvalorização. Porém, se o surgimento do OP enquanto inovação democrática se dá com o objetivo de inverter as prioridades políticas e materiais do centro em direção à periferia (em seu sentido espacial e simbólico), logo, o que está em questão é a transformação das relações de poder de dada realidade urbana. Trata-se de uma busca – ainda que parcial e limitada – de combate às injustiças socioespaciais.
Muito mais do que a análise documental e espacial acerca dos resultados materiais dos respectivos desenhos institucionais, foram as perspectivas dos sujeitos locais de Araraquara e Vallejo que trouxeram as principais concepções sobre o potencial papel do OP na busca por justiça territorial. As cidades estudadas são ambas médias (ou de porte médio) e com experiências de OP relativamente duradouras – 13 ciclos no caso paulista e 9 no californiano – apesar de algumas instabilidades institucionais. São também relevantes em seus respectivos países, com Araraquara sendo uma dos poucos programas ativos (em 2024) que seguiam aplicando modelo fortemente inspirado em Porto Alegre; enquanto Vallejo foi o primeiro OP citywide (ou seja, voltado a todo o município) dos EUA, com um desenho institucional que valoriza a deliberação. Porém, enquanto o primeiro contém um recorte territorial (tanto para reuniões quanto implementação dos projetos), isso não ocorre com o segundo.
Os trabalhos de campo em ambas as cidades e as entrevistas trouxeram, então, os principais resultados da pesquisa. Os três primeiros a serem observados são que: a) os entrevistados observaram a busca por justiça territorial por via do OP como uma possibilidade palpável, mas que está muito além somente de seus resultados espaciais ou da própria inversão de prioridades; b) a complexidade do conceito de justiça territorial, não facilmente compreendido pelos sujeitos, apesar de temas com ele relacionado estarem em todas as conversas; e c) houve uma clara diferença nos discursos acerca dos resultados materiais dos OPs investigados, com a compreensão dos entrevistados favorecendo uma percepção positiva de maneira muito mais evidente em Araraquara do que em Vallejo. Críticas também apareceram, mas elas foram mais evidentes no caso californiano do que no paulista.
Tais percepções sobre os impactos dos OPs foram corroboradas pelos dados oriundos da análise documental, não só pelo desenho institucional mais robusto e voltado ao combate às desigualdades socioespaciais do programa araraquarense, mas também pelos valores investidos. Em Vallejo, as nove edições de OP forneceram – no total – US$14 milhões para a deliberação direta dos cidadãos, uma média de US$ 12,33 por pessoa, valor que foi de somente US$ 3,96 nas últimas edições. Em termos percentuais, não atinge 1% dos investimentos municipais. Tais resultados são considerados substancialmente reduzidos, mesmo fora do contexto latino-americano (Cabannes, 2015). Já em Araraquara, foram R$ 177 milhões entre 2017 e 2024 (o equivalente a R$ 146 por pessoa), ultrapassando, no mínimo, 30% dos investimentos municipais em todos os anos. A frustração com os valores foi assunto frequente dentre os sujeitos estadunidenses, enquanto os brasileiros reforçavam a importância da vontade política para atingir tal patamar de investimento, o que incluiu a dificuldade constante – e o imenso trabalho – de as completar em tempo hábil.
Na cidade paulista, além do alto índice de execução das obras (70%, de acordo com o entrevistado A4) e da participação recorde em 2023 (8.884 pessoas), o principal elemento a ser elencado é a verificação de quais populações são impactadas pelo OP. Tanto a análise documental quanto as entrevistas apontaram que os maiores beneficiários são grupos periféricos ou minorias políticas, o que sugere caminhos da justiça territorial e das modificações de poder. Logo, mesmo consideradas as limitações do OP, essas constatações indicam o potencial que a ferramenta tem em modificar as relações entre Estado e sociedade, algo manifestado no território. Mesmo em Vallejo, que diversas melhorias são necessárias, os sujeitos consideram a sociedade civil como mais dinâmica e engajada com a inclusão de tal instrumento na gestão urbana local. Ainda que a maioria dos entrevistados não veja a justiça territorial lá ocorrendo, os princípios são observados em diversos momentos.
Portanto, a resposta para as duas perguntas de pesquisa foi afirmativa. Não só este trabalho específico demonstrou como a justiça territorial se manifesta de maneira diferente entre aplicações variadas – espacialmente e institucionalmente -, assim como com intensidades diferentes. Também foi possível aferir que a justiça territorial é um caminho possível, assim como a inversão de prioridades e a modificação das relações de poder, tendo o OP como um fio condutor. Não obstante, tal instrumento não deve ser interpretado como uma panaceia para solucionar desigualdades socioespaciais em contextos urbanos, devendo ser compreendido como uma dentre várias ferramentas participativas possíveis. Especialmente no contexto contemporâneo, de limitações orçamentárias e barreiras políticas diversas, é importante ter em mente que o OP tem escopo e suas próprias limitações, mas tem também um grande potencial e trajetória, a serem considerados no desenho de novas políticas públicas.
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
Referências bibliográficas
BOGO, R. S. et al. A quase morte dos Conselhos de OPs? As novas dinâmicas dos orçamentos participativos nos municípios brasileiros. In: ENCONTRO INTERNACIONAL PARTICIPAÇÃO, DEMOCRACIA E POLÍTICAS PÚBLICAS, 6., 2025, Brasília. Anais […]. Brasília: UNB, 2025. p. 1-29.
CABANNES, Y.; LIPIETZ, B. The democratic contribution of participatory budgeting. International Development, Londres, v. 168, n. 15, p. 1-33, maio 2015.
DIAS, N.; ENRÍQUEZ, S.; JÚLIO, S. (org.). Participatory Budgeting World Atlas. Faro: Oficina, 2019. 191 p. Disponível em: https://www.oficina.org.pt/participatory-budgeting-world-atlas-2019.html. Acesso em: 25 nov. 2023.
FEDOZZI, L. A disputa dos recursos públicos. 2024. Disponível em: https://aterraeredonda.com.br/a-disputa-dos-recursos-publicos/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=novas_publicacoes&utm_term=2024-10-27. Acesso em: 07 abr. 2024.
GILMAN, H.; WAMPLER, B. The Difference in Design: participatory budgeting in Brazil and the United States. Journal Of Public Deliberation, v. 15, n. 1, p. 1-30, 23 abr. 2019. Disponível em: https://www.publicdeliberation.net/jpd/vol15/iss1/art7. Acesso em: 14 dez. 2023.
GOLDFRANK, B. La difusión y el diseño de los presupuestos participativos en Brasil y los Estados Unidos. Revista de Ciencia Política y Gobierno, Lima, v. 11, n. 6, p. 59-80, maio 2020. Disponível em: https://doi.org/108800/rcpg.201901.003. Acesso em: 14 dez. 2023.
RAFFESTIN, C. Por Uma Geografia do Poder. São Paulo: Editora Ática, 1993. 269 p.
SMITH, G. Democratic innovations: Designing institutions for citizen participation. New York: Cambridge University Press, 2009.
SNYDER, R. Scaling down: the subnation comparative method. Studies In Comparative International Development, v. 36, n. 1, p. 93-110, set. 2001.
[1] Doutor em Geografia pela Universidade Estadual Paulista (FCT/Presidente Prudente)
Fonte imagética: Imagem do acervo pessoal do autor.