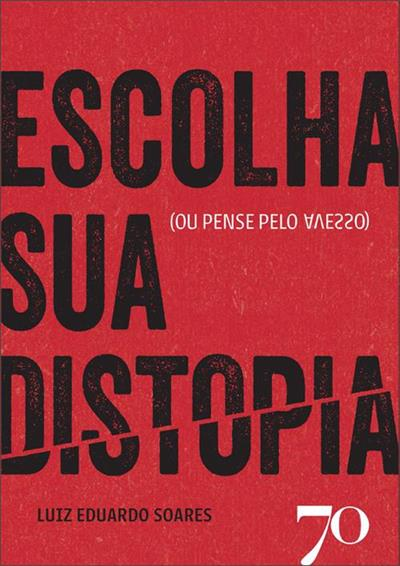Ronaldo Tadeu de Souza[1]
O Boletim Lua Nova entrevistou Luiz Augusto Campos, professor de Sociologia e Ciência Política e Pesquisador do IESP-UERJ, Coordenador do Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa (GEMAA), do Observatório das Ciências Sociais (OS) e Editor-Chefe da Revista Dados. Nesta primeira parte, conversamos sobre a emergência de novas temáticas nas ciências sociais e o impacto das ações afirmativas na mudança do perfil das(os) estudantes e cientistas brasileiras(os).
Agradecemos a sua disposição e tempo para nos conceder a entrevista. Sabemos que você tem uma vida acadêmica bastante tomada por compromissos, inclusive com a edição da Revista Dados. A primeira pergunta é sobre as ciências sociais brasileiras na última década: é possível traçar um panorama da disciplina no último período, quanto à diversidade dos pesquisadores e pesquisadoras, dos temas pesquisados, a literatura que circula na academia hoje, os alunos e alunas?
Luiz Augusto Campos (LAC): Primeiro quero agradecer o convite para dar essa entrevista. Enfim, eu acho que, na verdade, a gente tem diferentes pesquisas que, com diferentes abordagens metodológicas e diferentes interesses, vêm tentando medir ou entender melhor as mudanças das ciências sociais nos últimos tempos. Esses estudos se organizam desde pesquisas sobre o perfil do cientista social, perfil de raça, gênero, alguma coisa sobre origem de classe, e até pesquisas sobre a produção bibliográfica, digamos, das ciências sociais. O que eu acho que houve nos últimos tempos, tentando fazer uma síntese desses trabalhos que mostram resultados muito complexos e nem sempre convergentes, é uma enorme mudança nas ciências sociais brasileiras nos últimos vinte ou trinta anos. Essas mudanças ainda não estão muito claras. Então tivemos uma expansão muito aguda, talvez uma das expansões mais aceleradas, sobretudo quando a gente olha para a pós-graduação nos últimos dez, vinte anos. Tivemos uma diversificação temática muito grande, um certo deslocamento de determinadas temáticas mais tradicionais. Uma pesquisa que a gente está fazendo agora, específica sobre a sociologia, por exemplo, mostra que as teses sobre o trabalho, que eram muito importantes no início dos anos 2000, hoje já são menos importantes enquanto temática. E tivemos na ciência política uma emergência, nesses últimos vinte anos, da temática de gênero como uma das mais centrais da disciplina. Agora, essas mudanças não são convergentes. Nós temos, para falar especificamente da ciência política, por exemplo, o gênero se torna um tema altamente produtivo e, de certo modo, central em termos quantitativos na ciência política brasileira. Agora, raça não, ainda é um tema muito marginal. Então, para responder a pergunta, talvez de um modo que constranja um pouco os dados e para fazer uma síntese talvez excessivamente resumida: eu acho que tivemos uma certa massificação das ciências sociais no sentido de uma ampliação aguda, sobretudo no nível de pós-graduação, em termos comparativos; um crescimento bem acentuado da quantidade de publicações acadêmicas – por exemplo, o número de revistas acadêmicas brasileiras e o número de artigos que são publicados cresceu em progressão geométrica nesse período analisado -, e uma diversificação temática também bem interessante.
Agora, tudo isso aconteceu de um modo bastante desigual. Em termos de diversificação de gênero, ela foi muito mais lenta na pós-graduação em termos de professores e docentes do que a que tivemos em termos de discentes na pós-graduação. Tivemos uma diversificação racial na graduação que não foi acompanhada de uma diversificação racial no corpo docente, por exemplo. Em termos temáticos, houve a emergência e consolidação de novos campos, por exemplo, como eu falava, gênero na ciência política, mas que não necessariamente foi acompanhada de uma igual diversificação em outros temas, como raça. Então, isso tudo para dar uma imagem de que nós tivemos mudanças muito grandes, mas mudanças ainda muito desiguais. Como se a gente estivesse lidando com uma área que cresceu muito, mas ainda está com um pé maior que a cabeça, ou às vezes uma mão maior do que a outra. Então, entender isso tudo é bem complexo, e ficou mais complexo ainda quando se leva em consideração os efeitos da pandemia. Talvez essa seja uma não resposta para vocês, mas para fazer uma síntese geral houve um crescimento um pouco desigual dessas áreas.
Você nota que há temas que são preferidos ou preteridos, a depender do contexto social e político, isto é, há momentos em que alguns temas ganham mais visibilidade, mas depois são obscurecidos?
LAC: Olha, evidentemente que sim. A agenda de pesquisa das ciências sociais varia muito de acordo com o contexto político que a gente vive, mas também de acordo com o contexto das políticas acadêmicas. Então, de novo, tem variações tanto na sociologia como na ciência política que a gente estuda mais detidamente. Nós falávamos da sociologia do trabalho e de uma certa marginalização dela em termos comparativos, mas também isso está ligado a uma certa complexificação do que é trabalho, da própria noção do que é trabalho, por exemplo, e há uma certa bifurcação nos últimos tempos na sociologia entre o que se chama de sociologia do trabalho e sociologia econômica que, muitas vezes, estudam fenômenos muito similares, mas de perspectivas muito diferentes. Uma questão que ronda a bibliografia sobre isso, e para a qual não tem respostas simples, é em que medida essa agenda de pesquisa das ciências sociais é pouco ou excessivamente conectada ao debate público. Então, existem textos sobre isso.
Teve um debate importante feito nos anos 2000, a partir de um texto do Werneck Viana, do Manuel Palácios, da Maria Alice Rezende e do Marcelo Burgos sobre a agenda de pesquisas sociais a partir de uma análise das teses. E, de novo, eu vou tentar fazer um resumo muito grosseiro do que as pesquisas indicam ao invés da gente pensar se há ou não uma conexão das ciências sociais brasileiras com o debate público. Eu acho que é interessante a gente pensar que tipo de conexão que se estabelece. Então, essa conexão é, de modo geral, presente na história das ciências sociais brasileiras, mas o modo como essa conexão se constrói varia no tempo.
Lembro-me de que uma vez eu fui numa palestra do [sociólogo estadunidense] Michael Burawoy, que inclusive foi presidente da ISA [International Sociological Association], e era uma palestra que ele fez aqui no Brasil sobre a importância de uma sociologia pública, em que ele clamava por uma sociologia pública e desenvolvia até uma de certa tipologia de modos públicos de se fazer a sociologia. E, no final da palestra, perguntaram para ele, mais especificamente para o Brasil, o que ele achava de qual deveria ser nosso comportamento para que a gente faça uma sociologia pública. E ele deu uma resposta que foi assim: “vocês já fazem sociologia pública, [porque] quase todos os sociólogos e sociólogas que eu conheço tem algum pé, seja nas relações com o debate público, a mídia, imprensa, seja nas relações com os movimentos sociais, seja nas relações com o Estado, seja nas relações com o público mais intra-acadêmico, na política acadêmica, relações com os partidos políticos”. Então eu acredito que menos do que pensar se há ou não esse nexo é mais importante pensar historicamente como esse nexo foi variando e foi se constituindo de diferentes formas, em diferentes grupos, em diferentes departamentos. Mas de modo geral, o que a gente mostra é talvez uma conexão até grande entre o debate público e as temáticas da agenda de pesquisa das ciências sociais brasileiras.
O que você entende faltar ainda, neste aspecto, nas nossas ciências sociais?
LAC: Eu não acho que exista uma limitação temática, estrutural das ciências sociais brasileiras. Entendo que ela consegue lidar com as temáticas fundamentais que estão colocadas pela sociedade. Entretanto, essa temporalidade às vezes fica aquém das necessidades que são colocadas para as ciências sociais. Eu falo especificamente do meu tema, de uma das minhas agendas de pesquisa, que é raça e política, raça e eleições mais especificamente. É uma agenda que foi curiosamente importante na fundação da ciência política brasileira. Então, ali na década de 1960, nós temos grandes cientistas políticos daquela primeira geração, que são os cientistas políticos ditos modernos, ou alguns dizem americanizados, no Brasil. Mas esses cientistas políticos produziram vários textos sobre eleições. Tem um texto curiosamente bem interessante do Bolívar Lamounier dos anos 1960, acho que é 1968-1969, dizendo que a agenda de pesquisa sobre a relação entre raça e política é essa; tem um texto do Gláucio Ary Dillon Soares junto com Nelson do Valle Silva sobre voto e raça em uma das eleições que o Brizola ganhou; há também um texto do Amauri de Souza, que foi um cientista político importante nessa primeira geração e que também escreve sobre isso. Mas depois, na década de 1970, os textos sobre esse tema vão rareando e em 1980 e 1990 desaparecem. E agora eles são retomados.
Então, talvez o que falte seja uma maior consolidação de determinadas áreas temáticas, que consiga lidar justamente com o fato de que essas áreas temáticas merecem estudo mesmo quando esses temas se arrefecem no debate público. Eu acho que, de um lado, é isso. De outro, nós temos a questão que é de como essas áreas temáticas se organizam na prática, e nesse caso eu entendo que os congressos, por exemplo, têm um papel importante, e tradicionalmente no Brasil você tem um modelo em quase todos os congressos – talvez a ciência política seja um pouco diferente – mas, na maioria dos congressos, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais (ANPOCS), Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS), temos uma proposição de áreas temáticas, de grupos temáticos. E essa proposição acontece um pouco ad hoc, e a cada ano se abre para quais são as proposições que serão bem vindas e aí se aceita ou não uma área temática. Isso deixa essas áreas temáticas um pouco disformes. Há áreas temáticas que são sobre grandes temas, áreas temáticas que existem há vinte ou trinta anos, e há áreas temáticas que são muito efêmeras, que surgem circunstancialmente e muito específicas às vezes. Eu acho que já existe uma tendência dos congressos brasileiros em pensar como organizar essas grandes áreas temáticas.
A Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP), por exemplo, já surge com uma ideia de poucas áreas temáticas e essas áreas temáticas sendo referendadas pela assembleia geral e organizando de modo mais específico a ciência política brasileira. Isso tem vantagens, de organização das temáticas, que ficam mais consolidadas no tempo. Mas tem desvantagens, porque a emergência de novas temáticas é mais demorada. Por exemplo, a criação da área temática de raça e política é muito recente, ela não tem dois, três anos. Mas ao mesmo tempo, uma vez criada, ela ganha uma certa estabilidade, porque a gente sabe que vai continuar existindo nos outros congressos. Quando vamos, por exemplo, para a ANPOCS, há mais essas oscilações, áreas temáticas muito específicas e efêmeras, áreas temáticas mais gerais e duradouras, ou ainda áreas temáticas mais gerais que deixam de existir, também tem esses cruzamentos importantes. Então talvez a discussão seja menos sobre quais temas faltam – e sempre vão faltar temas e áreas temáticas inclusivas -, mas mais uma discussão sobre como se monta uma massa crítica em determinadas áreas temáticas que garantam uma certa continuidade da reflexão sobre elas no tempo. E eu entendo que os congressos e as revistas acadêmicas têm um papel fundamental nisso.
E sobre as ações afirmativas nessas áreas, como modo de apresentar essas novas temáticas, quais são os tipos de estudos que aferem os impactos das ações afirmativas no ensino superior público? E o que eles nos mostram em geral?
LAC: Em 2021, eu organizei junto com a professora Márcia Lima da USP e do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) um consórcio de pesquisas sobre o tema das ações afirmativas, focado especificamente nos resultados. Então tanto eu quanto a Márcia Lima temos estudos sobre ações afirmativas de mais de dez anos. Mas a verdade é que os resultados mais robustos só se tornaram acessíveis há pouco tempo, porque a gente começou a estudar ações afirmativas no início dessas políticas. E o Consórcio de Acompanhamento das Ações Afirmativas (CAA), que foi criado em 2021, buscava justamente coletar dados para fazer essas análises, já mirando 2022 como ano de avaliação dessas políticas – porque em 2022 completou-se vinte anos das cotas na UERJ, que foram as primeiras adotadas no Brasil, e dez anos da Lei 12.711/2012, que é a lei federal de cotas. Nós organizamos o consórcio em três eixos, e talvez o terceiro possa ser bifurcado.
Basicamente, no primeiro eixo, a gente entendia que avaliar as ações afirmativas dependia de uma análise do ingresso, ou seja, em que medida estudantes de baixa renda e estudantes pretos, pardos, indígenas e de escola pública estavam entrando no ensino superior público brasileiro. O segundo eixo é o de desempenho, performance e percursos acadêmicos. Então, uma vez dentro da universidade, como esses estudantes estão desempenhando e performando em termos de resultados acadêmicos, de rendimento. E um terceiro eixo seria o eixo de conclusão, isto é, em que medida eles estão concluindo os cursos. Um quarto eixo, que é mais difícil, mas está no nosso horizonte também, é justamente de inserção no mercado de trabalho. Então, em que medida as ações afirmativas conseguem mitigar os efeitos da discriminação racial depois dos cursos universitários?
Em termos de ingresso, essa talvez seja a dimensão que tem os dados mais interessantes e mais positivos no funcionamento da política. A gente tem uma mudança da composição das universidades que é drástica. Tínhamos, em 2001, 31% de pretos, pardos e indígenas; hoje são 52%. Você sai, em 2001, de 19% de pessoas de baixa renda para um número hoje também de 52%. A cara da universidade pública mudou no Brasil, num espaço de vinte anos, o que, historicamente, é um espaço de tempo pequeno. Lógico que há uma desigualdade entre os cursos, então isso é um dado importante. Houve um avanço, mas esse avanço não foi uniforme em todos os cursos. Nós temos cursos de alta concorrência que, em termos relativos, avançaram muito mais em termos absolutos, ainda que menos de 50% dos estudantes – muito embora a gente deva dizer que a cota não é propriamente de 50%, mas, enfim, essa é uma outra discussão.
Em termos de desempenho, os dados também são bem robustos e convergentes. O que a gente nota é que há uma diferença de desempenho entre cotistas e não cotistas. Na entrada da universidade, isto é, nos testes padronizados do ENEM, vestibular e SISU, há diferenças, mas elas são praticamente anuladas dentro da universidade. Então, mesmo que cotistas e não-cotistas tenham desempenho desigual nos testes na entrada, quando estão dentro da universidade, os índices de rendimento acadêmico se aproximam. Em média, tornam-se quase iguais. Aí você tem até um percentual de cursos em que cotistas vão melhor do que não-cotistas. Mas também é preciso dizer que você tem um percentual de cursos onde essas diferenças são grandes, sobretudo os cursos mais tecnológicos.
Em termos de conclusão, o que a gente tem é que as taxas de evasão são muito similares entre cotistas e não-cotistas. Ainda que a evasão seja um dado complexo, porque não necessariamente é bom, ela é algo muito ruim para a universidade, mas não é necessariamente algo negativo para quem evade. No Brasil, você tem muita evasão de estudantes que miram em cursos mais concorridos e normalmente passam antes em cursos menos concorridos. Por exemplo, o estudante quer fazer medicina e antes passa para odontologia, ou enfermagem. Então, ele evade quando ele consegue entrar em medicina, e por aí vai.
De todo modo, da perspectiva da universidade, do gasto público, cotistas e não-cotistas, têm taxas muito similares. Mas, talvez, haja aí um corte interseccional em algumas universidades. Quando a gente compara essas taxas de evasão, homens negros parecem ter taxas um pouco maiores do que mulheres negras, mulheres brancas e homens brancos. Para isso, e talvez o desafio que vai ficar para o consórcio, é tentar entender a partir dos dados a entrada no mercado de trabalho. Então, será que cotistas estão entrando no mercado de trabalho de modo mais efetivo, ou será que não estão? E como que está sendo essa inserção? De modo geral, eu diria que esses são os eixos de avaliação das políticas de cotas e os principais dados que a gente tem apresentado por aí.
Nesse sentido da efetividade das ações afirmativas, você acha que a questão de exigir um idioma estrangeiro é um problema?
LAC: Eu já pensei em desenhos de pesquisa para testar isso. A minha hipótese é de que é uma questão fundamental, sim. Só para se ter uma ideia, eu vou te dar um dado. Hoje em dia grande parte das universidades públicas aderiu ao SISU, ainda que não tenham aderido completamente. A própria Universidade de São Paulo (USP) tem algumas vagas que ela destina ao SISU, mas não são muitas. Mas ele é o grande sistema de seleção hoje – isso quer dizer que esse sistema é unificado e a aplicação das cotas se dá no SISU. No entanto, a universidade e os cursos, especificamente, decidem os pesos das notas. Então, o SISU calcula as notas das pessoas, mas quem define o peso de cada prova é a universidade e os cursos.
Se a gente pegar, por exemplo, os cursos hoje no Brasil, mesmo depois das cotas, qual é o primeiro curso mais branco na sua opinião? Claro, que Medicina. Mas o segundo curso mais branco é Relações Internacionais (RI). E depois vem Engenharia, Direito, Comunicação – os cursos mais tradicionais. A gente sabe que são cursos mais prestigiados e mais concorridos. Mas por quê Relações Internacionais? É óbvio que se trata de um curso muito prestigiado, mas não tem o prestígio dessas profissões imperiais, como medicina e engenharia. Uma das hipóteses é de que, na verdade, os cursos de RI botam muito mais peso para a língua estrangeira e, por isso, acabam tendo uma concorrência e excluindo mais as pessoas de perfil subalterno. No caso da pós-graduação, eu entendo que o grande dilema é que as pessoas dizem, “mas como é que alguém vai entrar na pós-graduação sem saber inglês?” E eu sempre inverto a questão; eu digo e questiono se é justo alguém não entrar na pós-graduação só porque não sabe inglês. Boa parte dos programas de pós-graduação usam provas eliminatórias; então para as pessoas que acreditam em gênio, talento inato, esse tipo de coisa… Então, imaginemos: a pessoa é genial, vai ser o maior filósofo do Brasil, mas não sabe inglês e é eliminada de muitos programas porque a prova de idioma é eliminatória. Portanto, de fato, o inglês exclui muito e talvez exclua do modo mais desproporcional. A gente sabe que as exatas excluem muito, matérias como matemática, química, física; mas o que exclui de um modo muito desproporcional é o inglês, porque ela é a matéria que, no caso da pós-graduação, é prova exigida quase universalmente por todos os programas de pós-graduação; ele acaba excluindo universalmente tanto das exatas quanto das humanas. Eu acho que isso é uma discussão pesada que a gente tem que fazer.
Ainda sobre esse tema, você consegue estabelecer uma diferença significativa entre o debate na imprensa no passado e no presente? Em 2006, tivemos o manifesto contra as cotas, mas em 2012 elas foram implantadas. Como estamos agora em 2022?
LAC: A diferença é gritante,se nós pegarmos o início do debate sobre as cotas até um pouco antes de 2006, como 2002, 2003 e 2004. Em 2005 e 2006, tínhamos um debate em primeiro lugar muito raso, muita opinião para pouco dado. Em segundo lugar, um debate que fazia prospecções que hoje são absurdas. É preciso dizer que lá em 2002, 2003, 2004, muita gente com muito prestígio dizia coisas como do tipo “o Brasil vai virar Ruanda”, ou “vai ter uma guerra civil motivada por raça”. Quando eu digo isso, fico com vergonha, porque parece que eu estou exagerando ou sendo sensacionalista, mas tem registro disso. Está escrito e publicado em jornal, escrito e publicado em livros. Nós tínhamos gente dizendo basicamente que todas as estatísticas, e pessoas de prestígio, que escreveram e publicaram livros, dizendo que todas as estatísticas geradas pelo IBGE e estudadas pela demografia e pela economia estavam erradas, propondo cálculos mirabolantes para dizer que o Brasil não tinha os níveis de desigualdade e discriminação que se imputa.
Então o debate avançou muito. Hoje tem muito mais sensibilidade para o dado para evidência empírica e para a perspectiva dos cotistas. Eu acho que essa mudança realmente é muito traumática. Eu não sei dizer se essa mudança aconteceu dentro do universo dos editores e gestores da imprensa, ou seja, no topo, digamos assim. Então, eu acho que a mudança aconteceu no nível dos jornalistas, no nível de muitos colunistas, no nível de muitos articulistas; mas acho que no topo da imprensa… Eu tenho dúvidas se hoje eles entendem o sucesso e o saldo positivo que foi a política de cotas. Os jornais, por exemplo, têm resistido muito a fazerem editoriais sobre o tema. O Globo fez um editorial mudando, digamos, de opinião. Mas a Folha não fez – ao contrário, no seu especial sobre o tema, reiterou a sua posição contrária. Então é isso, há uma mudança qualitativa expressiva. Agora, essa mudança também não pode ser vista como uma mudança total, eu acho que ainda existem gargalos e é importante esse debate.
Agora expandindo também para as corporações docentes, grupos de professoras(es), titulares que já têm carreira, você acha que houve mudanças? Isto é, considerando aquelas(es) que já estão mais estabelecidos na estrutura e conseguem mobilizar o poder dentro da universidade. Essa mudança na imprensa segue-se também nas corporações docentes ou não?
LAC: Olha, eu entendo que houve sim uma mudança. E ainda que seja da boca para fora, é uma mudança que precisa ser demarcada. Então eu acho que houve uma mudança no corpo docente em termos de opiniões e de visões sobre a política de cotas. E eu não teria dúvidas em chutar que, se eu pudesse comparar pesquisas de opinião entre os docentes feitas no início desse processo e agora, indicaria que temos uma abertura muito maior de docentes em relação a essas políticas de ações afirmativas. Agora de novo, eu acho que essa abertura avançou de modo desigual. Existe menos abertura na área das ciências exatas, mas nas ciências humanas mais; menos abertura nos cursos mais prestigiados, mais abertura nos cursos menos prestigiados. Quando a gente vai para discussão da pós-graduação, nós temos menos abertura ainda. Então você tem professores que defendem cotas na graduação e são contrários a cotas na pós-graduação.
E as cotas na pós-graduação têm uma outra característica, porque a pós-graduação no Brasil é muito autorregulada pelos próprios programas. Então uma coisa é você aceitar uma política pública que se impõe via conselho universitário ou via lei federal ou estadual, outra coisa é você produzir enquanto docente que está no programa de pós-graduação uma ação afirmativa e aplicar essa ação afirmativa, e esse segundo aspecto eu acho que ainda está muito defasado. É muito mais fácil você aceitar que seu curso vai receber todos os anos X alunos negros e X alunos de baixa renda, do que você dizer que o seu programa, agora nos seus métodos seletivos, vão ter que criar um modo para receber esses alunos. Isso é muito mais desafiador, sobretudo porque a gente não tem uma lei de ações afirmativas na pós-graduação. Então, evidentemente, houve mudanças, mas essas mudanças se deram de modo desigual nos cursos, nas áreas e nos níveis de pós-graduação.
* Este texto não reflete, necessariamente, as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC.
[1] Doutor e Pesquisador de Pós-Doutorado no Departamento de Ciência Política da USP e no Grupo de Pesquisa Soberania Popular em Perspectiva Histórica (CNPQ-USP) e membro da equipe editorial do Boletim Lua Nova/Cedec
Fonte Imagética: Imagem gentilmente cedida pelo entrevistado.