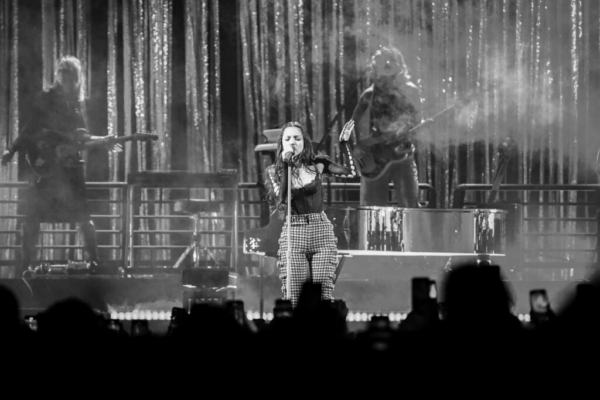“Antes, eu era pobre. Agora, sou pobre e endividado.”
Frase anônima brasileira.
Lena Lavinas[1]
Maria Paula Bertran[2]
25 de agosto de 2025
***
Este é o primeiro texto de uma série de três. O artigo abaixo descreve como o comprometimento da renda com dívidas se transformou na rotina das famílias brasileiras. O segundo artigo vai abordar o papel do Governo Federal para aprofundamento deste ambíguo processo, em que políticas públicas paradoxais reforçam o rentismo e a desigualdade. Por fim, o último artigo da série vai apresentar possibilidades e alternativas.
***
I – O problema
Quem lê a grande mídia nacional ou acompanha noticiários na televisão tem se familiarizado com matérias cada vez mais frequentes sobre inclusão e educação financeira, bancarização, temas que são igualmente abordados nas redes dos milhares de influenciadores que diariamente dão dicas sobre gestão financeira. Levantamento recente da FInfluence, realizado pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) identificou 741 “finfluenciadores” digitais ativos, sendo a grande maioria, 576, pessoas físicas. O número de perfis corporativos monitorados soma 165. Não apenas essa categoria de influenciadores engrossa a cada dia (+ 30% em um ano), como eles registram, a cada nova publicação, uma média de quase 3.000 interações do público.
O que buscam seus seguidores? Pistas para investir, acompanhar o mercado, mas também orientações de como sair do vermelho. Isso porque a dívida das famílias junto ao setor financeiro é hoje preocupação no topo das angústias de cada dia. A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio (CNC), metodologicamente embasada na autodeclaração de entrevistados, indica a percepção de que 78,2% das famílias brasileiras estavam endividadas em maio de 2025. Desse grupo, 29,5% das famílias tinham contas em atraso no mesmo mês, maior nível desde outubro de 2023. Ainda, 12,5% das famílias declararam não ter condições de pagar dívidas vencidas, o que as fará permanecer inadimplentes.
Os dados mais recentes do Banco Central do Brasil, por sua vez, que não capta endividamentos de fora do sistema financeiro, tais como crediário de lojas ou dívidas de luz e água, indicam que o nível de endividamento das famílias brasileiras atingiu 48,7% da renda disponível acumulada nos últimos doze meses em janeiro de 2025, um dos maiores patamares da série histórica. Além disso, o comprometimento da renda familiar com o pagamento de dívidas subiu para 27,3% em janeiro de 2025 (ou 25,1% sem considerar crédito imobiliário), também segundo o Banco Central.
O percentual de endividamento das famílias brasileiras em relação ao PIB está atualmente em torno de 30%, conforme os dados mais recentes disponíveis para o quarto trimestre de 2024, segundo dados da Trading Economics consultoria. Esse índice representa a razão entre o estoque de dívidas das famílias e o Produto Interno Bruto do país, um patamar considerado baixo quando comparado a outras economias. Países como Alemanha, Japão e Estados Unidos indicam percentuais em torno de 70% do PIB.
O argumento é recorrentemente citado para sugerir que existe espaço para aumento do endividamento das famílias brasileiras. Contudo, pelo menos dois fatores diferenciam o Brasil e os países normalmente citados em relação ao percentual de endividamento: o motivo pelo qual as famílias se endividam e a desigualdade local. Enquanto os países desenvolvidos se endividam principalmente para aquisição da casa própria e financiamento estudantil – no caso dos americanos, também as dívidas com despesas de saúde –, os brasileiros se endividam por comida e remédios, pelas estratégias maliciosas dos piores agentes do sistema financeiro, pelo ciclo de endividamento gerado pelos altos juros dos endividamentos pretéritos. São clientes do crédito de consumo não direcionado, de fácil acesso agora. Em um contexto de famílias empobrecidas, estas se endividam para financiar a vida diária, chegam ao final do mês e passam a viver com frações do que poderiam ter, mesmo no ambiente de baixa renda.
A relativa facilidade de acesso ao crédito, especialmente pelo uso do cartão de crédito, mas também pelo empréstimo consignado, aliada a altas taxas de juros – spreads bancários astronômicos, mesmo quando há garantias de colateral, como no caso dos empréstimos consignados –, contribuiu para a rápida escalada do endividamento. Segundo a Serasa, 69% das compras feitas no cartão de crédito são destinadas a supermercados, seguidas por roupas, eletrodomésticos e medicamentos. Isso evidencia que o endividamento, em muitos casos, é uma estratégia de sobrevivência diante da insuficiência de renda.
O endividamento é mais acentuado entre famílias de renda mais baixa — 81% das famílias com até três salários-mínimos possuem dívidas, enquanto o índice cai para 69,8% entre aquelas com renda acima de dez salários mínimos.
“Troca com troco”
Teoricamente, uma dívida é feita para a obtenção de recursos com um propósito específico. A quitação integral da dívida é a expectativa contratual clássica de um contrato de crédito. Isso não acontece no Brasil. O processo de endividamento das famílias brasileiras, especialmente com o protagonismo do crédito consignado, mas também do cartão de crédito, se estrutura, na prática, sobre a perpetuidade e sobre o comprometimento permanente da renda dos indivíduos.
A expressão “troca com troco”, utilizada por Ione Amorim, por muitos anos economista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), descreve a situação em que o consumidor substitui uma dívida por outra e recebe a diferença em dinheiro — o chamado “troco”.
No contexto do crédito consignado, a “troca com troco” ocorre quando o aposentado(a) ou pensionista, ou ainda o beneficiário de uma transferência monetária pelo Estado e, desde 2025, também o trabalhador da iniciativa privada, quita um empréstimo consignado antigo com um novo, de valor maior, e recebe a diferença em espécie. Ou seja, ao renovar o empréstimo, parte do valor é usada para pagar a dívida anterior e o restante é liberado como mais dinheiro ao consumidor e uma forma de torná-lo cativo do endividamento. Segundo Ione Amorim, essa prática é frequentemente incentivada pelos bancos, especialmente quando há reajuste salarial, perpetuando o ciclo de endividamento, pois o consumidor acaba assumindo uma nova dívida para quitar outra, muitas vezes com juros acumulados e sem clareza das consequências dessa mudança.
Ilícito lucrativo
O fenômeno do ilícito lucrativo no setor de crédito brasileiro representa uma das faces mais sofisticadas das práticas abusivas nas relações de consumo. Grandes instituições financeiras calculam que a manutenção de condutas ilícitas é mais vantajosa economicamente do que o cumprimento rigoroso da legislação consumerista. Trata-se de um comportamento sistemático, no qual a infração deixa de ser um risco e passa a ser incorporada como parte do modelo de negócios, dada a baixa expectativa de fiscalização efetiva e de sanções suficientemente dissuasórias.
No setor de crédito, o ilícito lucrativo manifesta-se por meio de cobrança indevida de tarifas e encargos não previstos ou não informados adequadamente ao consumidor; retenção de valores e demora proposital na devolução de quantias devidas; venda casada de produtos e serviços financeiros; falta de transparência na apresentação de contratos e extratos, dificultando o acesso do consumidor à informação clara e precisa sobre suas obrigações e direitos e até mesmo empréstimos jamais solicitados.
Essas práticas são facilitadas por fatores estruturais, como a vulnerabilidade dos consumidores brasileiros, a assimetria de informação entre bancos e consumidores e a timidez judicial e administrativa em sancionar condutas ilícitas, o que torna as infrações economicamente racionais para as instituições financeiras.
Potencialmente, para além dos problemas econômicos do endividamento da população, a sociedade brasileira é desproporcionalmente onerada pela expectativa extremamente provável de, a partir do momento do primeiro empréstimo, ser vítima de um conjunto de abusos e práticas ilícitas que dificultam e até mesmo impedem a possibilidade de quitação plena de suas dívidas.
Como chegamos a isso?
De maneira relativamente superficial, indicamos que dois fenômenos sociais marcantes caracterizam o primeiro quarto do século XXI e criaram a condição para o grave cenário acima.
De um lado, observa-se um processo de bancarização em massa das classes populares e de “inclusão financeira” levado a cabo nos países do Sul Global, promovendo o acesso ao sistema de crédito e ao sistema financeiro em geral. Com isso, centenas de milhões de pessoas, antes consideradas de alto risco (por não disporem nem de garantia para as dívidas, o colateral, nem de rendimentos regulares), passaram a ser titulares de contas bancárias, fenômeno facilitado pela digitalização e pela telefonia celular.
As fintechs (acrônimo das palavras tecnologia e financeira) permitiram reduzir custos para o setor financeiro (eliminação de unidades de atendimento, novos instrumentos de avaliação de credit score em tempo real, novas linhas de crédito focalizadas em determinados grupos, entre outros). As fintechs permitiram também que bancos tradicionais criassem ou investissem em novos formatos, com mais capilaridade, sem ligação direta com a marca central do conglomerado financeiro e, portanto, sem prejuízos reputacionais para a marca central.
De outro, a consequência imediata, vinda em crescendo incessante, foi o forte aumento do grau de endividamento das famílias. Endividamento para consumo não-direcionado e livre, ou seja, para aquisição de bens comuns, mas não a casa própria, ou o financiamento agrícola ou do empreendedor. Esse crédito torna-se rapidamente indispensável à sua reprodução social, sendo agora complemento inegociável da renda familiar e individual.
A “inclusão financeira” não significou autonomia. A “inclusão financeira” significou a transformação do crédito em complemento indispensável da renda familiar. O crédito deixou de ser um instrumento de alavancagem social para se tornar um meio de paradoxal sobrevivência, no qual a dívida das famílias lhes compra a subsistência imediata e aniquila a capacidade de subsistência a longo prazo. O endividamento contínuo compromete parcela crescente do orçamento familiar com o pagamento de dívidas e juros, perpetuando a dependência das famílias em relação ao sistema financeiro.
Como não poderia deixar de ser, aumento do endividamento significa também explosão da inadimplência. Relacionado com a bancarização, mas com consequências dramáticas para quem declara default. A situação envolve perda de direitos, novos riscos, violência, exclusão. A elevação da inadimplência é vista como ameaça de risco sistêmico ao setor financeiro, reduzindo sua rentabilidade e freando a expansão da oferta de crédito, o que faz encolher o mercado mundial de dívidas.
Quaisquer que sejam as cifras e os montantes estimados, claro está que se tornou urgente formular alternativas para dirimir o bloqueio que tal realidade traz ao reaquecimento do mercado doméstico, ao inibir o consumo das famílias trabalhadoras. Nesse contexto, o Governo Federal lançou, em julho de 2023, o Desenrola Brasil, cuja finalidade consistiu, teoricamente, em oferecer condições para que as pessoas negativadas pudessem renegociar suas dívidas. Assim, reduziriam seus graus de vulnerabilidade financeira, restabelecendo a capacidade de endividamento necessária à retomada de um novo ciclo de expansão financeira. Afinal, o próprio Banco Central (2023) reconheceu que a elevada alavancagem das famílias e as perdas crescentes que tal alavancagem impôs ao setor financeiro provocaram a retração da oferta de crédito às famílias e colocaram em xeque a rentabilidade dos bancos.
O Banco Central, em seu Relatório de Economia Bancária de 2022, fez três observações determinantes da rentabilidade dos bancos naquele ano:
i) o fator predominante nas carteiras de crédito dos bancos é o crédito destinado às famílias (65% do estoque de crédito em 2022, proporção dominante desde 2016);
ii) os tomadores individuais continuam respondendo pela maior parte da receita com juros de empréstimos, ou seja, 73%;
iii) 76% da receita com juros proveniente desses tomadores tem origem no crédito ao consumo (e não no crédito imobiliário ou no crédito direcionado).
Portanto, fica claro que são as famílias na cauda inferior da distribuição que asseguram a alta rentabilidade dos bancos privados brasileiros às custas de uma vida pendurada em dívidas.
Contudo, a escala e a rapidez com que esse fenômeno de bancarização se alastra foram possíveis através da “colateralização da política social” (Lavinas 2020), isto é, mediante a intervenção do Estado que, ao assegurar transferências monetárias de renda regulares a famílias pobres e vulneráveis, torna-se o fiador do colateral que faltava a essas famílias para ingressarem no sistema financeiro.
Esse é o segundo fenômeno que explica a explosão do endividamento das famílias: a colateralização da política social foi a força motriz que garantiu que pessoas sem histórico de crédito e com renda instável, em razão de sua inserção precária no mercado de trabalho, tivessem acesso à chamada “cidadania financeira”, isto é, a incorporação das classes trabalhadoras à marcha da financeirização.
Mas a cidadania financeira não impede a explosão da inadimplência, muito pelo contrário. Elas se retroalimentam e acabam por colocar em xeque a regra de ouro da acumulação financeira — a expansão da dívida e, portanto, a reprodução do capital portador de juros. Cidadania financeira e níveis crescentes de inadimplência andam juntos, embora impactem distintamente o sistema financeiro. Logo, assim como o Estado garantiu a colateralização da política social quando o objetivo era ampliar o mercado de crédito e consolidar a lógica rentista, ele assume agora o papel de evitar o colapso da dependência da classe trabalhadora em relação ao sistema financeiro devido à inadimplência, desenvolvendo mecanismos de gestão da dívida, para resolver o nó da inadimplência.
Se o gasto social que garante as condições de reprodução está comprimido pela prevalência da austeridade e se o financiamento da sobrevivência via endividamento é estrangulado, como evitar o desastre? Se antes era necessário flexibilizar as regras de acesso ao mercado de crédito pelas massas, com apoio do Estado, agora trata-se de flexibilizar as regras que negam sua permanência. É por isso que o Estado passou a assumir a gestão do endividamento crônico como forma de enfrentar as contradições que a própria acumulação rentista engendra, criando o Desenrola.
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
[1] Professora Titular do Instituto de Economia da UFRJ e Pesquisadora Visitante do CENEDIC-FFLCH/USP.
[2] Professora Associada da USP, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, no Programa Ano Sabático do Instituto de Estudos Avançados da USP ao longo de 2025.
Fonte imagética: Imagem elaborada pelas autoras com auxílio de Inteligência Artificial.