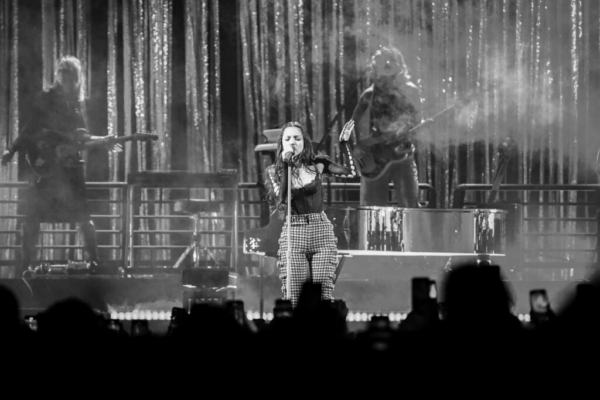Christina Queiroz1
Luís Augusto Meinberg Garcia2
Matheus Menezes3
1 de outubro de 2025
Divulgamos no blog Boletim Lua Nova a introdução do dossiê “Novas visões sobre a diáspora”, organizado pelos pesquisadores Christina Queiroz, Luís Augusto Meinberg Garcia e Matheus Menezes, financiado pela Cátedra Edward Saïd de Estudos da Contemporaneidade da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). A leitura do texto é de grande importância para qualificar as discussões sobre a diáspora árabe, uma vez que apresenta a colaboração de pesquisadores de diversas áreas com o propósito de ampliar um campo de estudos que se mostra em contínua expansão e aberto a novos olhares.
Certa vez, em um seminário sobre as relações entre a América Latina e o mundo árabe, um dos organizadores deste dossiê escutou de uma interlocutora que o tema da diáspora árabe no Brasil já tinha sido explorado suficientemente, havendo poucos vieses a serem aprofundados nesse campo de pesquisa. Intrigados com a provocação, em conversas e reuniões realizadas no âmbito de projeto de pesquisa sobre a imigração árabe, financiado pela Cátedra Edward Saïd de Estudos da Contemporaneidade da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), os três pesquisadores do estudo se propuseram a elaborar um dossiê que evidenciasse novas perspectivas possíveis para pensar esse fluxo migratório.
Assim, este dossiê que, junto com outros artigos, compõem o volume atual da Exilium, foi elaborado a partir da colaboração de antropólogos, historiadores, tradutores, sociólogos e pesquisadores dos estudos literários, vinculados a instituições de diferentes partes do Brasil e do mundo e em distintas etapas da carreira acadêmica. Ao reunir vozes diversas e dispersas pelo território nacional, seu propósito é trazer novos olhares para pensar a diáspora árabe no Brasil, colaborando com o alargamento de um campo de estudos que, no país, começou a estabelecer-se em meados da década de 1980. Traduções inéditas do árabe – incluindo textos considerados centrais à literatura do Mahjar – a história de mulheres jornalistas imigrantes, as relações do mundo árabe com os malês e reflexões sobre o processo de racialização dos árabes são alguns debates que permeiam este número. Essa diversidade de visões e entradas no tema da diáspora também reflete a trajetória dos próprios organizadores: um antropólogo, uma pesquisadora da literatura da imigração e um pesquisador vinculado ao universo da tradução. Em comum, os autores apresentam o interesse por desvendar nuances pouco conhecidas desse campo de estudos.
E, para começar, este número especial abre com uma entrevista realizada com Oswaldo Truzzi, sociólogo da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) que, na década de 1980, começou a preencher lacunas significativas existentes na produção acadêmica do Brasil sobre os imigrantes árabes. Na entrevista Cartografias da imigração: Oswaldo Truzzi e a diáspora árabe no Brasil, Truzzi rememora a sua trajetória, que se confunde com o desenvolvimento desse campo de estudos. Segundo ele, no Brasil, os estudos migratórios surgiram, em grande parte, a partir de iniciativas isoladas e projetos interdisciplinares que buscavam compreender os impactos sociais, econômicos e culturais da presença de imigrantes árabes no país. No caso específico da imigração sírio-libanesa, Truzzi conta que a sua escolha por trabalhar com o tema se deu, de certa forma, por acaso, em razão da divisão de tarefas estabelecidas entre o grupo de pesquisa no qual atuava. Ainda assim, logo em seus primeiros trabalhos, ele construiu uma abordagem inovadora ao cruzar análise documental, entrevistas e comparações internacionais, contribuindo para consolidar os estudos migratórios sobre os árabes como um campo fértil nas ciências sociais brasileiras. Além disso, ele destaca a necessidade de produção de novas pesquisas sobre refugiados do Oriente Médio, redes de acolhimento e a preservação das culturas árabe-brasileiras através da literatura e a tradução.
Em artigo sobre a construção da memória sírio-libanesa no Brasil, intitulado A seleção da memória sirio-libanesa no Brasil, Bruno Bou Haya questiona a imagem que se cristalizou no imaginário brasileiro, sobre os árabes terem saído da vida de mascate até se tornarem doutores. Para isso, ele se apoia no conceito de enquadramento da memória, do sociólogo austríaco Michel Pollak (1948-1992), enfatizando que membros de um grupo social podem herdar uma memória coletiva mesmo sem vivenciá-la. Ao resgatar exemplos de histórias esquecidas, ele defende que a memória da imigração deve ser pensada a partir de novos elementos e personagens.
No processo de construção dessa memória, a imprensa desempenhou papel central. Muna Omran, em Retratos de um povo invisível: como a mídia brasileira retratou os imigrantes árabes no início do século XX, analisa as representações dos imigrantes árabes na imprensa brasileira durante o auge da imigração sírio-libanesa, especialmente nas primeiras décadas do século XX. Fundamentada nas ideias do crítico literário palestino Edward Said (1935-2003) e do sociólogo francês Pierre Bourdieu (1930-2002), ela argumenta que a midia brasileira construiu narrativas ambiguas sobre os imigrantes, oscilando entre a exotização e a estigmatização. Seu artigo destaca que, enquanto a grande imprensa reforçava uma imagem estereotipada – associando os árabes à astúcia e à alteridade cultural – a comunidade árabe respondeu com a criação de jornais próprios, buscando preservar a língua, a cultura e as lutas contra o colonialismo.
Em um trabalho autoetnográfico, intitulado Descobrir-se – Tornar-se: Um esboço de autoetnografia sobre a identidade árabe-diaspórica em São Paulo, Gustavo Racy reflete sobre a noção de identidade árabe a partir da experiência de ser árabe-diaspórico em São Paulo. O artigo destaca os acontecimentos de 7 de outubro de 2023 quando o Hamas atacou o kibutz Nahal Oz, em Israel – como um novo marco à construção do imaginário sobre árabes no mundo ocidental, especialmente em razão do papel desempenhado pelas mídias sociais. O texto é crítico ao afirmar, a partir de experiências pessoais do autor, que a cultura árabe se tornou um produto a ser consumido pela classe média paulistana. Além disso, ele sustenta que a memória da presença árabe em São Paulo se perdeu em categorias estereotipadas que permanecem residuais no imaginário local.
Também em artigo autoetnográfico, José Rafael Medeiros Coelho propõe, em Notas autoetnográficas sob escombros: desenterrando os últimos vestígios do patrimônio árabe cristão entre Antioquia e o Brasil, uma reflexão sobre os impactos dos terremotos de fevereiro de 2023 em Antióquia, na Turquia, em sua pesquisa sobre a diáspora cristã árabe no Brasil. A destruição da cidade, que afetou gravemente a comunidade árabe cristã da região, levou-o a adotar uma reformulação metodológica de seu trabalho de campo, passando a adotar uma abordagem baseada no resgate de fragmentos de memória, ou seja, testemunhos orais, objetos, fotografias e genealogias familiares. O texto reconstitui o percurso etnográfico do autor entre 2020 e 2024, narrando experiências no Mercado de Ourives e com membros da comunidade antioquina, incluindo a descoberta de uma fotografia histórica que simboliza a conexão entre Antióquia e São Paulo.
O artigo Entre a tradição e a globalização: revivalismo institucional em comunidades cristãs árabes no Brasil, de Rodrigo Ayupe, investiga projetos de revivalismo religioso empreendidos por instituições cristãs árabes no Brasil, como resposta à crise de afastamento de fiéis de origem árabe de espaços religiosos tradicionais. Com base em pesquisa etnográfica realizada entre 2022 e 2024 em comunidades no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, o autor analisa dois casos: a Catedral Ortodoxa Antioquina São Nicolau, no Rio de Janeiro, e a Paróquia Maronita São Charbel, em Campinas. O estudo destaca que, embora articulados com autoridades eclesiásticas do Oriente Médio e da diáspora, os projetos revivalistas dependem de dinâmicas locais para serem bem-sucedidos. Ao analisar essas estratégias, o autor argumenta que as instituições religiosas árabes no Brasil continuam a desempenhar papel relevante na construção de identidades diaspóricas na era da globalização e da secularização, adaptando-se e reinventando-se frente a desafios contemporâneos.
Já o ensaio Lembrar é fácil, difícil é esquecer: memórias de mulheres palestinas, com viés autobiográfico, abarca as memórias de mulheres brasileiras com ascendência palestina. Assinado por Ashjan Sadique Adi, Elizabeth Hazin e Hanin Majdi Waleed Mustafa Kassem Dawud, o texto aborda um tema urgente: as consequências nefastas na Nakba palavra em árabe que significa catástrofe na vida de famílias palestinas, trazendo relatos e experiências em primeira pessoa.
O sentimento de pertencimento a uma nação é tema do artigo Identidades libanesas: los desafíos del sentimento de pertenencia y las diferenças con la comunidad libanesa en la diáspora en Brasil, escrito por Luana Menezes, que discute as experiências de libaneses que permaneceram em seu país de origem, comparadas com as vivências daqueles que imigraram. O objetivo é demonstrar como essa comunidade na diáspora mantém vínculos com a terra-mãe. A hipótese do artigo é que há diferenças no sentimento de pertencimento a uma nação libanesa entre os residentes do Líbano e a comunidade diaspórica. Para a análise, são examinados dois livros: a obra de ficção Relato de um certo Oriente, de Milton Hatoum, e o livro de história Os Libaneses, de Murilo Meihy.
Com o propósito de elaborar interpretações sobre como as memórias do corpo e dos sentidos agenciam e participam de práticas na rotina de um restaurante, Guilherme Vasconcellos Leonel, no artigo “Essa shawarma não é a nossa, mas tem que ser assim”: a culinária e a memória sensorial da Síria em um restaurante árabe de Florianópolis, realizou um trabalho etnográfico em um restaurante árabe de Florianópolis. No texto, ele mostra como a memória da Síria é acionada no espaço de um estabelecimento de identidade marcadamente árabe da capital catarinense.
A comida também é ponto de partida de artigo assinado por Gisele Chagas e Huda Bakour, intitulado “Chegamos ao Rio e não sabemos onde estamos”: Refugiados sírios e o comércio de esfihas e quibes no Rio de Janeiro. Elas exploram as maneiras pelas quais jovens sírios, que chegaram ao Rio de Janeiro como solicitantes de refúgio devido à guerra na Síria, narram suas experiências cotidianas por meio da venda de esfihas e quibes. Essa atividade laboral não só constituiu a sua principal fonte de renda, mas também funcionou como um meio para que pudessem alcançar visibilidade positiva no espaço público, embora não sem conflitos. A tese das autoras é que o relativo êxito obtido por eles na venda de salgados nas ruas do Rio de Janeiro está intrinsecamente ligado à presença histórica da comunidade árabe na cidade e aos seus modos de pertencimento à Síria.
O dossiê também reúne resultados de pesquisas de jovens pesquisadores e tradutores do árabe, que têm ajudado a descortinar aspectos da imprensa histórica no Brasil. Assim, Diogo Bercito, em O Vinhedo de Salwa Atlas: gênero e nacionalismo na comunidade síria de São Paulo resgata a história da jornalista Salwa Atlas (1883-1949), uma das fundadoras do Club Homs e editora da revista feminina Al Carmat, que circulou entre 1914 e 1948. Atlas foi uma importante voz no debate nacionalista sírio em São Paulo, no início do século XX. Escreveu por décadas sobre o papel da mulher na Síria, prescrevendo ideais de comportamento e moral. O texto joga luz sobre a trajetória dessa mulher, que ficou esquecida da memória da imigração, incorporando análises de fontes em árabe e uma entrevista realizada com uma neta da autora. Além disso, o artigo traz dados impressionantes sobre o alcance da revista, que circulava em cidades como Homs, Hama, Alepo, Beirute, Trípoli, Zahle, Java, Haifa, Nazaré, Alexandria, Paris, Nova York e Buenos Aires.
A Revista da Liga Andaluza de Letras Árabes, publicação que, assim como Al Carmat, é considerada central à literatura do Mahjar, é objeto de análise de Matheus Menezes no artigo A Revista da Liga Andaluza de Letras Árabes: uma história em quatro atos. O autor fez as primeiras traduções conhecidas do árabe para o português de textos publicados na revista. Editada entre 1935 e 1953, o periódico funcionou como espaço de produção e circulação da literatura árabe em São Paulo, ao mesmo tempo em que reafirmava a identidade cultural da comunidade imigrante. A partir dos editoriais que marcaram diferentes fases da publicação, o artigo traça um panorama histórico da revista e evidencia os dilemas enfrentados por seus editores diante de políticas nacionalistas do Estado Novo (1937-1945), que restringiam a atuação da imprensa estrangeira. Além de investigar o papel da literatura como vetor de coesão identitária e cultural, o texto insere a revista no contexto mais amplo do Mahjar, revelando como os imigrantes árabes no Brasil contribuíram à manutenção e a renovação do pensamento literário árabe em terras latino-americanas.
Como resultado de pesquisa realizada em edições da revista O Oriente, publicadas entre 1928 e 1974, três autores do dossiê analisam diferentes aspectos da publicação, uma das mais longevas do Mahjar nas Américas. No artigo Sensibilidades compartilhadas na imprensa árabe diaspórica: reflexões sobre nacionalismo árabe e ‘nasserismo’ em 0 Oriente, Luís Augusto Meinberg Garcia argumenta que a publicação funcionou como ferramenta de mediação cultural e política à formação de subjetividades árabes em um contexto diaspórico. A revista, bilingue, funcionou como espaço de articulação entre tradição e modernidade, abordando temas culturais, sociais e políticos, com ênfase no nacionalismo árabe e no pan-arabismo. O texto destaca a influência da Nahda e do Mahjar na produção intelectual da diáspora, contextualizando a importância de O Oriente na preservação da identidade árabe no Brasil. Já o artigo Mussa Kuraiem: um intelectual fronteiriço entre a tradução do mundo árabe e os estereótipos orientalistas, de Christina Queiroz, reflete sobre as ambivalências na construção do imaginário sobre os árabes no Brasil, a partir de textos publicados na revista. O Oriente tinha o objetivo de traduzir a cultura e a geopolítica do Oriente Médio para o público brasileiro. Contudo, ao mesmo tempo em que combatia estereótipos orientalistas, frequentemente recorria a imagens exóticas, como odaliscas e beduínos, reforçando esses estereótipos. O artigo também destaca o papel de Mussa Kuraiem (1894-1974), seu fundador e editor, como intelectual fronteiriço, atuando entre o Brasil e o mundo árabe, e questiona o apagamento de sua obra da historiografia literária brasileira. Por sua vez, Leonardo Landucci, no artigo Os efeitos da campanha de nacionalização de Vargas na comunidade sírio-libanesa: monolinguismo e estratégias linguístico-identitárias na revista ‘O Oriente‘, analisa a construção identitária da comunidade sírio-libanesa como grupo social, refletindo sobre suas estratégias linguístico-identitárias. Partindo de um número editado em 1942, o autor considera os impactos da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e as políticas monolinguísticas de Getúlio Vargas durante o Estado Novo (1937-1945) na imprensa imigrante.
Também centrado em um autor vinculado ao Mahjar, Alberto Sismondini, em Orientalismo e a estética do desejo em ‘Alkamar, a minha amante’, de Jamil Almansur Haddad, examina a redescoberta crítica da obra de Jamil Almansur Haddad (1914-1988), poeta e intelectual brasileiro de origem libanesa, cuja produção literária une erotismo, exotismo orientalista e rigor estético. Publicado em 1935, o livro Alkamar, a minha amante articula imagens orientalistas do Oriente – como haréns, sultões e paisagens sensuais com uma lírica inspirada no simbolismo europeu e na estética decadentista de autores como o poeta e dramaturgo italiano Gabriele D’Annunzio (1863-1938). O texto também analisa como Haddad, apesar de influenciado por modelos europeus, constrói uma voz própria marcada pela introspecção e tensão identitária, desafiando os paradigmas do modernismo brasileiro.
Acompanhando discussões que marcam o espírito do tempo, John Tofik Karam, no artigo Tornando-se árabe e branco no Brasil de Oracy Nogueira trata da inserção dos imigrantes médio-orientais na sociedade brasileira, sustentando que ela ocorreu por meio de um processo de rejeição da negritude. Ao tomar como ponto de partida trabalhos do sociólogo brasileiro Oracy Nogueira (1917-1996), Karam observa que, no Brasil, esses imigrantes passaram a ser identificados como “árabes e brancos”. Para sustentar seu argumento, Karam mostra que Nogueira, em seus estudos sobre o racismo, destaca que os imigrantes médio-orientais evitaram a miscigenação com afro-brasileiros, preferindo casamentos e relações com luso-brasileiros ou euro-brasileiros. O artigo faz uma análise crítica sobre a assimilação de imigrantes e propõe que a expectativa de branqueamento não se limitava a afrodescendentes, mas se estendia a outros estrangeiros, que precisavam se desvencilhar de seus marcadores culturais para serem aceitos como brancos.
Como parte de um conjunto dedicado ao universo das traduções, o artigo Breve inventário dos manuscritos em grafia árabe produzidos por negros muçulmanos no Brasil oitocentista, de Fernanda Pereira Mendes, trata da fascinante e pouco conhecida produção manuscrita em grafia árabe realizada por negros muçulmanos no Brasil no século XIX, em especial no contexto da Revolta dos Malës (1835). Após o levante, houve forte repressão e criminalização dos manuscritos em árabe, que passaram a ser vistos como instrumentos subversivos. Embora muitas vezes reduzidos à função de amuletos mágicos, os documentos revelam uma ampla cultura letrada, com textos que incluem não só preces e suras do Alcorão, mas também citações de clássicos da literatura árabe e evidências de práticas místicas como o sufismo. O artigo faz um levantamento de manuscritos, compostos por fragmentos e livretos de origem baiana e pernambucana, incluindo textos em árabe magrebino e ajami (línguas africanas escritas com caracteres árabes, como haussá e mandinga). A autora destaca a importância desses manuscritos para a história da escravidão, a imigração africana e a língua árabe no país, argumentando que o estudo desse acervo transcende o tema da escravidão e deve ser integrado à história literária e cultural brasileira, como uma expressão de uma literatura manuscrita afro-islâmica.
No artigo Sobre tradução e política. Um projeto para os Arquivos sentimentais de uma guerra no Líbano, de Nadia Tuéni, Maria Teresa Mhereb apresenta um projeto de tradução para o português brasileiro do livro Archives sentimentales d’une guerre au Liban (1982), da poeta libanesa Nadia Tuéni. Mhereb, descendente de palestinos-libaneses exilados no Brasil, defende que traduzir é intervir na circulação de saberes e experiências não-hegemônicas, especialmente entre comunidades do Sul Global. Em linha com um debate recente que busca visibilizar a importância de tradutoras na circulação da literatura pelo mundo, Mhereb enfatiza o papel dessas mulheres como sujeitos políticos, afirmando que a tradução pode ser uma prática de resistência anticapitalista e anticolonial. O artigo discute, ainda, estratégias para a circulação da tradução fora de circuitos comerciais hegemônicos, visando fortalecer lutas sociais e democratizar o acesso à literatura árabe francófona no Brasil.
Michel Sleiman, em Tradução e comentário do Canto IX de Abqar, de Chafic Maluf, traduz o Canto IX de Abqar, do poeta Chafic Maluf (1905-1976). Escrito em árabe clássico e metrificado no tradicional Rajaz, o Canto IX subdivide-se em três partes: Na mata das huris, Revolta no inferno e Hino das putas, compondo uma narrativa poética que mescla temas míticos, religiosos e sociais. Sleiman destaca que Abqar constrói um universo à parte da concepção tradicional de paraíso, inferno e purgatório, ambientado em uma geografia mítica de seres extraordinários (djinns, huris, espectros), onde o poeta, guiado por seu gênio, explora realidades limítrofes. O Canto IX, em especial, subverte imaginários religiosos tradicionais, apresentando as huris não como virgens celestes, mas como figuras de prazer libertário. Ou seja, prostitutas revoltadas contra Deus por sua condenação e exclusão até mesmo do inferno. Essa crítica religiosa do poeta se realiza através de uma reelaboração de temas corânicos e bíblicos, explica Sleiman, em diálogo com tradições pré-islâmicas e mitologias locais. O poema já contava com uma tradução para o português, realizada em 1949, mas sem o rigor léxico e poético adotado por Sleiman em seu trabalho seminal. Sleiman também assina, junto com Laura Faria Porto Borges, a Tradução Chânfara: poética da recusa (šanfara: šicrīyat ar-rafd), de Adonis, a tradução inédita do árabe de um ensaio do poeta e ensaísta sírio Adonis sobre o poeta pré-islâmico Chânfara.
Por fim, o dossiê traz dois relatos em primeira pessoa. Em Gênese do projeto de digitalização da memória da imigração árabe no Brasil, Silvia Antibas descreve a trajetória de implementação do projeto de digitalização da memória da imigração libanesa no Brasil, idealizado pela Universidade de Saint-Esprit de Kaslik (USEK) e acolhido pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira (CCAB). A iniciativa visa preservar documentos históricos da diáspora sírio-libanesa, como livros, periódicos, fotos e atas, por meio da digitalização e a inclusão em um banco de dados internacional. A autora, historiadora convidada para integrar o projeto, detalha os desafios institucionais, as parcerias firmadas com universidades e fundações, e o papel da CCAB no suporte técnico e institucional à iniciativa. O projeto já digitalizou mais de 140 mil imagens e envolve acervos públicos, privados e familiares de todo o Brasil, abrindo portas e possibilidades para novas pesquisas, abordagens e visões sobre a diáspora árabe no Brasil.
Soraya Smaili, por sua vez, em Encontros no exílio: o lugar para onde podemos migrar, apresenta uma reflexão sobre memória, exílio e identidade ao revisitar a história do projeto Al Mahjar, concebido por Aziz Ab’Saber. Inspirado pelas ideias de Edward Saïd, o projeto constitui um gesto contra o silenciamento das contribuições árabes à formação do país. Mais do que resgatar histórias de deslocamento, a autora destaca a construção de um espaço coletivo de escuta e afirmação cultural frente a discursos que associam o mundo árabe à violência ou ao atraso. O texto evidencia, também, como a articulação entre memória e conhecimento se fortalece por meio de alianças institucionais, como a parceria entre o Instituto da Cultura Árabe (ICArabe), a Cátedra Edward Saïd da Unifesp, a CCAB e a Universidade Saint-Esprit de Kaslik. Juntas, essas instituições tornaram possível a continuidade do projeto, sua digitalização e expansão, inaugurando um novo ciclo de produção e circulação de saberes.
Os artigos e textos que compõem este dossiê evidenciam que o campo de estudos sobre a diáspora árabe no Brasil está longe de se esgotar. Ao contrário, os trabalhos aqui reunidos demonstram a riqueza de fontes, perspectivas e metodologias que ainda podem ser exploradas para compreender melhor os múltiplos aspectos dessa experiência migratória, assim como seus desdobramentos históricos e sociais. Valendo-se de análises de produções literárias e jornalísticas pouco conhecidas, documentos esquecidos em arquivos, passando por reflexões sobre identidade, racialização, memória e práticas culturais cotidianas, a composição do dossiê reafirma a vitalidade e a complexidade desse campo de pesquisa, mostrando que ele permanece em expansão e aberto a novos olhares e a novas gerações de pesquisadores.
Nesse sentido, é fundamental incentivar a continuidade, o aprofundamento e o rigor das investigações sobre a diáspora árabe, promovendo abordagens interdisciplinares e ampliando o diálogo entre pesquisadores de diferentes gerações e regiões. A pluralidade de olhares, temas e perspectivas presente neste número especial reforça a ideia de que ainda há muitas histórias a serem contadas, documentos a serem analisados e narrativas a serem revisitadas. Investir em novas pesquisas é manter a memória do arquivo pulsante e crítica, o que, por sua vez, nos ajuda a tecer novos horizontes acerca das contribuições árabes à formação da sociedade brasileira.
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
- Doutora em Letras pela Universidade de São Paulo (USP), pesquisadora da Cátedra Edward Said, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), jornalista da revista Pesquisa FAPESP e diretora de comunicação do Instituto da Cultura Árabe (Icarabe). Autora de “A Lua do Oriente e Outras Luas” (Ateliê Editorial, 2022), livro que é resultado de tese premiada pela USP. E-mail: queirozchris@gmail.com. ↩︎
- Mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina (PPGAS/UFSC) e graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). É pesquisador na Cátedra Edward Said de Estudos da Contemporaneidade da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). E-mail: luuismeinberg@gmail.com ↩︎
- Mestre em Estudos da Tradução pelo PPG LETRA – USP (Letras Estrangeiras e Tradução). Atualmente é bolsista da Cátedra Edward Said, da UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo). Email: matheusm68@gmail.com. ↩︎