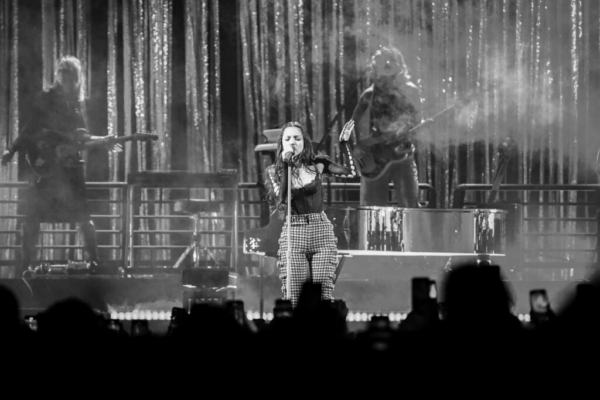Por Kátia Silene Souza de Brito[1]
Esta série especial do Boletim Lua Nova reúne reflexões críticas elaboradas por graduandas, mestrandas e doutorandas selecionadas por meio de edital de monitoria que acompanharam o Colóquio Internacional “Colonialidade, Racialidade, Punição e Reparação nas Américas (Séculos XIX-XXI)”, realizado de 26 a 29 de novembro de 2024, com financiamento do Instituto Beja, no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP). Longe de exercerem funções estritamente logísticas, essas pesquisadoras transformaram o Colóquio em um laboratório de formação acadêmica e política: acompanharam os debates, dialogaram com as/os palestrantes e produziram textos de relato‑reação que combinam descrição empírica e análise conceitual das mesas‑redondas. O texto que a leitora ou o leitor tem em mãos é fruto desse trabalho coletivo. Os outros textos do Especial podem ser conferidos aqui.
21 de maio de 2025
O livro Califórnia Gulag: Prisões, Crise do Capitalismo e Abolicionismo Penal foi tema da mesa-redonda “Estratégias de insurgência: descolonizar e desracializar os sistemas punitivos nas Américas”. O evento ocorreu no dia 26 de novembro de 2024, das 16h às 17h30, na Sala Alfredo Bosi, auditório do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP), com a participação de Dina Alves (PUC-SP), Weber Lopes Góes (UFABC) e Bruno Xavier Martins, tradutor da obra de Ruth W. Gilmore.
Ruth Wilson Gilmore é uma geógrafa estadunidense, teórica e ativista vinculada ao Pensamento Negro Radical, sendo uma das mais influentes intelectuais do século XXI. Sua pesquisa aborda temas como abolicionismo penal, crítica ao capitalismo racial, encarceramento em massa, racismo ambiental, violência e abandono estatal, além dos movimentos sociais de resistência.
A obra discutida integra a “Coleção Raça e Capitalismo” e constitui o segundo volume de uma série de traduções que investigam as conexões entre o capitalismo e o sistema carcerário racializado dos Estados Unidos.
Quem deu início aos debates foi Dina Alves, doutora em Ciências Sociais pela PUC-SP, advogada e ativista vinculada ao Programa Marielle Franco e ao Fundo Baobá. Dina se define, antes de tudo, como uma mulher migrante nordestina, negra, liderança ativista, pesquisadora e abolicionista penal, vinda da favela de São Paulo. Sua fala teve como foco a luta anti-carcerária, em diálogo com a obra anteriormente mencionada.
Ela destacou que, ao longo de sua trajetória acadêmica, constatou que o espaço universitário reproduz formas de violência epistêmica, nas quais pessoas negras são objetificadas como objetos de estudo da branquitude. Trata-se de um espaço em que se privilegia a pretensa objetividade e se desconsidera o corpo e os modos de pesquisa que emergem de experiências situadas.
Dina sublinhou que a luta insurgente negra remonta ao período da escravização, tendo o corpo negro como um dos principais representantes desse movimento. Ressaltou, ainda, a existência de outras formas de insurgência abolicionista, tanto no Brasil quanto em contextos internacionais, protagonizadas por mulheres negras, como bell hooks e Lélia Gonzalez. Em sua intervenção, trouxe também uma dimensão pessoal: a experiência de sua mãe, que atuou como merendeira na Bahia entre os anos de 1988 e 1992 e lutou contra a violência policial praticada contra mulheres e crianças negras nas escolas públicas.
Ao longo do debate, Dina relembrou seu processo de migração para o Sudeste, ocorrido na década de 1990, que ela denomina como um “deslocamento carcerário”. Segundo ela, foi necessário operar o próprio corpo conforme os modelos da branquitude, submetendo-se ao enquadramento da fala e da presença corporal. Referiu-se, em especial, ao período em que residiu no município de Guarujá (SP), trabalhando como empregada doméstica no Hotel Casa Grande. Nessa experiência, observou que a maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras era composta por mulheres e homens negros, evidenciando uma representação simbólica e geográfica do Brasil: mulheres e homens brancos eram servidos por pessoas negras.
Dina Alves aponta, ainda, que o sistema prisional constitui uma ideologia de desumanização que não pode ser compreendida sem a articulação com os processos de colonialismo, colonialidade, racismo e capitalismo. Segundo ela, ao observar o cotidiano de mulheres negras que vivem no Capão Redondo e se deslocam diariamente até o Itaim Bibi para trabalhar como empregadas domésticas, torna-se evidente, por meio da observação participante, que seus corpos operam como corpos-prisão — aquilo que denomina “corpo etnográfico da prisão”. Trata-se de um corpo encarcerado simbolicamente, que expressa simultaneamente as múltiplas formas de violência e as práticas de resistência, assim como as vozes silenciadas no campo jurídico.
A partir dessa leitura, exemplifica sua análise com o que denomina de Movimentos Maternos Anticarcerários: coletivos formados por mães que se organizam em torno do sistema prisional e da violência estatal. São, em suas palavras, expressões de resistência encarnadas nesse “corpo etnográfico capturado pela violência do Estado, mas que também carrega a marca da resistência, produzindo estratégias próprias diante do terror da violência capitalista”.
Entre esses coletivos, destaca o Movimento das Mães de Maio, rede composta por mães, familiares e amigas/os de vítimas dos crimes de maio de 2006, quando 493 pessoas foram assassinadas na capital paulista, sendo cerca de 400 jovens negros, mortos por policiais e grupos paramilitares de extermínio. Trata-se de um movimento que reivindica memória, verdade, justiça e o direito ao luto das vítimas do Estado.
A palestrante, cuja trajetória está ligada aos movimentos sociais, enfatiza que um futuro possível para a população negra exige a articulação entre teoria e prática. O abolicionismo penal, adverte, não deve se restringir ao campo acadêmico, à semelhança da revolução marxista. É preciso reconhecer e efetivar o que ela chama de reparação materna anticarcerária. Recorda que, nas ruas de Ipiaú, sua mãe já fazia a revolução, sem aguardar que a abolição viesse da academia ou de seus intelectuais. A insurgência se dava nos protestos e nas mobilizações sociais em defesa do direito à terra e à moradia.
Finaliza afirmando que a insurgência e a reparação nas Américas são cotidianamente protagonizadas pelas mães de pessoas encarceradas: durante as visitas, nas denúncias, na construção de pautas e na luta por direitos. E encerra com uma declaração potente: “Nós não vamos esperar a revolução chegar, porque nós já estamos aqui”.
O historiador Weber Lopes Góes, doutor em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC e mestre em Ciências Sociais pela UNESP, iniciou sua intervenção refletindo sobre o encarceramento na modernidade e o papel que ele desempenhou no século XXI. Destacou que sua pesquisa trata das práticas contemporâneas de eugenia e encarceramento e, para dialogar com a obra de Ruth W. Gilmore, buscou estabelecer aproximações com o contexto brasileiro, enfatizando as contribuições da autora para compreender a criminalização da juventude no país.
Inicialmente, recuperou historicamente o papel das mães na juventude norte-americana e traçou paralelos com a trajetória de criminalização e violação de direitos da juventude, da classe trabalhadora e de mulheres e homens no estado do Pará. Sustentou que o capitalismo opera como um mecanismo de inibição das emergências da luta trabalhista, ao dificultar a organização política da classe. A criminalização, nesse contexto, funciona como instrumento de dominação e controle, e o encarceramento torna-se um dispositivo voltado à contenção da mão de obra excedente. A apropriação do espaço para a construção de presídios, por sua vez, favorece a reprodução do capital.
Para Weber, os movimentos sociais tiveram um papel fundamental ao catalisar a organização de mães que tiveram seus filhos presos ou mortos, promovendo também a afirmação de uma identidade política a partir de sua inserção nas lutas contra a violação dos direitos da juventude criminalizada.
Nesse sentido, defende a importância de analisar a lógica do capital no cotidiano e na contemporaneidade. Destacando que, durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o número de pessoas encarceradas no Brasil alcançou a marca de 270 mil. Já nos governos do Partido dos Trabalhadores (PT), sob a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, houve, segundo ele, uma aliança com políticas neoliberais que resultaram na intensificação do encarceramento da população considerada excedente e supérflua. Ao examinar os dados daquele período, observa-se que o Brasil já figurava entre os países que mais encarceram seres humanos, disputando o segundo lugar no ranking internacional. O encarceramento, nesse contexto, revela-se como ferramenta dirigida contra a população pobre e negra.
Refletindo sobre as questões do encarceramento, da criminalização da juventude negra e do racismo, Weber Lopes Góes levanta dois questionamentos fundamentais: “É possível que esta sociabilidade supere o encarceramento?” e “É possível a superação dessa realidade dentro do sistema capitalista?”. Para ele, os dados reunidos historicamente pelo movimento negro demonstram que o encarceramento e o racismo são indissociáveis, e que tais evidências devem ser mobilizadas para transformar a representação social da população negra — historicamente exterminada, negativada, silenciada e invisibilizada.
Bruno Xavier Martins, tradutor do livro Califórnia Gulag: Prisões, Crise do Capitalismo e Abolicionismo Penal e mediador da mesa-redonda, iniciou sua fala destacando os ataques promovidos pelo neoliberalismo contra as populações marginalizadas. Sustentou que é possível desracializar o sistema punitivo, mas advertiu que, por ser o capitalismo estruturalmente racial, a superação das carceraridades só ocorrerá com o fim do próprio sistema e com a construção da abolição por meio de processos conduzidos por abolicionistas.
Ao tratar da obra, Bruno concentrou-se, inicialmente, no capítulo 5 — Mothers Reclaiming Our Children —, que aborda a atuação de mães que lutam pela recuperação de seus filhos submetidos ao sistema de justiça criminal em Los Angeles, Estados Unidos. Explicou que Ruth W. Gilmore percebeu que o coletivo Mothers ROC não se identificava, em seus primórdios, como abolicionista, mas que, com o tempo, suas integrantes passaram a compreender-se como tal.
Bruno também rememorou uma viagem realizada com a autora ao bairro de Amaralina, em Salvador (Bahia), durante a qual dialogaram com cerca de 30 a 40 mães que relataram suas dores. Ruth, segundo ele, acolheu tais relatos e os tomou como ponto de partida para estabelecer um diálogo político e afetivo com essas mulheres, indicando um horizonte de libertação, esperança e luta contra a violência sistematicamente promovida pelo Estado.
Para o mediador Bruno Xavier Martins, existe um horizonte de expectativa orientado pela libertação da população da violência organizada pelo Estado e pelo capitalismo. Ele destaca que a estrutura do capítulo Mothers Reclaiming Our Children não segue uma linearidade cronológica: parte das dores vividas pelas mães e culmina na construção de um horizonte de libertação. A dor, nesse sentido, é o ponto de partida e não o lugar da paralisia.
Bruno argumenta que a construção de presídios não pode ser justificada como resposta à criminalidade. Estudos realizados por criminólogos demonstram que não há relação direta entre a presença do Estado (na forma de repressão penal) e a redução dos índices de criminalidade. Em muitos casos, as estatísticas indicam queda nos índices de crimes mesmo sem a criação de novos presídios. Para ele, o encarceramento não responde à existência do crime, mas à necessidade de formação e contenção de força de trabalho. Cita como exemplo o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, bem como as disputas de fronteira e a guerra entre EUA e México. Bruno levanta questões fundamentais: Por que utilizar prisões para resolver problemas sociais? Por que as prisões estão localizadas onde estão? Que territórios são esses? E responde: tratam-se, em geral, de terras de antigos latifúndios, desvalorizadas e ociosas, convertidas em áreas “produtivas” com a instalação de presídios — como se observa no sul da Califórnia.
Em seguida, aborda o capítulo IV da obra, que trata de um estudo de caso sobre a cidade fictícia de Copelande, nos EUA. Nele, a autora analisa localidades que adotaram o sistema prisional e outras que não o fizeram. Argumenta que tais prisões foram majoritariamente implementadas em períodos de crise, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social dos territórios. Contudo, os resultados esperados não se concretizaram, e o prometido desenvolvimento não ocorreu.
Na etapa final da mesa-redonda, o público formulou questões sobre a esquerda, o capitalismo, o racialismo e os movimentos sociais. Bruno respondeu afirmando que não existe “capitalismo bom”, uma vez que se trata de um sistema estruturalmente racial e exaurido. Por isso, não faria sentido analisar a racialidade de forma isolada, sem conectá-la à lógica do capital. Ressaltou ainda que as prisões são formas contemporâneas de escravidão: a maioria das pessoas encarceradas não trabalha, está isolada — seja em instituições públicas ou privadas. Assim, é contraditório defender a manutenção da punição estatal enquanto se critica a privatização, uma vez que o crescimento do sistema prisional nos Estados Unidos ocorreu entre o final da década de 1970 e início dos anos 1980, e no Brasil a partir de 2006.
Weber Lopes Góes complementou apontando que o sistema capitalista se baseia na reprodução, expropriação e apropriação do trabalho. Lembrou que o capitalismo teve seu berço na Europa, com o aumento da força produtiva, e citou o capítulo XXIV de O Capital, de Karl Marx, no qual se argumenta que a escravização de africanos, o domínio das Américas e os saques coloniais possibilitaram o surgimento do capitalismo. Destacou, no entanto, que o sistema prisional possui características próprias, variando conforme o contexto em que se estabelece. Para ele, o capital é impessoal, baseado na exploração, e embora o elemento racial seja central, não é exclusivo. Reafirmou que é indispensável criticar o encarceramento como instrumento de neutralização e ostracismo, verdadeiro campo de concentração, sendo necessária a construção de novas formas de existência.
Encerrando a mesa, Dina Alves afirmou que o “mercado da morte” é expressão do capitalismo racial — um necropoder que não opera sob a lógica da disciplina, mas da destruição. Finalizou com uma pergunta contundente: “Se não geram lucro, por que estão presos?”
As reflexões apresentadas na mesa-redonda suscitaram importantes debates sobre as inter-relações entre o abolicionismo penal, o encarceramento e o capitalismo racial. A partir das exposições, foi possível compreender as formas de luta anticarcerária negra e os deslocamentos carcerários vivenciados por mulheres migrantes negras das periferias brasileiras. Corpos que se tornam etnográficos — inscritos na experiência e na memória da prisão — são também vítimas da ideologia da desumanização, presente tanto dentro quanto fora do sistema prisional. Essa ideologia é produto das articulações entre colonialidade, capitalismo e racismo.
As insurgências abolicionistas, compreendidas como estratégias históricas de resistência e sobrevivência, constituem respostas que a população negra vem promovendo desde o período da escravização, em busca de reparação frente ao Estado opressor.
Nesta mesa, diferentes ênfases foram atribuídas às relações entre sistema prisional, racismo e capitalismo. Para Dina Alves, o capitalismo racial integra a lógica necropolítica do poder estatal, sendo responsável por produzir a morte do corpo negro — não com o intuito de gerar lucro, mas como parte de um projeto genocida de extermínio da população negra.
Weber Lopes Góes, por sua vez, centrou sua análise no encarceramento contemporâneo e na criminalização da juventude negra no Brasil, traçando paralelos com os Estados Unidos a partir da lógica do capital e do trabalho. Para ele, a criminalização atua como instrumento de controle e subjugação, e o encarceramento emerge como dispositivo voltado à contenção da mão de obra excedente, mediado pelo racismo estrutural. No entanto, observa que o capital, sendo impessoal, não se constitui exclusivamente pela raça: existem outros elementos que compõem sua lógica de funcionamento.
Já Bruno Xavier Martins sublinhou a profunda conexão entre neoliberalismo e marginalização. Defendeu que não é possível pensar o sistema capitalista dissociado da questão racial, uma vez que o sistema carcerário atual representa uma reatualização dos mecanismos utilizados durante a escravidão. As prisões, nesse sentido, operam como dispositivos de produção e contenção da força de trabalho negra, sustentadas pelo Estado. Para Bruno, a abolição só será possível por meio da luta dos abolicionistas e da superação do próprio capitalismo.
Referência:
BLOG DA CONSEQUÊNCIA EDITOR. Em defesa do abolicionismo penal: entrevista com Ruth Gilmore. Disponível em: https://blogdaconsequencia.wordpress.com/2020/11/10/emdefesa-do-abolicionismo-penal-entrevista-com-ruth-gilmore/> Acesso em: 18 dez. 2024.
FUNDO BRASIL. As mães de maio da democracia brasileira – 5 anos dos crimes de maio de 2006: Verdade e justiça, ontem e hoje! Disponível em:
<https://www.fundobrasil.org.br/projeto/maes-de-maio/>. Acesso em 18 dez. 2024.
GILMORE, Ruth Wilson. Califórnia Gulag: prisões, crise do capitalismo e abolicionismo penal. Tradução de Bruno Xavier. São Paulo: Igrá Kniga, 2024.
IGRAKNIGA. São Paulo. 2024. Disponível em: <https://www.igrakniga.com/productpage/calif%C3%B3rnia-gulag-ruth-gilmore>. Acesso em: 18 dez. 2024.
UEMA. Change everything: do capitalismo racial ao abolicionismo. Universidade Estadual do Maranhão. Maranhão. 2024. Disponível em: https://www.ppgeo.uema.br/2024/03/entrevistacom-a-profa-dra-ruth-wilson-gilmore-feita-pelo-prof-dr-cristiano-nunes/>. Acesso em: 18 dez. 2024.
[1] Doutoranda em Ciência da Informação (UnB), Mestra em Ciência da Informação (UnB) e graduada em Museologia pela Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília. Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Pesquisa sobre Museu e Museologia, Memória e Patrimônio cultural afro-brasileiro, Museus virtuais e afro-digitais. E-mail: katyasowza@gmail.com