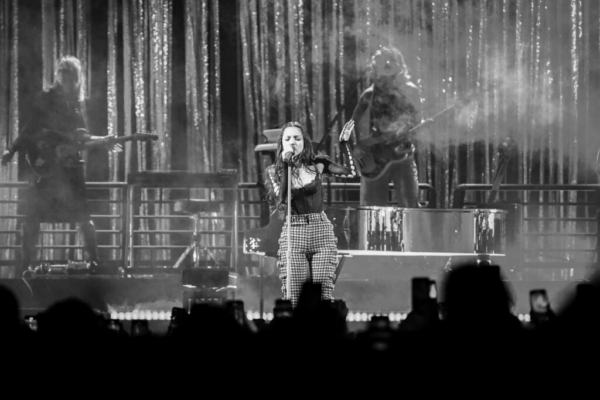Letícia Montenegro[1]
18 de novembro de 2025
***
Esta Série Especial do Boletim Lua Nova reúne, ao longo dos próximos meses, reflexões produzidas pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Política Externa (GEPEX), da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), coordenado por Cristina Pacheco. Criado em 2009, o GEPEX dedica-se à formação e à pesquisa em Relações Internacionais, com ênfase, desde 2020, no campo das Potências Médias e nas articulações entre economia, diplomacia e segurança na formulação de estratégias nacionais. Os textos do Especial podem ser conferidos aqui.
***
Grande Estratégia é um conceito que apresenta uma agenda de pesquisa em constante desenvolvimento, como afirmam Balzacq et al. (2018). Em razão da complexidade desse objeto, cada esforço que contribua para seu amadurecimento merece ser valorizado. Inicialmente ancorado na perspectiva militar — ainda no século XIX, a partir das sistematizações das estratégias de navegação elaboradas pelos precursores da Teoria do Poder Marítimo — o conceito se transformou,ao longo do século XX, no mesmo compasso que o Sistema Internacional (SI) (Milevscki, 2016).
Uma das contribuições mais relevantes foi feita por Paul Kennedy (1991), ao definir Grande Estratégia como a articulação entre o direcionamento das políticas econômica, externa e de defesa na consolidação dos objetivos estatais de longo prazo. Dessa forma, a literatura sobre o conceito concentra-se, em sua maioria, em estudos de caso voltados às experiências de grandes potências, especialmente as anglófonas, como Estados Unidos e Reino Unido (Posen e Ross, 1996; Lissner, 2018). A partir dos anos 2010, entretanto, com a ascensão das potências emergentes no cenário internacional, novos estudos surgiram, buscando compreender de que modo esses países conduzem seus objetivos à luz da Grande Estratégia (Alsina Jr., 2018; Balzacq et al., 2018).
Nesse contexto, destaca-se o esforço de autores que investigaram as possibilidades de potências médias explorarem as suas Grandes Estratégias, ainda que com recursos limitados. Entre eles, Nina Silove (2017) propõe que a Grande Estratégia seja formalizada por meio de um documento no qual o Estado explicite seus objetivos nacionais, à semelhança da National Security Strategy norte-americana, de modo que os investimentos e prioridades estatais fiquem claros tanto para os policymakers quanto para a sociedade.
A combinação das perspectivas de Kennedy (1991) e Silove (2017) permite analisar como os governos Médici e Geisel (1969-1979) procuraram consolidar uma Grande Estratégia para o Estado Brasileiro. Esse decênio representa um marco significativo para o desenvolvimento socioeconômico, especialmente pela consolidação do projeto “Brasil Potência”, dado o ambicioso objetivo de transformar o país em uma grande potência ainda no século XX.
O governo de Emílio Garrastazu Médici (1969–1974) simbolizou a fase mais ambiciosa do regime militar em termos de desenvolvimento. Inspirado por Carlos de Meira Mattos e Golbery do Couto e Silva, foram lançados o Programa de Metas e Bases (1970) e o I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND, 1971), que estabelecia como metas duplicar a renda per capita até 1980 e manter um crescimento anual do PIB entre 8% e 10%. Para alcançar esses objetivos, o Estado investiu fortemente na modernização industrial, na integração territorial e em políticas de fomento tecnológico e energético, articuladas a uma estratégia externa voltada à conquista de novos mercados e à busca de autonomia estratégica (Silva 1981; Brasil, 1971).
Como reforça Cordeiro (2009), existia uma dualidade de cenários no Brasil. Ao mesmo tempo em que havia otimismo diante de celebrações como a vitória na Copa do Mundo de 1970, a expansão das redes de telecomunicações e o entusiasmo com as grandes obras empreendidas pelo governo, os chamados Anos de Chumbo, iniciados com o Ato Institucional de nº 5, representavam a face mais obscura do regime militar, marcada pela intensificação da repressão a movimentos contrários ao regime e pelo uso do discurso desenvolvimentista como propaganda, ao disseminar a noção de que o crescimento econômico tornava aceitável o controle e a supressão das liberdades.
Na política econômica, o governo Médici adotou uma postura claramente expansionista, buscando corrigir as limitações dos planos anteriores. Houve divergências entre os ministros Delfim Netto (Ministro da Fazenda) e Reis Velloso (Ministro do Planejamento) quanto ao grau de ambição das metas de crescimento. Velloso defendia um desenvolvimento planejado e prudente, com foco no longo prazo, enquanto Delfim Netto sustentava uma estratégia de expansão rápida e pragmática, apoiada na dinamização das exportações e da agricultura. No fim, prevaleceu a visão expansionista. O foco concentrou-se na agricultura e nas exportações, consideradas vetores essenciais do crescimento. A Estratégia Agrícola incluiu a modernização da produção, a criação do Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste (PRONATERRA) e o aprimoramento logístico para o escoamento de produtos (Macarini, 2005). Em 1973, também foi criada a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), voltada à pesquisa agropecuária, em articulação com o Projeto de Integração Nacional (PIN), que incentivava a ocupação e a conexão das regiões Norte e Nordeste ao restante do país. Essa integração tinha fundamento geopolítico, conforme a Doutrina de Segurança Nacional, associando o desenvolvimento territorial à defesa e à soberania, o que se refletiu na construção de rodovias como a Transamazônica e que conectaria o território de leste a oeste, estendendo-se de Cuiabá, no Mato Grosso, até Santarém, no Pará (Brasil, 1971; Macarini, 2005; Vieira, 2019). Segundo Teló et al (2021), essa estratégia, contudo, trouxe graves impactos para os povos indígenas, com desapropriações, deslocamentos forçados e episódios de violência, como o massacre do como o massacre do povo Waimiri-Atroari durante a abertura da BR-174 e de outros trechos da própria Transamazônica.
Os investimentos em energia e tecnologia também foram pilares do projeto desenvolvimentista. O Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico previu o fortalecimento de instituições como o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e o Fundo Nacional de Tecnologia (FUNTEC) vinculado ao Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE) destinadas a apoiar a pesquisa e a inovação. A energia nuclear emergiu como prioridade estratégica. Apesar da resistência ao Tratado de Não Proliferação Nuclear, o Brasil promulgou, em 1972, o Acordo de Cooperação para Usos Civis da Energia Atômica com os Estados Unidos, resultando na construção de Angra I e consolidando o domínio da tecnologia nuclear para fins pacíficos (Brasil, 1971).
Também houve expansão significativa da siderurgia, com o Plano Siderúrgico Nacional e a inauguração da Usina Siderúrgica da Bahia, e da indústria aeronáutica, com o fortalecimento da iniciativa iniciada no governo Costa e Silva, marcada pela criação da Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER) em 1969 e pela ampliação da produção de aeronaves em cooperação com a Itália. No campo espacial, foi aprimorado o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) com a criação da Comissão Brasileira de Atividades Espaciais (COBAE), responsáveis por impulsionar o monitoramento via satélite e os lançamentos experimentais. Apesar do chamado “milagre econômico” entre 1970 e 1972, o modelo resultou em crescente endividamento externo, caracterizando o fenômeno de “crescimento com endividamento” (Brasil, 1971; Hage 2019).
No campo da política externa, o governo Médici implementou a chamada “Diplomacia do Interesse Nacional”, conduzida pelo chanceler Mário Gibson Barboza. Essa estratégia visava equilibrar autonomia e pragmatismo, priorizando o desenvolvimento econômico sem alinhamento automático aos Estados Unidos. A orientação privilegiava as relações bilaterais e a busca de oportunidades econômicas diretas, aproximando-se da lógica de barganha presente no segundo governo Vargas (Martins, 1975; Gonçalves e Miyamoto, 1993; Oliveira, 2005).
O Brasil consolidou sua liderança regional por meio da ampliação de laços com a América Latina e a África. A atuação na América Central envolveu concessão de linhas de crédito, acordos de comércio e transporte marítimo; na América do Sul, firmaram-se parcerias financeiras e de cooperação técnica com Bolívia, Paraguai e Uruguai. Contudo, surgiram tensões com a Argentina, em razão da disputa pela Bacia do Prata e pela construção da Usina de Itaipu, e com o Chile, devido ao suposto apoio brasileiro à deposição de Salvador Allende em 1973, conforme registros da Central Intelligence Agency (CIA) (Brasil, 1971; Martins, 1975; Souto, 2013; Crema, 2019).
Na África e no Oriente Médio, foi reforçada a cooperação energética e técnica com Gana, Nigéria, Líbia e Iraque, embora mantivesse contradições ao apoiar Portugal durante o processo de descolonização africana. Apesar dessas ambiguidades, a diplomacia do interesse nacional consolidou a imagem do país como potência média emergente e projetou o desenvolvimentismo como discurso de legitimação internacional (Brasil, 1971; Martins, 1975; Souto, 2013).
A política de defesa de Médici, com foco na defesa do território em relação à infiltração inimiga, direcionou investimentos na projeção sul atlântica, na proteção Amazônica e na da Bacia do Prata. A ampliação das águas jurisdicionais brasileiras para duzentas milhas marítimas refletiu a preocupação com a soberania e a segurança diante da espionagem e da presença estrangeira. Essa política foi debatida na Terceira Convenção da ONU sobre o Direito do Mar (1973) e articulada à tentativa de cooperação sul-atlântica por meio da proposta da Organização do Tratado do Atlântico Sul (OTAS) (Carvalho, 1999; Brozoski, 2015).
Na Amazônia, as obras de Carlos de Meira Mattos são essenciais para o pensamento estratégico da região que deveria ser percebida como uma macrounidade a ser integrada e defendida pela cooperação entre países amazônicos. O projeto RADAM (Radar para a Amazônia) mapeou extensas áreas, revelando novos recursos naturais e potencial agrícola, reforçando o PIN e a lógica de ocupação estratégica. Na Bacia do Prata, a rivalidade com a Argentina se intensificou, e o Brasil fortaleceu sua posição ao firmar o Acordo de Corpus-Itaipu com o Paraguai em 1973, consolidando sua liderança regional e seus objetivos geopolíticos (Mattos apud Medeiros, 2015; Rodrigues, 2022).
Com a ascensão de Ernesto Geisel (1974–1979), o projeto “Brasil Potência” entrou em fase de reestruturação. O contexto era de crise internacional, marcado pelo primeiro choque do petróleo, pelo fim do milagre econômico e pela necessidade de redirecionar a política externa. Geisel e sua equipe, Mário Henrique Simonsen (Ministro da Fazenda), Reis Velloso (Ministro do Planejamento) e Severo Gomes (Ministro da Indústria e Comércio), formularam o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND, 1974), que mantinha o propósito de tornar o Brasil uma potência emergente, mas adaptava a estratégia às novas condições (Brasil 1974; Spektor, 2004; Visentini 2020; Ferreira, 2021).
No documento, apresentava-se a primeira parte com o título “Desenvolvimento e Grandeza: O Brasil como potência emergente” reafirmando o compromisso com o crescimento acelerado e com a redução das vulnerabilidades externas. O plano enfatizava a reestruturação industrial, priorizando os setores de bens de capital, eletrônica de base e insumos básicos, com apoio de empresas públicas e privadas. Buscava-se descentralizar o parque industrial, expandindo investimentos para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e retomando o PIN e o POLAMAZÔNIA, agora com maior seletividade territorial e preocupação ambiental (Brasil, 1974).
A política energética tornou-se um dos eixos centrais do II PND. Diante da dependência do petróleo importado, o governo destinou expressivos recursos à Petrobrás para a exploração de xisto e incentivou o Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL), apostando em biocombustíveis como alternativa. Simultaneamente, expandiu o setor hidrelétrico, com a construção de dezenas de barragens, bem como manteve o investimento em energia nuclear, firmando o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, que previa a transferência completa da tecnologia de enriquecimento de urânio, um salto em autonomia energética e tecnológica (Brasil, 1974; Stolf e Oliveira, 2020).
A política científica e tecnológica continuou fortalecida, com a criação do II Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, voltado à internacionalização da pesquisa e à contenção da fuga de cérebros. Apesar do êxito industrial, o modelo manteve alta dependência externa e gerou endividamento, agravado pelo segundo choque do petróleo em 1979 (Brasil, 1974).
A política externa de Geisel ficou marcada pelo Pragmatismo Ecumênico Responsável, formulado pelo chanceler Azeredo da Silveira. Essa doutrina afastava o Brasil dos alinhamentos ideológicos da Guerra Fria e buscava diversificar parcerias, ampliar a autonomia e fortalecer a credibilidade internacional. O “pragmatismo” simbolizava a racionalidade política e econômica, enquanto o “ecumenismo” expressava a ampliação das relações com países de diferentes regimes e blocos (Spektor, 2004; Visentini, 2020).
O Brasil aproximou-se da China e da União Soviética, ampliando o comércio e a cooperação tecnológica, fortaleceu laços com o Mercado Comum Europeu, e aprofundou as relações com a América Latina e a África, reconhecendo a independência de Angola e Guiné-Bissau e intensificando o intercâmbio com o continente africano. Na América do Sul, o país buscou corrigir as tensões da era Médici, firmando acordos energéticos e tecnológicos com Paraguai, Uruguai e Bolívia, além de promover o Tratado de Cooperação Amazônica (1978), que institucionalizou o diálogo entre os países amazônicos (Brasil, 1974; Oliveira, 2005).
No Oriente Médio, o Brasil adotou uma postura equilibrada, mantendo boas relações tanto com países árabes quanto com Israel, ao mesmo tempo em que negociava petróleo em troca de manufaturas, especialmente com Irã e Iraque. Essa diversificação ampliou a margem de manobra da política externa brasileira, embora tenha despertado desconfiança nos Estados Unidos perante a crescente autonomia do país (Visentini, 2020; Leite, 2011).
Em linhas gerais, o governo Geisel deu continuidade ao projeto de poder iniciado sob Médici, adaptando-o a uma conjuntura internacional mais complexa. Os investimentos nas políticas econômica, externa e de defesa foram orientados por uma visão de longo prazo, que combinava ambição industrial e tecnológica com cautela diplomática e planejamento estratégico. A política econômica sustentou o crescimento por meio da modernização produtiva e energética; a política externa consolidou o Brasil como ator autônomo e potência média; e a política de defesa integrou a geopolítica do território nacional à lógica da soberania e do desenvolvimento.
Contudo, o modelo acumulou fragilidades estruturais, o endividamento, a dependência tecnológica e as contradições entre autoritarismo político e aspiração de potência, que se tornariam evidentes no final da década de 1970. Ainda assim, os governos Médici e Geisel representaram o auge do esforço estatal em articular uma Grande Estratégia que combinava o desenvolvimento, autonomia e segurança como partes de um mesmo projeto de poder nacional, sustentando a imagem de um Brasil que aspirava à grandeza em meio às transformações da ordem internacional.
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
Referências bibliográficas
ALSINA Jr, João Paulo Soares. Ensaios de Grande Estratégia brasileira. Rio de Janeiro: FGV, 2018.
BALZACQ, Thierry; Dombrownski, Peter; REICH, Simon. Is Grand Strategy a Research Program? A review essay. Security Studies, 2018.
BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento. Brasília, 1971.
BRASIL. II Plano Nacional de Desenvolvimento. Brasília, 1974.
BROZOSCKI, Fernanda Pacheco de Campos. Iniciativas na área de segurança e defesa do Atlântico Sul no âmbito das relações Sul-Sul. Dossiê Regionalismos, SIMPO-RI, 2014.
CARVALHO, Gustavo de Lemos Campos. O mar territorial brasileiro de 200 milhas: estratégia e soberania 1970-1982. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 42, n.1, p. 110-126, 1999.
CARVALHO, Thiago Bonfada de. Geopolítica brasileira e relações internacionais nos anos 50: O pensamento do General Golbery do Couto e Silva. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2009.
CORDEIRO, Janaina Martins. Anos de chumbo ou Anos de Ouro? A memória social sobre o governo Médici. Estudos Históricos, Rio de Janeiro” vol. 22, nº 43, janeiro-junho, p. 85-104, 2009.
CREMA, Gabriella Lenza. A Política Externa do governo Médici (1969-1974) para os países sul-americanos sob a influência da esquerda. Dissertação (Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais). UFSC, Florianópolis, 2019.
FERREIRA, Luciana da Silva. A Política Econômica do Governo Geisel: Do II PND ao endividamento externo. In: A Economia Brasileira de Getúlio a Dilma: Novas Interpretações, São Paulo: Hucitec EDITORA, 2021.
GONÇALVES, Williams da Silva; MYIAMOTO, Shiguenoli. Os militares da política externa brasileira: 1964-1984. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 6, n.12, 1993.
HAGE, José Alexandre Altahyde. A construção da política energética no Brasil: Avanços e Impasses em um Estado em Desenvolvimento. Oikos, Rio de Janeiro, v. 18, n. 2, 2019.
KENNEDY, Paul. Grand Strategies in War and Peace. Yale University, 1991.
LEITE, Patrícia Soares. O Brasil e a Cooperação Sul-Sul em três momentos de política externa: os governos Jânio Quadros/João Goulart, Ernesto Geisel e Luís Inácio Lula da Silva. Brasília: FUNAG, 2011.
LISSNER, Rebecca. What is Grand Strategy? Sweeping a Conceptual Minefield. Texas National Security Review, v.2, n. 1, 2018.
MACARINI, José Pedro. A Política Econômica do Governo Médici 1970-1973. Nova Economia, V. 15, N. 3, 2005.
MEDEIROS, Rodrigo Augusto Lima de. A ditadura de 1964 e o governo da natureza: a construção de uma Amazônia geopolítica. Universitas Humanas, Brasília, v. 2, n. 1, p-41-58, 2015
MILEVSCKI, Lucas. The Evolution of Modern Grand Strategy. Oxford University Press, United Kingdom, 2016.
POSEN, Bary R.; ROSS, Andrew. Competing Visions for U.S. Grand Strategy. International Security: The MIT Press, vol. 21, No. 3, 1996.
RODRIGUES, Bernardo Salgado. Em Defesa do El Dorado: Competição internacional pela Amazônia Brasileira e Sul-Americana. Rio de Janeiro: Editora Multifoco, 2022.
SILOVE, Nina. Beyond the Buzzword: Three meanings of Grand Strategy. Security Studies, v. 27, n. 1, p. 27-57, 2017.
SOUTO, Cintia Vieira. A Diplomacia do Interesse Nacional: a política externa do governo Médici. 2ed, Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 2013.
STOLF, Rubismar; OLIVEIRA, Ana Paula Rodrigues de. The Success of the Brazilian Alcohol Program (PROÁLCOOL) – A decade-by-decade brief history of ethanol in Brazil. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v.40, n.2, p.243-248, mar./apr. 2020.
SPEKTOR, Matias. Origens e direção do Pragmatismo Ecumênico e Responsável (1974-1979). Revista Brasileira de Política Internacional, V. 47, N. 2, p. 191-222, 2004.
TELÓ, Fabrício; GASPAROTTO, Alessandra; MEDEIROS, Leonilde Servolo de; SARAIVA, Regina Coelly Fernandes. Land and Transitional Justice in Brazil. International Journal of Transitional Justice, v. 15, p. 190–209, 2021.
VIEIRA, Ricardo Zortea. Geopolítica, state-making e industrialização no Brasil: o papel do poder militar e do planejamento estratégico no auge do nacional-desenvolvimentismo brasileiro. Revista da Escola de Guerra Naval, v. 25, n. 1, p. 32-62, 2019.
VISENTINI, Paulo Gilberto Fagundes. O Regime Militar e a projeção mundial do Brasil: autonomia nacional, desenvolvimento econômico e potência média (1964-1985). Almedina, 2020.
[1] Mestra e bacharela em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Membro do Grupo de Pesquisa em Política Externa e Grande Estratégia (GEPEX). Pesquisa temas ligados à Grande Estratégia, especialmente a atuação de potências médias e emergentes. Tem interesse em Segurança, Geopolítica, Política Externa Brasileira e Análise de Política Externa. Email: leticiaalmeidaamontenegro@gmail.com
Fonte imagética: Wikimedia Commons. Posse presidente da República 1974. Fotografia do Senado Federal, 15 de março de 1974. Disponível aqui. Acesso em: 7 nov. 2025.