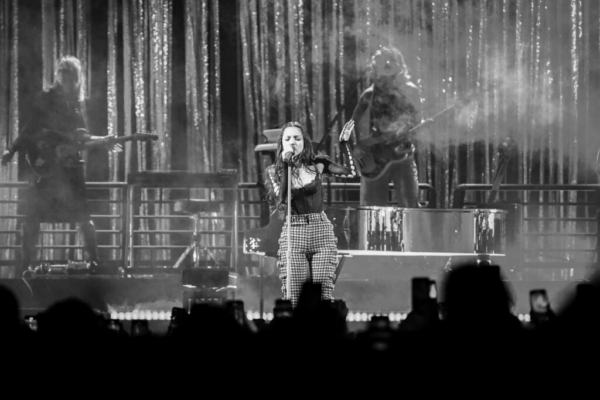Glenda Mezarobba[1]
8 de outubro de 2025
***
O Boletim Lua Nova republica o artigo de Glenda Mezarobba, originalmente publicado na Folha de S. Paulo no dia 17 de setembro de 2025, com o título “Não podemos desperdiçar chance histórica com nova anistia para golpistas”. Agradecemos à autora pela generosidade em autorizar a reprodução do texto e por compartilhar uma reflexão indispensável para compreender os impasses atuais da democracia brasileira”.
***
O julgamento do Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete ex-integrantes de seu governo trouxe novamente à memória —aqui, ali, nos votos dos ministros e na decisão da corte— a ditadura militar.
A reminiscência pode ser creditada ao fato de a maioria dos acusados pertencer às Forças Armadas e buscar abolir o Estado democrático de Direito para instituir um regime de força, como o instalado no Brasil em 1964.
A associação, claro, não é desprovida de sentido. O que carece de significado é o pleito por anistia. Para entender como o país segue flertando com o autoritarismo, na crescente mobilização em torno da aprovação de uma lei que assegure perdão aos condenados no julgamento da última semana, parece oportuno rememorar como chegamos até aqui.
Inserida na lógica da Guerra Fria e marcada pela inexistência de Estado de Direito, a ditadura militar no Brasil operou de acordo com a doutrina de segurança nacional, o que equivale a dizer que tratou como inimigos do Estado aqueles que considerava em discordância com seu ideário.
Em seus 21 anos de duração, praticou todo tipo de repressão: suspendeu direitos políticos, cassou mandatos políticos e sindicais, perseguiu estudantes, trabalhadores e servidores públicos, baniu, exilou, prendeu, fez desaparecer e assassinou civis e militares, brasileiros e estrangeiros. Milhares foram vítimas de torturas. Muitos dos que passaram pelo sistema repressivo sofreram algum tipo de violência sexual.
No final dos anos 1970, no contexto da abertura política iniciada pelo general Ernesto Geisel —quando o pluripartidarismo interessava ao regime militar e segmentos organizados da sociedade civil conquistavam as ruas reivindicando a libertação de presos políticos, a volta de banidos e exilados, o fim das torturas, a elucidação dos casos de desaparecimento forçado e a responsabilização dos agentes públicos envolvidos em torturas e assassinatos—, o general João Baptista Figueiredo decidiu cuidar da questão: enviou ao Congresso Nacional um projeto de anistia.
Nos termos do então presidente, o momento era propício à pacificação, e a anistia, palavra de ordem desses movimentos, reabria o campo de ação política, ensejava o reencontro, reunia e congregava para a construção do futuro.
Enquanto estiveram no poder, os sucessivos generais ditadores empenharam-se em negar a ocorrência de graves violações de direitos humanos. A despeito de, naquele momento, já pesar sobre o Estado brasileiro a responsabilização pela morte sob tortura do jornalista Vladimir Herzog (1937-1975), Figueiredo, com a “mão estendida em conciliação”, conseguiu aprovar uma lei nos exatos termos desejados pela ditadura.
Concebida para assegurar impunidade a agentes públicos, de maneira simplificada pode-se dizer que a legislação de 1979 continha a ideia de apaziguamento e acabou por adquirir um significado de conciliação pragmática, capaz de contribuir com a transição para o regime democrático.
De forma alguma, no entanto, a Lei da Anistia se dedicou ao estabelecimento da verdade. Nenhum de seus 15 artigos previa qualquer iniciativa nesse sentido, e a sociedade parece não ter se importado com a ideia de esquecimento que a legislação, como confirmaria a história, impunha.
A entrada em vigor da Lei da Anistia libertou presos políticos e permitiu a volta de exilados como Leonel Brizola, Luís Carlos Prestes e Miguel Arraes, que rapidamente retomaram o fazer político-partidário, mas não fez cessar as graves violações de direitos humanos.
Em 1985, a ditadura terminou sem eleições diretas para a Presidência da República. Mais ou menos na mesma época, começou-se a evidenciar, mundo afora, a necessidade de os Estados lidarem de maneira apropriada com traumas sociais severos e legados de violência, como os deixados pelas ditaduras latino-americanas, e com a consequente demanda por justiça que emerge em períodos de transição política.
Gradativamente, consolidou-se a noção de que a construção de um futuro democrático e pacífico exige dos Estados respostas que confrontem os crimes dos regimes repressivos. Embora frequentes, e às vezes capazes de contribuir para a mudança política, as autoanistias, como a brasileira de 1979, provaram-se insustentáveis perante a normativa internacional.
O Estado pode perdoar aqueles que violaram suas leis, mas nunca quando agiram em nome do próprio Estado. Ou seja, agentes da repressão que torturaram e mataram devem responder criminalmente pela violência cometida.
No Brasil, a despeito do desinteresse da sociedade e sempre sob a égide da Lei da Anistia, aos poucos os sucessivos governos democráticos passaram a lidar com o legado dessas graves violações.
Desde então, com a aprovação de leis e a adoção de políticas públicas, o Estado brasileiro, por intermédio do Legislativo e do Executivo, tem avançado no cumprimento de duas de suas principais obrigações: o dever de revelar a verdade acerca dos crimes do período, contemplado com a abertura de arquivos e a instalação da Comissão Nacional da Verdade, e o dever de reparar as vítimas, seus familiares e a sociedade, com a criação de órgãos como a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e a Comissão de Anistia, entre outras medidas.
No entanto, à exceção de um único caso envolvendo 8 militares do Exército, um deles capitão, e 2 civis, condenados ainda na década de 70 por torturar 15 e matar 4 soldados em um quartel em Barra Mansa (RJ), até hoje não houve, de forma definitiva, a determinação da responsabilidade criminal de agentes públicos envolvidos em atos desse tipo.
Situação completamente distinta à observada pelo Estado brasileiro, cuja responsabilidade por tortura, morte ou desaparecimento forçado de perseguidos políticos vem sendo reconhecida desde a ditadura, inclusive com o pagamento de indenizações, por diferentes tribunais.
Tem-se claro, portanto, que segue pendente de realização o dever de identificar, processar e, se demonstrada a responsabilidade, punir os autores de graves violações de direitos humanos ocorridas no período.
Assim como o dever de justiça, permanece em aberto o cumprimento do que seria o quarto dever do Estado brasileiro, em relação ao legado da ditadura militar: o de transformar suas estruturas, tornando-as democráticas.
A esse dever, que pode ser realizado por intermédio de reformas institucionais, com o afastamento de agentes públicos incompetentes ou que cometeram crimes durante o período de arbítrio, corresponde o direito da sociedade a instituições reorganizadas e confiáveis. Obrigações que dizem respeito, sobretudo, às duas instituições que se encontram no centro do debate político atual, o Judiciário e as Forças Armadas.
Desde sua entrada em vigor, há quase cinco décadas, a Lei da Anistia —que, ressalte-se, em seu texto não faz menção à tortura— tem sido invocada para interditar a discussão em torno da responsabilização de agentes de Estado envolvidos nos inúmeros e bem documentados crimes do período.
Toda vez que se impõe a necessidade de revisitar o passado, integrantes das Forças Armadas, por exemplo, recorrem à lei sancionada por Figueiredo e insistem no suposto acordo político que teria assegurado a não punição de “ambos os lados”.
De qualquer maneira, foi a partir da construção dessa “garantia” de impunidade que, nos anos 1980, os militares se mostraram dispostos a assumir o compromisso de retirada gradual da política. Investindo no olvido, assim seguiram até pelo menos 2014, quando do lançamento, na Academia Militar das Agulhas Negras, da candidatura de um capitão do Exército que, cinco anos depois, assumiria a Presidência da República.
De lá para cá, o arranjo de esquecimento cuidadosamente construído pela ditadura despedaçou-se por completo. A ruptura se deu pelas mãos do único presidente da Nova República que, enaltecendo torturadores, se elegeu fazendo apologia ao regime de exceção e, cercado de militares, governou exaltando a violência e demonstrando seu desprezo pela vida humana.
Paradoxalmente, nos quatro anos em que esteve no poder, o capitão do Exército fez o que nenhum ditador ousou publicamente fazer e, ao assim agir, acabou por prestar um serviço à democracia: confirmou a violência do período, sempre negada pelos comandantes de então, reconheceu a existência de seus criminosos e expôs enclaves autoritários, com alguns de seus representantes agora punidos pelo Supremo.
Antes mesmo de anunciada a condenação da semana passada, no entanto, outro capitão do Exército, o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apressou-se em classificar de ditador e tirano um ministro do Supremo e a defender anistia aos envolvidos nos crimes de 8/1.
Se não surpreende, o comportamento do governante legitimamente eleito, que já classificou o golpe de 64 como “movimento” e defende a implantação de dezenas de “escolas cívico-militares” no estado, evidencia o quão difícil pode ser romper com certa mentalidade de uma geração de oficiais superiores das Forças Armadas, educada nas décadas de 70 e 80 e que segue instruindo novas turmas de militares.
Sua atuação, no entanto, não deve intimidar a sociedade brasileira, muito menos as lideranças comprometidas com a construção de um país mais justo e pacífico.
Rompido o esforço de desmemória, não é hora de desperdiçar a oportunidade que o momento histórico oferece a uma nação que não conseguiu julgar nenhum de seus ditadores, o que obviamente não contribuiu para a deslegitimação do regime militar e tampouco para o descrédito da ideologia que deu sustentação a ele.
É preciso avançar na desconstrução da ideia de que os militares constituem um grupo à parte na sociedade brasileira e que, ao contrário dos demais cidadãos, não precisam responder por todos os seus atos.
Só em uma democracia em que, perante a lei, todos são iguais em direitos e deveres será possível assegurar que nenhum grupo de cidadãos tenha o privilégio da impunidade.
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
[1] Cientista política e conselheira do Instituto Vladimir Herzog.