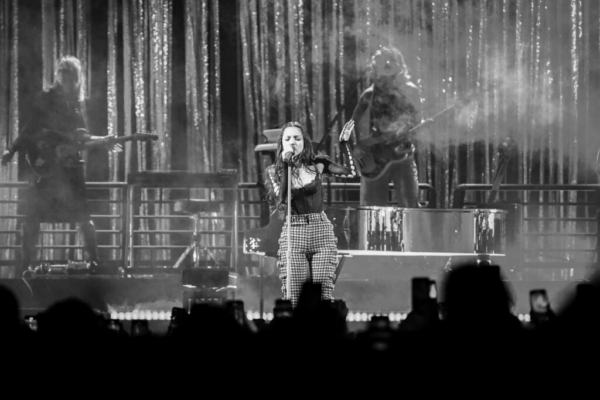Hellem Victoria Ribeiro dos Santos[1]
Munyque Lorany Ribeiro dos Santos[2]
12 de agosto de 2025
Parditude: tema complexo e polêmico que acalora o debate acerca das relações étnico-raciais no Brasil, cooptando negros indecisos e até mesmo brancos simpatizantes e aliados da “causa negra”. Inclusive, têm-se cobrado o posicionamento do Movimento Negro Unificado (MNU) a respeito do assunto e, enquanto não temos resposta, decidimos escrever este pequeno artigo de opinião e tornar pública a nossa indignação! Portanto, se você continua confuso ou quer saber mais sobre o movimento parditude, te convidamos a ler este texto com o coração, olhos e ouvidos bem abertos e dispostos ao diálogo franco e sem demagogia.
Então, vamos direto ao ponto: o que é o movimento parditude?
O movimento parditude é uma corrente de pensamento e ação política que surge no contexto das discussões sobre identidade racial no Brasil. Ele busca ressignificar o termo “pardo”, tradicionalmente usado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para classificar pessoas mestiças, e transformá-lo em uma identidade política autônoma, distinta tanto da identidade negra quanto da branca[3].
De modo geral, essa corrente de pensamento defende que pessoas pardas não devem ser automaticamente incluídas na categoria “negro” (como propõe o MNU e as políticas de ações afirmativas), mas, sim, reconhecidas como um grupo étnico-racial específico, dando destaque às identidades intermediárias.
Para falar em identidades intermediárias, é importante voltarmos um pouco na história de formação do povo brasileiro, de modo a entendermos de onde vem o termo pardo. Na segunda metade do século XIX, pós-abolição da escravidão, o debate em torno da construção de uma identidade nacional crescia e se expressava em forma de preocupação com a origem multirracial do povo brasileiro (Schwarcz, 1993). Segundo teorias racistas e eugenistas da época, que surgiam aos montes na Europa e aportavam aqui no Brasil, as heranças étnicas e culturais das consideradas “raças atrasadas e degeneradas”, representadas pelos povos negros e indígenas, eram um obstáculo para um futuro moderno e civilizado do país.
Muitos cientistas, como o médico Nina Rodrigues e o jurista Nelson Hungria, afirmavam que as raças negra e indígena contribuiriam com a construção de uma nova nação à medida que fossem assimiladas e absorvidas pela raça branca, que desembarcava no litoral brasileiro sob promessas de trabalho, incentivos financeiros e até mesmo doação de terras (Azevedo, 1987). Primeiro, chegaram os europeus e, em seguida, os japoneses, que, embora desprezados pela elite branca, pelo menos tinham a pele clara. Esse processo ficou conhecido como política do branqueamento, pois se tratava, verdadeiramente, de uma política de Estado instalada para atrair imigrantes brancos na tentativa de “limpar” os traços negros e indígenas da população brasileira.
É importante lembrar que essa “mistura” de raças já acontecia antes mesmo da implementação da política do branqueamento, por meio dos estupros de mulheres indígenas e negras escravizadas cometidos por homens brancos (González, 1984). Apenas posteriormente, setores das elites racistas e escravocratas passaram a reconhecer que tais práticas brutais não resultariam, segundo os padrões europeus de civilidade, progresso e humanidade, em um futuro “decente” para a nação brasileira. Em todo caso, todas as teorias racistas remetiam para a diluição, em primeiro lugar, do traço mais marcante — a cor da pele —, seguido pelo que era chamado de traços “morais”, que atualmente conhecemos como perfis psicológicos e sociais, ou seja, a cultura.
É sempre bom lembrar que o conceito de raça não corresponde a nenhuma realidade científica; ele representa uma realidade social por remeter a uma organização da diversidade das características físicas humanas, e não de espécies humanas, como aprendemos com a biologia. Entretanto, a raça opera como uma tecnologia política, um dispositivo que classifica, hierarquiza e governa corpos e afetos, atribuindo lugares sociais distintos para pessoas negras e brancas (Carneiro, 2023). A racialidade é, portanto, um mecanismo que naturaliza privilégios e patologiza existências negras, determinando quem pode ser priorizado ou subalternizado a partir de uma leitura externa, um olhar sempre mediado pelo poder branco.
Dessa maneira, a noção de raça ainda atravessa práticas e crenças e determina o lugar e o status de indivíduos e grupos na sociedade. Essa racialização não é somente uma questão de pigmentação, mas de psicopolítica: enquanto o negro é forçado a assimilar o imaginário colonial que o associa à barbárie, o branco encarna a humanidade plena (Fanon, 2008). Essa internalização gera uma fratura existencial (ibidem), na qual o sujeito negro precisa constantemente negociar sua identidade sob a ameaça da violência simbólica e física. No Brasil, esse dispositivo se atualiza na regulação dos afetos, que garante à branquitude liberdade para expressar raiva, tristeza ou desejo sem ser criminalizada, ao passo que o afeto negro é sempre suspeito, seja a alegria estereotipada do “bom negro”, seja a revolta demonizada do militante (Carneiro, 2023).
Nesse sentido, a pessoa pode ser identificada, classificada, hierarquizada, priorizada ou subalternizada a partir de uma cor/raça/etnia a ela atribuída por quem a observa. Essa atribuição não é neutra, ela carrega consigo uma economia afetiva que define quem merece empatia, quem é digno de proteção e quem pode ser descartado.
Assim, se a raça é uma ficção, seus impactos são profundamente reais. Ela estrutura não só relações de poder, mas também quem pode amar sem ser fetichizado, quem pode odiar sem ser punido, quem pode existir sem precisar justificar sua humanidade. Desconstruir esse dispositivo exige mais do que reconhecer sua falsidade biológica; é preciso confrontar as tecnologias sociais e afetivas que mantêm a branquitude como norma e a negritude como desvio.
Mas como a ideia de pardo se insere nesse contexto?
O IBGE, tradicionalmente, usa as categorias “preto”, “pardo” e “branco” desde o século XIX. Mas foi em 1872, no primeiro recenseamento do Brasil, que se cristalizou um sistema de classificação da cor no país (Osório, 2003; IBGE, 2013).
Em 1890, no segundo recenseamento, o IBGE trocou na classificação, temporariamente, o termo pardo por mestiço. Assim, os traços aparentes, ou fenótipo, como cor da pele, formato e tamanho do nariz e boca, e textura dos cabelos, dão lugar à ideia de misturas, de mestiçagem de raças na classificação da população brasileira (IBGE, 2013). Esse censo se mostra, na verdade, como um termômetro para identificar em que pé estava a política do branqueamento, ou seja, se a diluição do sangue negro e indígena no cruzamento com os contingentes migratórios europeus levaria, de fato, ao gradual desaparecimento dessas populações.
A unificação dos termos “preto” e “pardo” sob a categoria “negro” só aconteceu no final dos anos 1970, em um contexto de luta contra o racismo e de rejeição ao mito da democracia racial brasileira. Nos anos de 1970, o Brasil ainda vivia sob a ditadura militar (1964–1985), e o discurso oficial propagava a ideia de uma suposta harmonia racial, negando a existência do racismo estrutural. Com a fundação do MNU, em 1978, o mito da democracia racial passou a ser mais severamente combatido, denunciando a violência policial, a desigualdade social e a exclusão da população negra (Nascimento, 1978).
Para combater o mito da mestiçagem harmônica e cordial, o MNU criou uma identidade política unificada, fortalecendo a luta antirracista. Para isso, o movimento propôs que pretos e pardos fossem agrupados como negros, já que ambos sofriam discriminação racial, ainda que em graus diferentes, indo contra a estratégia do Estado brasileiro de diluição da identidade negra. O MNU também buscou evitar a separação de pretos e pardos, velho mote do “dividir para conquistar”, largamente utilizado durante a colonização das Américas, que tanto enfraquecia a mobilização contra o racismo.
Com a redemocratização e a crescente influência do movimento negro, o IBGE começou a publicar dados agregando pretos e pardos em análises sobre desigualdade racial (Osório, 2003). Contudo, não houve uma mudança oficial nos formulários do censo, pois o IBGE manteve as opções “preto” e “pardo” como resquício da política do branqueamento, ainda em curso, mas passou a computar ambos os grupos como população negra em relatórios e estudos.
É importante ressaltar que a categoria “pardo” engloba ainda pessoas indígenas, que também sofreram com processos violentos de apagamento étnico e cultural, bem como foram vítimas da perversão do branqueamento na forma de estupros recorrentes de mulheres indígenas e na diluição com populações brancas migrantes no pós-abolição. Sobre esse assunto, recomendamos o livro A questão do pardo no Brasil (2024), recentemente publicado pela socióloga Flávia Rios. Ela propõe uma extensão da temática com reflexões e pesquisas de pessoas indígenas de diferentes partes do país.
Agora que já falamos sobre o contexto histórico-social e os conceitos por trás da criação do movimento parditude, vamos para a análise crítica da questão.
O que pudemos observar é que o movimento parditude é uma estratégia perversa da branquitude, que coopta pessoas racializadas, no intuito de desarticular, enfraquecer, confundir e corromper a organização política e cultural da população negra, assim como Bolsonaro fez com Sérgio Camargo, por exemplo. Esse caso ilustra o que na sociologia política se compreende como a cooptação estratégica de figuras minoritárias para legitimar agendas contrárias aos interesses de seus próprios grupos. Esse mecanismo, que dialoga com o conceito de “totemismo político” (Bourdieu, 1984), visa neutralizar a resistência organizada ao transformar símbolos de luta em instrumentos de dominação.
No contexto racial, isso se manifesta quando o Estado ou grupos hegemônicos cooptam indivíduos negros que reproduzem discursos alinhados ao poder dominante, conferindo-lhes uma falsa representatividade. Ver pessoas negras orgulhando-se de ter seus traços negróides diluídos pela violência geracional do racismo eugenista, retomando o uso de adjetivos como “mulata”, “morena/o”, “mestiço” e “pardo”, também é parte de uma estratégia de “gestão da dissidência” (Foucault, 1999), na qual se desarticula o combate ao racismo e ao mito da democracia racial, fragmenta-se a identidade coletiva negra e esvazia-se a força de instituições de luta, como o MNU.
Desde a implementação da política de cotas para ingresso nas universidades públicas e privadas de todo o país, e também no âmbito dos concursos públicos federais, a população negra experimenta uma lenta, porém muito importante, mobilidade social, que tensiona a lógica de funcionamento organicamente racista da sociedade brasileira e, principalmente, das instituições; o que, consequentemente, tem impactado diretamente na perda de privilégios raciais, sociais e de classe da branquitude.
Não acreditamos que seja mais urgente discutirmos quem é mais ou menos negro quando nossos corpos continuam a tombar nas periferias e baixadas da vida; quando ainda somos maioria entre os mais empobrecidos, desnutridos, analfabetos, subempregados, vítimas da violência policial sumária, do feminicídio, da violência doméstica e do encarceramento em massa (Devulsky, 2021). Precisamos estar sempre vigilantes para que as estratégias racistas, machistas e classistas, que insistem em nos aprisionar na base da pirâmide social há séculos, não nos paralisem, nos impedindo de lutar e resistir, ou pior, nos instigando a lutar contra nós mesmos, destruindo a nossa ancestralidade junto.
O mote “dividir e conquistar” tem aprimorado seus mecanismos de funcionamento na era digital, de oportunidades escassas, que fazem um apelo delirante à individualidade. A parditude, enquanto movimento identitário, é uma expressão da lógica neoliberal de fragmentação das lutas coletivas, para neutralizar a organização. Ao reduzir a questão racial a uma disputa individual por reconhecimento e recursos, ela reproduz a estratégia do capitalismo tardio de converter antagonismos estruturais em competição intraclasse, no caso, entre os próprios oprimidos (Marx, 2014).
Hoje, sob o neoliberalismo identitário (Fraser, 2013; Melamed, 2011), a parditude atualiza esse mecanismo ao esvaziar a noção material de raça e substituí-la por uma flutuação abstrata de identidades que obedece à mesma lógica mercantil que transforma até mesmo a opressão em moeda de troca no mercado da diversidade.
No Brasil, esse fenômeno se manifesta por meio da: i) representatividade superficial (negros em cargos simbólicos em empresas que mantêm políticas racistas para acalmar demandas por justiça ao invés de enfrentar o racismo estrutural); ii) individualização das opressões (incentiva narrativas de “superação individual” que transfere a responsabilidade pela desigualdade para o próprio indivíduo, ignorando estruturas históricas); iii) deslegitimação de vozes dissidentes (movimentos negros que questionam o capitalismo são marginalizados como “radicais”).
O reformismo e as pautas parciais, quando desvinculadas de um projeto revolucionário, permitem a absorção de demandas estruturais pelo sistema (Lênin, 2017). Assim, a parditude não só ignora o acúmulo histórico de pesquisas, estudos e lutas dos movimentos negros e indígenas sobre mestiçagem, mas também opera para fragmentar a luta antirracista, criando hierarquias internas que enfraquecem a organização política.
Também percebemos que a lógica “se não consegue vencer o inimigo, junte-se a ele” falha quando estamos falando de corpos racializados, porque o sistema racista em que vivemos não nos confunde ao dar o tiro, o berro, a sentença à vala. É o inimigo que tenta se aproximar de nós, sorrateiramente, para nos tirar direitos conquistados com suor, lágrimas e sangue, para instigar discórdia e confusão, enquanto o concreto que segura toda essa estrutura racista continua intacto e inalterado (Almeida, 2019).
A branquitude tem se apropriado do conceito de pardo na tentativa de ser sujeito de direito da política de cotas, incitando ódio entre semelhantes e levantando discursos de segregação racial. É triste ver pessoas negras perdidas no meio disso, revisitando, mais uma vez, sua consciência racial a duras penas resgatada e construída. Não podemos esquecer que é em termos de branco que somos, ou não, estigmatizados, assassinados, violentados, marginalizados e rebaixados a menos que humanos (Fanon, 2008).
E só para frisarr: pardo se refere a pessoa negra menos retinta, mas que continua sendo uma pessoa negra. Esse termo inclui pessoas que, embora não tenham a cor de pele escura, são lidas socialmente como negras e, por consequência, sofrem racismo (Devulsky, 2021). É uma categoria identitária, política e cultural, e não um rótulo para burlar a política de cotas raciais ou para deslegitimar e enfraquecer nossa luta e nossa negritude. Ser mestiço, todos somos, mas isto não torna você, automaticamente, em uma pessoa negra. Ah! Ter o cabelo cacheado/ondulado e pessoas negras na família também não!
AFROnte e avante!
Referências bibliográficas:
ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo estrutural. São Paulo: Pólen, 2019.
AZEVEDO, Célia Maria Marinho de. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites – século XIX. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
BOURDIEU, Pierre. Homo Academicus. Califórnia: Stanford University Press, 1984.
CARNEIRO, Sueli. Dispositivo de racialidade: a construção do outro como não ser como fundamento do ser. São Paulo: Zahar, 2023
DEVULSKY, Alessandra. Colorismo. Coleção Feminismos Plurais. São Paulo: Jandaíra, 2021.
FANON, Frantz. Peles negras, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópoles: Vozes, 1999.
FRAZER, Nancy. Fortunes of feminism: from state-managed capitalism to neoliberal crisis. Brooklyn: Verso, 2013.
GONZÁLEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. São Paulo: Revista de Ciências Sociais Hoje, ANPOCS, 1984. Disponível em: <https://bibliotecadigital.mdh.gov.br/jspui/bitstream/192/10316/1/06_GONZALES__L%c3%a9lia_Racismo_e_Sexismo_na_Cultura_Brasileira_1.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2025.
IBGE. Características étnico-raciais da população: classificações e identidades. Rio de Janeiro: Estudos e análises; IBGE, 2013. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=284235>. Acesso em: 10 jun. 2025.
MARX, Karl. O capital:excertos. Seleção de Paul Lafargue. São Paulo: Veneta, 2014. 208 p.
MELAMED, Jodi. Represent and destroy: rationalizing violence in the new racial capitalism. Minessota: University of Minnesota Press, 2011.
NASCIMENTO, do Abdias. O genocídio do negro brasileiro. Processo de um racismo mascarado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
OSÓRIO, Rafael Guerreiro. O sistema classificatório de “cor ou raça” do IBGE. Brasília, DF: IPEA, 2003. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0996.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2019.
RIOS, Flávia. A questão do pardo no Brasil. São Paulo: Cult, 2024.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil (1870-1930). São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
[1] Doutoranda em Ciências Ambientais e mestra em Engenharia Ambiental e Sanitária (UFG), bacharela em Engenharia Civil (PUC Goiás) e graduanda em Matemática Licenciatura (UniFAHE). Criadora e mediadora do Podcast AFROnte. E-mail: hellemsantos@discente.ufg.br
[2] Doutoranda e mestra em Sociologia (UFG), bacharela em Direito (UniGoiás) e graduanda em Ciências Sociais Licenciatura (UniFAHE). Apoio de ensino e orientadora de trabalho de conclusão de curso da Especialização latu sensu em Enfrentamento às Violências contra Mulheres e Meninas (UFG/IV/MJSP) e bolsista da Pró-reitoria de Graduação da UFG. Criadora e mediadora do Podcast AFROnte. E-mail: munyqueribeiro@gmail.com.
[3] Se você tem interesse em conhecer o movimento parditude, acesse seu perfil no Instagram, disponível em: <https://www.instagram.com/parditude?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==>. Acesso em: 10 jun. 2025.
Fonte imagética: Imagem do acervo pessoal das autoras.