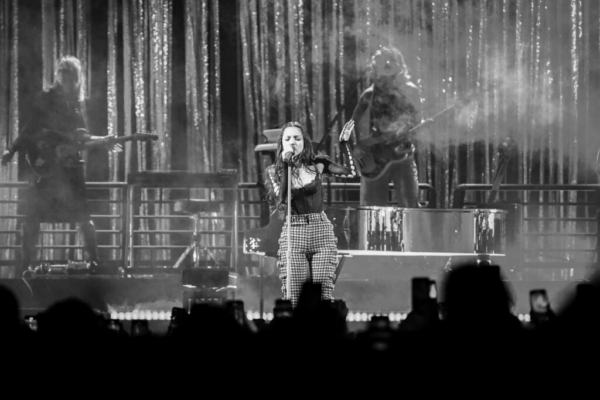Sebastião C. Velasco e Cruz[1]
19 de novembro de 2025
Em parceria com o Observatório Político dos Estados Unidos (OPEU), o Boletim Lua Nova republica a aula inaugural de Sebastião C. Velasco e Cruz para o doutorado em Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, em 21 de outubro. O texto foi originalmente publicado em 13 de novembro de 2025, no site do OPEU.
***
Antes de começar a minha exposição, preciso manifestar o meu profundo agradecimento pelo convite para proferir esta Aula Magna no evento em que o Programa de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia celebra o seu décimo aniversário. É uma grande honra para mim, e um imenso prazer, poder usar da palavra em ocasião tão especial e partilhar com o público, que reúne tantos colegas e amigos, algumas reflexões sobre o evolver de um objeto que não se contrapõe a nós, como uma realidade externa, mas faz parte de nossa própria história.
História que se enriquece com o outro marco comemorado neste mesmo evento: a inauguração do curso de doutorado em R.I. da UFU, o primeiro a se criar no Brasil fora de uma capital.
Destacar esta circunstância é preciso, porque ela salienta o significado do fato referido, indicador eloquente que é da maturidade do campo das relações internacionais entre nós, um de cujos aspectos mais importantes é a ramificação dos estabelecimentos de ensino e a consolidação da disciplina no universo universitário brasileiro.
Os primórdios desse processo remontam aos anos 1970 e 1980, quando foram criados o curso de Graduação de RI da UNB, em 1974, e de seu Mestrado, em 1984 – seguido, um ano depois, como foi, pelo Programa de Mestrado em RI da PUC-Rio. Mas é a partir de meados da década de 1990 que ele ganha ímpeto verdadeiramente.
Escrevi em parceria com Filipe Mendonça, já há tempos, um estudo sobre a formação do campo de relações internacionais no Brasil,[2] mas não caberia entrar em detalhes sobre o tema. Para os propósitos desta conferência dois indicadores simples bastam: em 1995, a PUC criava o primeiro curso de graduação em R.I. no estado de São Paulo; hoje, contam-se 13 só na capital. Até o final do século passado, havia apenas dois cursos de Pós-graduação em R.I. no Brasil; pelo que informa a CAPES, sem contar os cursos de Mestrado profissionalizantes e de extensão, eram 16 em 2019.
O processo de expansão e consolidação da área de Relações Internacionais no Brasil foi impulsionado pela demanda crescente de profissionais especializados derivada das transformações em curso na economia brasileira, e pela lógica endógena de diversificação da oferta no mercado acadêmico. Mas não só isso. Foi favorecido também pelo estímulo de políticas governamentais – penso, sobretudo, no Programa San Tiago Dantas, que deu origem ao Programa Interinstitucional UNESP/UNICAMP/PUC-SP, o nosso San Tiago Dantas, como afetivamente o denominamos, que teve papel relevante na formação de vários colegas da UFU. Cabe agregar, esse processo mantinha uma relação estreita e conscientemente assumida com o estado do mundo na dobra do século.
Desculpem-me a redundância, mas evocar esse passado próximo/distante – com os dados objetivos que o caracterizavam e o halo imaginário que o circundava – é indispensável para o argumento que farei aqui.
Recordemos, pois. A última década do século passado foi inaugurada por dois eventos extraordinários: a Guerra do Golfo, desencadeada em novembro de 1990, e a dissolução do bloco socialista, cujo marco inicial foi o simbolismo da derrubada do Muro de Berlim, em novembro de 1989, e o ponto culminante, a implosão da União Soviética, depois de uma tentativa frustrada de golpe militar, em agosto de 1991. Os dois acontecimentos estão intimamente interligados: se a União Soviética de Gorbachev não estivesse mergulhada em crise terminal, os Estados Unidos não teriam condições de atacar fulminantemente o Iraque, como o fizeram. Esse evento marcou, antes mesmo do colapso soviético, o enterro da política de blocos, que definia a estrutura das relações internacionais desde o final da Segunda Guerra, e a afirmação dos Estados Unidos como superpotência solitária, líder global, sem nenhum rival no mundo.
Na época, o presidente Bush – o Bush pai – pronunciou um discurso visionário em que anunciava o advento de uma Nova Ordem Mundial. Uma ordem que realizaria os ideais mais elevados da humanidade – paz e segurança; império da lei e liberdade – e trataria os perturbadores dela com o rigor merecido, através da ação concertada dos membros da comunidade internacional. Pouco depois, essa visão radiosa seria desenvolvida no livro O Fim da História e o Último Homem, que transformaria, de um dia para outro, o seu autor – Francis Fukuyama – em celebridade mundial.
Essa ordem emergente, como sabemos, tinha duas faces: a economia, dita livre, de mercado – a globalização neoliberal – de um lado, e de outro, o seu complemento espiritual, a consagração do tema dos direitos humanos como matéria de legislação internacional, e a transformação da democracia representativa em requisito à aceitação de qualquer país como membro pleno da comunidade das Nações. E se apoiava em dois alicerces: o poder econômico e financeiro inigualável dos Estados Unidos, com seus aliados, e a superioridade esmagadora de seu aparato militar, cujas proezas tecnológicas assombraram o mundo na guerra contra o Iraque.
Não vou me estender sobre o tema, sobre o qual foram vertidos rios de tinta. Em vez disso, chamarei a atenção para um aspecto pouco explorado: a conexão entre a configuração aludida telegraficamente aqui e a agenda dos estudos e pesquisa em relações internacionais na época.
Com efeito, o debate acadêmico na área foi, e não poderia deixar de ter sido, fortemente impactado pela mudança imprevista sobrevinda no sistema internacional, com a situação sem precedentes que se desenhava a partir dela. Num apanhado propositalmente seletivo, eu destacaria as seguintes grandes questões: a caracterização do poder mundial no final do século; a questão da governança global; e o problema clássico da paz e da guerra. Vejamos como elas se apresentavam, então.
A natureza do equilíbrio de poder emergente ao final da Guerra Fria. A unipolaridade constituía um traço definidor da nova ordem internacional, ou uma situação mais ou menos passageira, um simples “momento” destinado a evoluir para algum outro desenho mais familiar? Num caso ou noutro, como caracterizar sua configuração tendencial? A multipolaridade, hipótese defendida desde início pelos realistas estruturais – mas não apenas por eles! – fiados na prevalência dos fatores de desconcentração de poder em escala global? Ou uma organização internacional centralizada, onde o que hoje tem sido chamado de Ocidente Coletivo, atuaria como gerador e difusor de normas “civilizadas”, além de garante de sua observância em todo o mundo? Nesse caso, como definir as relações entre os Estados que compunham este centro? Uma estrutura hierárquica, com papel claramente hegemônico dos Estados Unidos? Ou algo mais próximo de uma federação, uma comunidade cosmopolita?
O debate sobre questões desse teor dividia os especialistas da área, desrespeitando as fronteiras das orientações teórico-metodológicas que informavam a pesquisa no campo das relações internacionais na época. Mas não apenas eles. As ideias a respeito das interrogações mencionadas inspiravam também o fazer dos atores internacionais – homens de estado, diplomatas, empresários, ativistas. Nesse sentido, o referido debate pode ser encarado como a dimensão autorreflexiva do processo de transformação em curso no mundo naquela quadra histórica.
O mesmo cabe dizer do segundo item a destacar: o tema dos regimes internacionais, das organizações funcionais que os vertebram, mais genericamente, da chamada governança global. A literatura sobre regimes já vinha crescendo desde a publicação do livro organizado por Stephen Krasner, com esse título – International Regimes – em 1983, mas é no contexto do pós-Guerra Fria que ela explode, literalmente.
E isso faz todo sentido. Os regimes internacionais são concebidos como conjuntos de princípios, normas, regras e procedimentos de tomada de decisão que conformam as expectativas dos atores de áreas determinadas, funcionalmente diferenciadas, das relações internacionais, possibilitando-lhes, dessa forma, a coordenação. Os regimes envolvem os Estados, mas vão muito além deles, incorporando em papéis decisivos os agentes societais típicos da área das relações internacionais em consideração, além de representantes de grupos com interesse permanente na referida área de problemas – os chamados “stakeholders”, no jargão da administração pública, do direito e dos estudos internacionais. Na era da globalização e do aparente consenso internacional que se seguiu à derrocada da União Soviética, não surpreende que esses regimes tenham se multiplicado, sendo-lhes conferida – real ou idealmente – uma crescente autonomia.
Foi esse o caso do regime internacional do comércio, com a criação em 1994 da OMC, mas também do regime dos Direitos Humanos. Sua expressão mais emblemática é o Tribunal Penal Internacional, cujo tratado de fundação é de 1996.
Governança sem governo, título de outro livro influente no período[3], tal a ideia-força que alimentava o debate sobre o tema. Nesse movimento, os regimes chegaram a ser entendidos como “fragmentos constitucionais” – universos normativos parciais, transcendentes aos Estados, cuja soberania era dada, de resto, como obsoleta[4].
Em outro plano, mas associado ao mesmo fluxo de ideias e interesses, deve ser mencionada a literatura sobre a integração regional. Não posso ir além dessa mera referência aqui, por falta de tempo. Direi apenas que ela converge com a discussão sobre regimes internacionais na visão de um processo mundial de progressiva e profunda integração.
Esse processo não era tido como eminentemente pacífico, mas nele a questão clássica da guerra se colocava em novos termos. Não mais como o choque violento de vontades entre Estados, relacionados exteriormente entre si, como mônadas num mundo hobbesiano, mas como ação de entidades (estatais e não estatais) recalcitrantes, atores inconformados com as regras liberais da nova ordem mundial, que buscavam impor suas pautas respectivas através do recurso a formas diversas da guerra irregular, da qual o terrorismo internacional é a ilustração mais extrema. O combate travado com os sujeitos dessas práticas disruptivas continuava sendo denominado guerra, mas, em sua essência, seria mais propriamente definido como ação de polícia.
A referência ao papel da violência organizada na execução da lei internacional remete ao quarto e último item da listagem: o tema da democracia. Ele já foi mencionado na caracterização da ordem emergente no pós-Guerra Fria. Falta dizer que ele entra com força na agenda dos estudos internacionais. Deixando de lado os trabalhos de política comparada que buscavam explicar a “onda democratizante” em curso no período, a democracia comparece na literatura de relações internacionais sob duas versões principais: em chave empírica, através da teoria da paz democrática, segundo a qual, por razões institucionais e valorativas, as democracias seriam pouco propensas a fazer guerra entre si[5], e em matriz normativa, na teoria da “democracia cosmopolita”, que partia da ideia da anulação tendencial do poder decisório dos Estados nacionais na globalização, com seu correlato, o esvaziamento dos processos democráticos de tomada de decisão nesses contextos, para propor um programa de reconstrução da democracia política, agora deslocada para a esfera transnacional[6].
Critiquei as teses dessa corrente de pensamento em artigo já bem antigo e, no meu entender, a tese da paz democrática repousa numa correlação espúria, mas não caberia abrir o tema para discussão neste momento. O que importa aqui é salientar a influência que as duas teses exerceram na época e a aderência de ambas ao “espírito do tempo”, o halo imaginário que envolvia as relações internacionais – econômicas, culturais e políticas – no ambiente do imediato pós-Guerra Fria.
O contraste com a atmosfera em que vivemos presentemente não poderia ser mais gritante. A atualidade impregna a vivência de todos nós, o que torna dispensável discorrer sobre ela. Mesmo assim devo destacar alguns de seus aspectos por sua importância intrínseca, e pela relação que mantêm com o argumento que venho elaborando.
O primeiro tem a ver com a atuação escandalosamente destrutiva do segundo governo Trump, com sua rejeição ruidosa do consenso sobre a mudança climática; com o emprego agressivo do mecanismo das tarifas aduaneiras para fins de barganha econômica e de coerção política; com seu desprezo espetacularmente ostentado pelas organizações internacionais; com sua disposição proclamada de violar a soberania territorial de determinados Estados e o empenho de intervir na política interna de todos em favor de grupos e indivíduos ideologicamente alinhados ao seu movimento. Mas esta é apenas uma das faces da política de Trump. Tão ou mais perturbadora – pois de efeito provavelmente mais prolongado – é a ação sistemática que vem desenvolvendo desde os primeiros dias de seu governo no sentido de açambarcar os poderes da República, usando-os para implementar políticas flagrantemente transgressoras dos direitos humanos e para perseguir desafetos e inimigos. A ascensão de Trump em contexto de forte polarização, em 2016, era sintoma evidente de crise da democracia americana; de volta à Presidência dos Estados Unidos, Trump trabalha metodicamente, agora, para superá-la mediante o que podemos adequadamente caracterizar como mudança de regime.
Mas o fenômeno não é apenas americano. Na França, no Reino Unido, na Alemanha, por toda a parte na Europa são vigorosas as forças de extrema direita que exploram a insatisfação ocasionada pelos deslocamentos sociais concomitantes ao avanço da globalização, insatisfação exasperada pelo ingresso crescente de levas de imigrantes em seus países, para contestar as políticas dos respectivos governos e, para além delas, os fundamentos liberais em que repousa o seu modelo de democracia.
O segundo aspecto a salientar é a continuidade da guerra na Ucrânia, a qual Trump prometeu acabar em questão de dias – uma de suas bravatas mais pueris –, mas que, oito meses depois de sua posse, torna-se cada vez mais intensa, elevando drasticamente o risco de um confronto direto, de consequências imprevisíveis, entre a OTAN e a Rússia.
Os tanques russos adentraram o território ucraniano em fevereiro de 2022, mas a guerra naquele país já lavrava desde 2014, quando o governo democraticamente eleito de Viktor Yanukovich foi derrubado por um golpe de Estado apoiado pelos Estados Unidos e aliados. Os desdobramentos imediatos são conhecidos: o inconformismo da maioria étnica russa na Crimeia; o referendo sobre a independência, logo seguido da anexação da província pela Rússia; na sequência, a eclosão de movimentos separatistas em Donetsk e Lugansk; e a resposta armada do novo governo ucraniano, sustentado desde o início pela OTAN.
Nos oito anos que medeiam esses acontecimentos e a decisão de invadir o território ucraniano, a Rússia sofreu pesadas sanções dos Estados Unidos e de seus aliados europeus, que passaram a treinar e equipar as forças armadas ucranianas, incorporando-as – ainda que subordinada e informalmente – à OTAN. Desde então, o envolvimento desses países no conflito com a Rússia aumentou exponencialmente, não apenas sob a forma de assistência militar e financeira, mas na disponibilização da infraestrutura informacional – sistemas de Inteligência, vigilância, reconhecimento; detecção de alvo; comunicação e cibersegurança –, indispensável para a condução da guerra nas condições hodiernas.
O conflito na Ucrânia pode ser adequadamente definido como uma guerra por procuração; o que se desenha hoje é a possibilidade de ele evoluir para um embate frontal entre os contendores. A distribuição dos atores no campo não muda, mas a passagem para esta fase faz toda diferença.
Deixei intencionalmente por último o aspecto mais pungente e revelador do estado atual do mundo em que vivemos. Refiro-me, naturalmente, ao genocídio em Gaza. Depois de dois anos de bombardeio indiscriminado, que não cumpriu o objetivo proclamado de eliminar o Hamas, mas fez da Faixa de Gaza uma terra arrasada e ceifou a vida de pelo menos 66 mil pessoas, sem contar os milhares de desaparecidos sob os escombros, – a esmagadora maioria das quais mulheres e crianças –, Israel submete os sobreviventes a um regime de fome, cuja crueldade evoca a lembrança dos campos nazistas. Os números absolutos são chocantes, mas se tornam assombrosos quando considerados do ponto de vista relativo. Estima-se em pelo menos 10 mil o número de desaparecidos, não contabilizados nas estatísticas correntes. Digamos que não passem de 4 mil. Mesmo assim o total de mortos corresponderia a 3,5% da população de Gaza, proporção correspondente a 7.500.000 pessoas se aplicada à população brasileira.
O acordo de cessar-fogo, primeira etapa do plano de 20 pontos patrocinado pelo presidente dos Estados Unidos, interrompeu o morticínio, mas não evita sua retomada futura, e menos ainda garante as reparações necessárias e o reconhecimento dos direitos inalienáveis do povo palestino.
As atrocidades cometidas em Gaza têm provocado uma reação de revolta que se estende por todo o mundo. Mas elas não seriam possíveis sem a participação direta do governo norte-americano, que reforça seu aparato militar na região e o aciona, sempre que preciso, em defesa de Israel, a quem abastece com um fluxo permanente de munições e armas, ao tempo em que lhe assegura cobertura diplomática e política.
E não fica nisso. Secundado por seus aliados europeus, com destaque para a Alemanha e o Reino Unido, procura calar aqueles que se levantam contra o genocídio, perseguindo-os de variadas maneiras, a pretexto de combater o antissemitismo. Chega-se ao ponto de aplicar sanções financeiras severas contra juízes do Tribunal Penal Internacional pela ousadia de aceitarem a denúncia de autoria de crime de guerra e expedirem mandado de prisão contra Benjamin Netanyahu.
A tragédia palestina é antiga, mas o episódio a que assistimos agora não tem precedentes – pela gravidade dos crimes perpetrados; pela profusão de imagens que temos deles, difundidas em tempo real nos veículos de comunicação de massa e nas redes; e pela cumplicidade dos Estados que até pouco tempo atrás reivindicavam a condição de patronos de uma ordem internacional assentada nos princípios dos direitos humanos e da democracia.
Desconstrucionismo trumpista; guerra na Ucrânia; tragédia palestina. Juntos, os três aspectos descrevem o contorno de um mundo conturbado, sem lei, onde a desordem impera, e o perigo mora ao lado.
Agora, voltemos ao início da história condensada neste breve relato. A passagem do estado de coisas então evocado à conjuntura sombria que nos cabe viver no presente nada tem de fortuita. Com efeito, desde a chegada do novo milênio o edifício da nova ordem internacional pós-Guerra Fria foi abalado por uma sucessão de eventos de gravidade crescente. Relaciono esquematicamente os mais importantes, levando em consideração sua ordem cronológica:
Primeiro, o atentado às torres gêmeas do World Trade Center e ao Pentágono, em 11 de setembro de 2001, e o fracasso das intervenções militares subsequentes, no Afeganistão e no Iraque.
A transformação de aviões de carreira em verdadeiros mísseis e seu lançamento contra o coração do poder mundial, na ação terrorista mais espetacular de que se tem notícia na história, inscreve-se na problemática de segurança internacional antes aludida, mas ao defini-la como um ato de guerra, não como um crime hediondo, os Estados Unidos ingressaram num terreno pantanoso – a “guerra contra o terror” – denominação defeituosa, porque referida a uma tática, elidindo o principal: a identidade do inimigo, que poderia, então, ser qualquer sujeito, em qualquer lugar.
Dirigida inicialmente contra o governo do Taliban, no Afeganistão, depois de intensa campanha publicitária, a máquina de guerra dos Estados Unidos foi lançada contra o Iraque de Sadam Hussein, numa operação militar explicitamente desautorizada pelo Conselho de Segurança da ONU. O resultado é sabido: a um custo humano exorbitante (das populações civis atingidas, mas também de soldados) e a um preço estimado na casa dos trilhões de dólares, seis anos depois de desencadeada a operação, os Estados Unidos foram obrigados a se retirar oficialmente do Iraque, que passou a girar na órbita do Irã, seu principal rival estratégico na região, transformando-se mais tarde em território disputado pelo ISIS (acrônimo em inglês de Estado Islâmico do Iraque), organização jihadista criada na guerra contra o invasor ocidental. E, uma década e meia depois, já no começo de administração Biden, acabou por abandonar o Afeganistão, assistindo impotente ao avanço das tropas do Taliban que desde então governa o país.
O fracasso da intervenção supostamente redentora dos Estados Unidos no Oriente Médio é um fator importante no processo de mudança da ordem neoliberal emergente por revelar os limites do poderio militar americano, imbatível em sua capacidade destrutiva, mas vulnerável às formas não convencionais de luta e pouco efetivo no controle de populações.
Segundo evento, a crise econômica global de 2008.
A mais grave a atingir o capitalismo internacional desde os idos de 1930, a quebradeira provocada pela falência do banco Lehman Brothers abala seriamente a confiança dos crentes do livre-mercado e tem, além disso, três consequências relevantes para o entendimento da transformação global que nos ocupa aqui.
a) Seu impacto social: a recessão; o desemprego renitente; as perdas financeiras dramáticas das famílias de classe média; o espetáculo chocante de “sem teto”, aos milhares, acampados em espaços vazios, em meio à opulência das grandes cidades americanas;
b) As medidas heterodoxas adotadas pelo governo dos Estados Unidos para conter a propagação da crise edebelar-lheos efeitos: operação compulsória de salvamento de bancos; resgate bilionário da General Motors; linha de crédito aberta à autoridade monetária europeia pelo Fed, que passava a atuar, assim, como banco global de última instância;
c) Seus reflexos políticos: a alavancagem de um movimento de extrema direita que aliava a indignação com a presteza do governo em gastar o dinheiro do distinto público a favor dos bancos à rejeição de fundo racista ao primeiro presidente negro na história dos Estados Unidos. Expressão mais notável dessa revolta, oTea Party se manteve no centro da política americana durante o primeiro mandato de Obama, perdendo força a seguir. Mas os seus ativistas tiveram papel decisivo na eleição de Donald Trump, em 2016, e se mantiveram como um ingrediente fundamental do trumpismo. Desenvolvimentos análogos verificaram-se na Europa, conformando-se, a partir daí, uma rede global de grupos e organizações de extrema direita que passam a disputar o poder em seus respectivos países.
A crise de 2008 com seus desdobramentos é crucial por desnudar uma falha tectônica na ordem neoliberal do pós-Guerra Fria: o agravamento das desigualdades sociais; a volatilidade financeira, sua propensão a crises.
Terceiro, a intervenção militar da Rússia na Geórgia, em 2008.
Resposta a uma operação do governo georgiano de turno contra a província de maioria russa da Ossétia do Sul, esse movimento, que consternou os planejadores estratégicos nos Estados Unidos e alhures, deu-se no contexto da expansão da OTAN até a fronteira da Rússia, e da instalação de um sistema antimísseis na Polônia, o qual, ao afetar seriamente seu poder dissuasivo, expunha a Rússia a uma situação de grande vulnerabilidade.
Até então, acreditava-se que, sob a Pax Americana, as ameaças à ordem internacional estabelecida vinham de atores não-estatais e de alguns poucos Estados delinquentes (rogue states). Os acontecimentos da Geórgia mostraram ao mundo que tal crença era equivocada. A partir desse momento, ficou claro que essa ordem estava confrontada com um desafiante de peso, o qual logo depois se lançava em amplo programa de reforma militar para se dotar dos meios correspondentes à sua política soberana. A disposição russa de empregá-los se manifestou com assertividade notável na crise ucraniana, em 2014 (anexação da Crimeia), e na guerra civil síria, em que a intervenção russa, em 2015, foi um fator decisivo na manutenção do regime de Bashar al-Assad.
O retorno da Rússia ao palco da grande política mundial revela outra falha, outro defeito congênito da ordem neoliberal emergente. Refiro-me ao fato de a Guerra Fria ter terminado com uma “meia vitória” dos Estados Unidos. Vitoria política e ideológica indiscutível para um adversário que dela saiu ferido e humilhado. Mas não submetido. A União Soviética foi politicamente esmagada, fragmentou-se e, como tal, deixou de existir. Mas não foi militarmente derrotada, o seu território não foi ocupado, e sua sucessora – a Rússia – preservou o aparato militar da potência caída, com o arsenal nuclear respectivo.
A Pax Americana se assentava no pressuposto do monopólio normativo e coercitivo do condomínio ocidental, sob o comando dos Estados Unidos. Independentemente de suas intenções reais ou proclamadas, a persistência de um Estado dotado de arsenal nuclear capaz de devastar os Estados Unidos, ainda que se condenasse nessa hipótese ao mesmo destino, lançava uma sombra sobre a ordem internacional sustentada neste último.
Quarto desenvolvimento crítico, a reorientação na estratégia de desenvolvimento e inserção internacional da China operada desde 2013, no governo Xi Jinping.
A grande estratégia formulada então, ora em plena vigência, contempla três componentes básicos: o ambicioso projeto de alcançar liderança global em setores críticos de tecnologia de ponta, cuja expressão mais abrangente é o programa decenal Made in China 2025; o megaprojeto One Belt, One Road, que oferece a parceiros espalhados por cinco continentes a oportunidade de se conectarem com o mercado chinês, por meio de gigantescos planos de investimento em infraestrutura, financiados pelo Banco Asiático de Desenvolvimento e por outras instituições financeiras; e, por fim, o forte incremento no orçamento de defesa, materializado na ampliação da frota de médio porte da Marinha de Guerra, na criação de uma frota de porta-aviões e na acelerada expansão do arsenal nuclear da China. Particularmente preocupante para os Estados Unidos é a ênfase posta pelo planejamento estratégico chinês na fusão das tecnologias civil e militar.
Não obstante o elevado grau de integração econômica entre os dois países – e o fato de a inserção da primeira na economia capitalista internacional ter-se dado “a convite” da superpotência –, o crescimento acelerado da China, com as propriedades estruturais que caracterizam a sua economia (coexistência entre um setor privado fortemente internacionalizado e amplo setor bancário e produtivo estatal) cedo despertaram inquietações nos círculos dirigentes dos Estados Unidos. Inicialmente focadas em aspectos pontuais de política econômica (manipulação cambial) e em práticas comerciais (violações de direitos de propriedade intelectual, por exemplo), depois da crise de 2008 elas adquirem clara conotação geopolítica. A mudança de perspectiva já se anunciava no governo Obama, mas é a partir do primeiro mandato de Trump que ela é proclamada e passa a informar o conjunto da política de Segurança Nacional dos Estados Unidos.
Da ordem neoliberal em expansão, sob a liderança inconteste dos Estados Unidos, ao contexto de fragmentação e disputa hegemônica em que nos encontramos hoje, temas novos passam a enriquecer a agenda de estudos internacionais.
O mais amplo e desafiador entre eles consiste no problema de como caracterizar o sistema internacional e suas tendências de transformação nos dias que correm. A questão é a mesma que se punha aos analistas da cena internacional no imediato pós-Guerra Fria, mas com termos invertidos. Àquela altura, havia uma ordem em gestação; a dúvida girava em torno de sua permanência e de sua qualidade. Hoje, essa ordem está decomposta, e não está nada claro o que virá no seu lugar. Por ora, o que temos é um universo em fluxo, que admite uma única certeza: a turbulência vai durar.
Neste contexto, a tentação é grande de recorrer à noção de “interregno” para nos situarmos. A fórmula de Gramsci é conhecida: “o velho está morrendo e o novo não pode nascer; neste interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparecem”. A imagem é bela, mas não a considero adequada ao nosso problema, porque sugere uma analogia com o ciclo da vida, em que gerações se sucedem e, nesse movimento, perpetuam a espécie: no caso, um sistema estratificado de Estados, onde um deles exerce a hegemonia.
Mas nada garante que no final da linha venhamos a encontrar um sistema como esse. As mudanças em curso no mundo – penso, antes de mais nada, nas inovações tecnológicas revolucionárias no campo da inteligência artificial, da biotecnologia e da neurociência, mas também nas mudanças climáticas e demográficas – são de tal ordem que nos levam a nos interrogarmos sobre as dimensões ontológicas do sistema internacional em que vivemos.
No meu entender, a pergunta sobre a sua configuração futura está deslocada. Parto do pressuposto epistemológico de que o processo de mudança global se desenrola em condições de sistema aberto, escapando ao alcance da teoria – mesmo se fosse possível considerar todos os elementos que caracterizam o sistema em questão em um momento inicial dado – predizer o estado deste no futuro. Além disso, considero essencial o elemento de reflexividade inerente ao processo de transformação sistêmica observado, o que permite entender os referidos cenários não como projeções mais ou menos certeiras do que poderia vir a ser o estado do sistema internacional nesse ou naquele prazo, mas como projetos, futuros alternativos em disputa.
Com base nessas premissas, julgo recomendável deslocar a atenção, do debate sobre a configuração provável do sistema internacional pós-crise, para a observação metódica das características novas assumidas pela regulação econômica e pelos padrões de conflito político-militar e ideológico no período de transformação atual, a fim de avançar na análise das inflexões no processo de evolução sistêmica em cada um desses planos.
No estudo da transição entre o presente do sistema internacional e o seu futuro mais ou menos remoto, o desafio maior é o de investigar o processo real de mudança, levando em conta a relação de mútua dependência entre estrutura e práticas, entre normas e instituições, de um lado, e, de outro, as ações visando a reforçá-las ou a transformá-las. Nesse sentido, a preocupação de compreender as normas vigentes, no conjunto de seus aspectos – processo de constituição; funcionamento efetivo; tensão permanente entre fatores de fortalecimento e crise –, é decisiva.
O deslocamento proposto não é arbitrário. Como Waltz, o teórico mais rigoroso do realismo estrutural, faz questão de insistir, a estrutura não determina a ação; a lógica sistêmica afeta, mas não explica as estratégias. Ora, válida para qualquer unidade política, essa afirmativa adquire significado especial quando aplicada às superpotências de um sistema multipolar. Nesse caso, a separação entre análise estrutural e análise estratégica perde todo sentido, pois a ação das superpotências tem impactos decisivos sobre a estrutura, podendo desagregá-la com o objetivo assumido de forjar estruturas novas.
De enorme importância, os outros temas da pequena lista que preparei são mais pontuais e só posso me referir a eles alusivamente para não alongar demais esta conferência. De certa forma, eles já vinham se insinuando ao longo da exposição.
É o caso da problemática da guerra, que se coloca hoje em termos completamente diferentes daqueles que balizavam a discussão no passado recente, mas também nos tempos da Guerra Fria. O pensamento estratégico então era pautado pela quebra do monopólio nuclear, em 1949, e logo a seguir, na hipótese de confronto entre as duas superpotências, pela certeza da destruição mútua. É este o enquadramento das doutrinas de dissuasão e da montagem do regime de controle nuclear, que evolve desde a década de 1960. A multiplicação de atores nuclearizados, com domínio de tecnologia de mísseis, em conjunção com avanços revolucionários no desenvolvimento de sistemas de armas convencionais, põe em questão o princípio da paridade de poder e alimentam o sonho da superioridade nuclear, o que eleva exponencialmente o risco da hecatombe.
Este se torna ainda maior pelo recurso crescente à Inteligência Artificial no planejamento estratégico dos principais estados nuclearizados e pelas possibilidades que o emprego de tal tecnologia abrem de neutralização da capacidade de segundo ataque, vale dizer, habilidade para responder na mesma moeda a um ataque nuclear do inimigo[7].
O advento da Inteligência Artificial, em suas modalidades mais avançadas, culmina o processo caracterizado por especialistas como uma “revolução militar” – não apenas a mudança na conduta da guerra provocada pela introdução de um novo sistema de armas, mas a transformação social decorrente da combinação de múltiplas tecnologias e técnicas de gestão novas, a configurar a emergência de um sistema militar sem precedente. A característica predominante do sistema que ora se desenha é a tendência a delegar a máquinas funções até então tidas como essencialmente humanas, da qual os “sistemas de armas letais autônomas” – i.e., capazes de prospectar o terreno, identificar alvos e decidir destruí-los por conta própria – é a expressão mais notável – e aterradora! Não preciso insistir nas implicações jurídicas e éticas envolvidas no emprego de tais engenhos[8].
Outro tema que se anunciava diz respeito à infraestrutura normativa da economia internacional, ainda fortemente integrada, em suas faces comercial, financeira e produtiva, a despeito das políticas de reindustrialização adotadas pelas potências até pouco tempo atrás promotoras da ideia de um mundo costurado pelas cadeias globais de valorização. A globalização neoliberal foi alimentada pela ideia-força da correspondência necessária entre economia global e regras universais, cuja objetivação mais avançada, ainda que imperfeita, foi a Organização Mundial do Comércio, entidade dotada de dispositivo de dupla instância, de caráter judicial, para resolver conflitos. Ora, a OMC se encontra em estado de coma. Como serão dirimidas as contendas que afloram naturalmente na interrelação dos agentes da economia internacional, com a paralisia desta e de outras instituições? Os esforços de reconstituição dos mecanismos de governança global são conhecidos, e a China tem convertido essa proposta em um dos carros-chefes de sua política internacional. Mas a disposição de substituir os Estados Unidos no papel de liderança normativa não resolve o problema, apenas o conduz a um outro patamar.
Algo equivalente cabe dizer sobre os temas das mudanças climáticas e dos direitos humanos. A deserção do protagonista cria um vácuo nos regimes correspondentes, e a tentativa feita pelos demais atores de preenchê-lo suscita novos problemas.
Em outro plano, caberia destacar o problema das ferramentas requeridas para a análise da crescente interpenetração das clivagens internas e externas, com a diluição parcial resultante da distinção – constitutiva da área – entre política internacional e política doméstica.
Igualmente desconcertante é a maneira como se apresenta hoje a antiga questão do relacionamento entre Estado e capital, atores estatais e privados, no âmbito da geopolítica. As empresas capitalistas sempre foram um elemento essencial à política dos Estados, e o debate sobre o tema das multinacionais, muito aceso nas décadas de 1970 e 1980, ainda continua instrutivo. Mas a privatização dos serviços de utilidade pública, um dos traços distintivos do capitalismo neoliberal, introduz na discussão um elemento novo: o controle privado sobre elementos centrais da infraestrutura informacional, que desempenha papel decisivo na organização socioeconômica de qualquer país, bem como na guerra contemporânea, como vimos. O caso da Starlink e sua participação na guerra na Ucrânia, com as idas e vindas de seu dono, Elon Musk, é bastante ilustrativo[9].
Poderia seguir na listagem, mas o meu tempo está se esgotando. Direi, portanto, uma palavra final sobre um tema novo, que nos interpela a todos fortemente. Refiro-me à agressão que o Brasil vem sofrendo dos Estados Unidos desde julho deste ano. Tarifaço; abertura de investigação oficial contra o país sob alegações disparatadas, como antessala de novas e mais graves retaliações; aplicação – ou ameaça de aplicação – da lei Magnitsky contra juízes de nossa corte suprema, o que lhes impede, sem remissão, de fazer uso de serviços financeiros essenciais à vida de pessoas físicas e jurídicas no presente. Mais do que atos arbitrários de um político com vocação autocrática, esses fatos expressam à sua maneira o estado atual do mundo, com todas suas aberrações.
A comunicação direta e a troca recente de afagos entre Trump e Lula atenua a tensão e abre a perspectiva de uma acomodação de interesses entre os dois países, mas não altera os dados estruturais do seu relacionamento.
Pela extensão de seu território, o peso de sua economia, o tamanho de sua população, sua inserção internacional, o Brasil tende a ser arrastado pela lógica da competição global em curso. E o será tanto mais à medida que os Estados Unidos redefinem sua estratégia de segurança e passam a atribuir prioridade máxima ao controle sobre o que consideram sua esfera natural de influência. A definição de organizações criminosas como grupos terroristas, a concentração de força naval na região do Caribe e o seu emprego contra embarcações civis são muito preocupantes; e a ameaça de empregá-la em grande escala em operação de mudança de regime em um país vizinho, se concretizada, nos afetará dramaticamente.
O Brasil no mundo, nas condições turbulentas em que nos encontramos, este o último tema de minha pequena lista. Ele nos desafia intelectualmente, como os demais, enquanto estudiosos, mas além disso nos convoca a todos, como membros que somos da comunidade nacional.
Na celebração dos dez anos do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Uberlândia, e na largada de seu Doutorado, desejo a todos – colegas e estudantes – bom trabalho e um futuro de grandes realizações.
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
[1] Sebastião Velasco e Cruz é ex-coordenador do INCT-INEU e coordenador do OPEU, Professor Titular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Professor do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (UNESP/UNICAMP/PUC-SP).
[2] Velasco e Cruz, Sebastião C. e Filipe Mendonça, “O Campo das Relações Sociais no Brasil. Situação, Desafios, Possibilidades”, in Martins, Carlos Benedito (Coordenador Geral) e Lessa, Renato (Coordenador de Área), Horizontes das Ciências Sociais no Brasil Ciência Política, São Paulo, ANPOCS, 2010, pp. 297-320.
[3] Rosenau JN, Czempiel E-O, eds. Frontmatter. In: Governance without Government: Order and Change in World Politics. Cambridge Studies in International Relations. Cambridge University Press; 1992.
[4] Cf. entre outros, Teubner, Gunther, Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization. Oxford University Press, 2012.
[5] Cf. Russett, Bruce, Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold War World, Princeton University Press, 1994.
[6] Salvo engano, a exposição mais elaborada dessa tese encontra-se em Held, David, Democracy and the Global Order. From Modern State to Cosmopolitan Governance. Stanford, Stanford University Press, 1995.
[7] Bracken, Paul, The Hunt for Mobile Missiles. Nuclear Weapons, AI, and the New Arms Race. Philadelpia, Foreign Policy Reseach Institute, 2020.
[8] Cf. Roy, Kaushik (Ed.), Artificial Intelligence, Ethics, and the Future of Warfare. London/New York, Routledge, 2024.
[9] Abels, Joscha, “Private Infrastructure in Geopolitical Conflicts: the case of Starlink and the war in Ukraine.” European Journal of International Relations, Vol 30(4), 2024, pp. 842-866.
Referência imagética: Aula inaugural do doutorado em Relação Internacionais da UFU, em 21 out. 2025, com os profs. Sebastião Velasco e Cruz, Débora Figueiredo Mendonça do Prado e Sandra Cardozo (Crédito: profª Lara Delis/UFU)