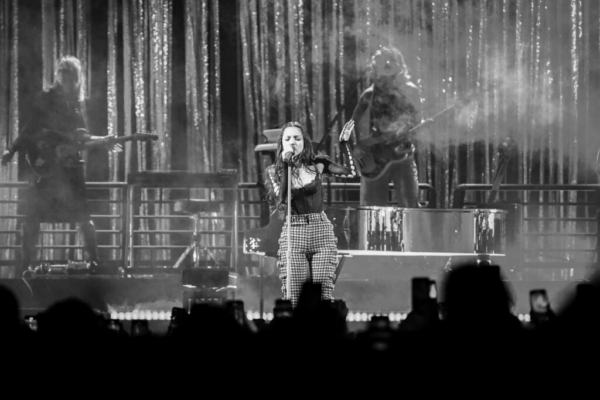Marcelo de Souza Marques1
1º de setembro de 2025
Entre 2013 e 2016, o Brasil viveu um período de efervescência social e política marcado por grandes protestos em todo o país. Inicialmente convocadas por pautas progressistas, como a redução da tarifa do transporte público, as manifestações rapidamente se tornaram um terreno de disputa entre diferentes projetos de sociedade — da esquerda à extrema direita.
Esse momento, ao mesmo tempo fragmentado e potente, também foi palco da emergência de novos sujeitos coletivos. Em especial, os chamados coletivos passaram a ocupar um lugar relevante no debate político-organizacional, desafiando modelos tradicionais de ação coletiva e oferecendo outras formas de se organizar e de intervir no mundo. Foi esse o ponto de partida da pesquisa que desenvolvi e que resultou no artigo “Crítica à política tradicional e posição diferencial: algumas considerações sobre a emergência dos coletivos culturais contemporâneos”, publicado na revista Civitas (2025).
Dentre outros achados, a pesquisa revelou que os coletivos culturais contemporâneos representam mais do que um novo tipo de organização. Eles são respostas criativas a um cenário de crise da representação e, ao mesmo tempo, retomam tradições do associativismo, do autonomismo e da cultura política brasileira, ressignificando-as a partir das condições atuais.
Coletivos Culturais Contemporâneos: novas experiências (associ)ativistas
Um dos pontos de partida da pesquisa foi a hipótese de que os coletivos culturais contemporâneos não surgem do “nada”. Eles têm história, vínculos com experiências organizacionais anteriores e são profundamente influenciados pelo contexto político em que emergem. Inclusive, é possível indicar uma distinção entre coletivos artísticos e coletivos culturais — tema de outro trabalho (Marques; Marx, 2025a). Os coletivos artísticos costumam estar mais voltados para o próprio mundo das artes — com foco na criação, na estética e nos debates internos ao campo artístico. Já os coletivos culturais usam a arte como linguagem para dialogar com temas sociais, políticos e comunitários. Dessa forma, extrapolam a dimensão estritamente artística e o seu campo; misturam teatro com ativismo, música com educação, dança com luta por direitos. Em suma, são grupos que colocam a cultura em movimento para transformar o cotidiano e os territórios em que atuam.
Os dados mostram que, embora não exista uma relação de causa e efeito direta entre os protestos de 2013-2016 e a criação dos coletivos culturais, esse período foi um ponto de virada. Muitos grupos surgiram ou se fortaleceram justamente nesse contexto, aproveitando a abertura de sentidos provocada pelas ruas em ebulição. Naquele momento, mais do que criar novas organizações, os coletivos passaram a experimentar novas formas de estar juntos, de decidir em grupo e de agir politicamente. Em vez de seguir o modelo tradicional de partidos, sindicatos ou ONGs — muitas vezes vistos como distantes, engessados e hierárquicos —, eles buscaram caminhos mais leves, mais abertos.
Isso não significa que os coletivos funcionem sem organização — avançamos em outro trabalho (Marques; Marx; Cruz, 2025b). O que muda é o jeito de organizar: menos líderes e mais redes, menos regras fixas e mais acordos construídos no processo, menos centralização e mais horizontalidade. Como disse um dos entrevistados, “coletivo tem uma liberdade por si só […] não precisa ir lá pedir autorização pra alguém pra solucionar”. A ideia é que todo mundo tenha voz e que as decisões possam ser tomadas de forma mais horizontal – ainda que os coletivos apresentem diferentes experiências e níveis de formalização interna.
No fundo, o que esses grupos estão fazendo é buscar novas experiências de (associ)ativismo. Misturam arte com política, cultura com educação, vivência com militância. Criam espaços onde é possível se expressar, aprender, construir vínculos e disputar sentidos — seja fora dos velhos moldes, seja a partir deles, como nos casos de coletivos políticos formados dentro das estruturas partidárias. E é justamente aí que mora a potência dos coletivos.
A crítica à política tradicional: a busca por novas formas de participação
De forma intuitiva, o conceito de “crítica à política tradicional” ocupa um lugar central na análise. Ele diz respeito ao desgaste das formas convencionais de participação política — como partidos, sindicatos e ONGs —, que, especialmente naquele contexto, passaram a ser percebidas por muitos ativistas como estruturas hierárquicas, burocráticas, ineficientes e pouco representativas.
Mas essa crítica não significa apatia política — muito pelo contrário! O que se observa é uma aposta em formas alternativas de organização, mais flexíveis, horizontais e colaborativas. Os coletivos culturais, nesse sentido, configuram-se como espaços de experimentação política, nos quais se busca articular ação política, expressão estética e formas inovadoras de convivência — tudo isso sem apego estrito ao campo artístico e às suas regras e paradigmas.
O que define um coletivo não é apenas o que ele faz, mas como faz: sem lideranças formais e verticais, com divisão horizontal de tarefas, autonomia criativa e abertura à diversidade, se lançam ao possível. Essa postura diferencia essa forma de organização societária de outros arranjos organizacionais e ajuda a explicar sua expansão no cenário recente, desafiando analistas e gestores públicos.
Posição diferencial e exterior constitutivo
Escolher um modelo coletivo de organização — mais horizontal, autônomo e colaborativo — tem um significado mais profundo do que parece. Não é só uma questão de estilo, e sim uma tomada de posição. Os sujeitos se organizam como coletivos porque desejam ser outra “coisa” em relação ao que “já está aí”.
Eles se diferenciam de partidos, ONGs, sindicatos e até mesmo de organizações de movimentos sociais mais tradicionais, frequentemente percebidos como engessados, excessivamente formais ou distantes da base. Mas o curioso é que esses modelos tradicionais, mesmo sendo discursivamente antagonizados, ajudam os coletivos a se definirem. São o “outro” a partir do qual eles constroem a sua identidade e experiências. É o que podemos chamar de exterior constitutivo: aquilo que está fora, mas que, por meio de uma relação diferencial, participa da constituição do que está dentro.
Na prática, isso significa que ser um coletivo não é só estar junto: é estar junto de outro jeito. É experimentar formas mais abertas de se organizar, evitar estruturas hierárquicas, apostar na circulação de falas e na troca de saberes. Não é que não existam conflitos ou relações de poder — eles existem. Mas há uma tentativa consciente de criar espaços mais flexíveis, onde o diálogo, a escuta e o afeto também façam parte da política, desconstruindo a ideia de liderança formal e centralização das decisões.
Essa recusa ao “modelo tradicional” é, ao mesmo tempo, crítica e criativa. Porque não se trata apenas de dizer “isso eu não quero”, mas também de construir — no cotidiano, nas ações, nas escolhas — formas novas de fazer junto. É aí que os coletivos ganham força: ao propor alternativas concretas — mesmo com tensões internas — a outros modelos de organização que, para os seus integrantes, não são compatíveis com as experiências almejadas. Essa é a posição diferencial discursivamente construída em relação a outros modelos organizacionais.
Coletivos como alternativa e afirmação?
Desde as nossas primeiras reflexões sobre os coletivos (Marques; Marx, 2020; Gohn; Penteado; Marques, 2020), longe da busca por um “novo fenômeno sociológico”, buscamos compreender a novidade dos coletivos à medida que (res)surgem no debate político-organizacional e acadêmico, resgatando diferentes experiências, como os autonomistas, os anarquistas e grupos socialistas (Santos, 2022). Igualmente relevante, é preciso destacar que esses grupos não estão isentos de contradições — como qualquer forma de organização —, mas oferecem pistas importantes sobre como as juventudes têm buscado se organizar e participar da vida político-societária em meio à crítica à política tradicional e ao avanço de discursos conservadores — o atual “momento populista” pode conferir um novo contexto estratégico-relacional para pensarmos os coletivos e suas interações com a esfera política institucionalizada. Em suma, ao analisarmos essas experiências, ampliamos nossa compreensão sobre as formas contemporâneas de ação coletiva e sobre o papel da cultura na política.
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
Para saber mais:
MARQUES, Marcelo de S. Crítica à política tradicional e posição diferencial: algumas considerações sobre a emergência dos coletivos culturais contemporâneos. Civitas – Revista de Ciências Sociais, v. 25, p. 1-12, 2025.
Referências
GOHN, Maria da Glória; PENTEADO, Claudio Luis C.; MARQUES, Marcelo de S. Os coletivos em cena: experiências práticas e campo de análise. Simbiótica. Revista Eletrônica, v. 7, p. 01-07, 2020.
MARQUES, Marcelo de S.; MARX, Vanessa. Coletivos e as novidades no debate político-organizacional: uma abordagem processual-relacional sobre os coletivos culturais contemporâneos no Brasil. Opinião Pública, v. 31, p. 01-41, 2025a.
MARQUES, Marcelo de S.; MARX, Vanessa; CRUZ, Deivison S. Quem Tem Medo da Organização? Dimensão Organizacional no Ativismo e nos Processos Decisórios dos Coletivos Culturais do Espírito Santo. Dados – Revista de Ciências Sociais, v. 68, p. e20230024, 2025b.
MARQUES, Marcelo de S.; MARX, Vanessa. Os coletivos em cena: algumas contribuições para o debate. Simbiótica. Revista Eletrônica, v. 7, p. 08-32, 2020.
SANTOS, Breno A. O. O “Novo” em velhas práticas: uma análise sobre a noção de “Novíssimos” Movimentos Sociais e Coletivos. Simbiótica. Revista Eletrônica, v. 9, n. 1, p. 20-37, 2022.
- Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Integra a Coordenação do Comitê de Pesquisa Movimentos Sociais da Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS). ↩︎