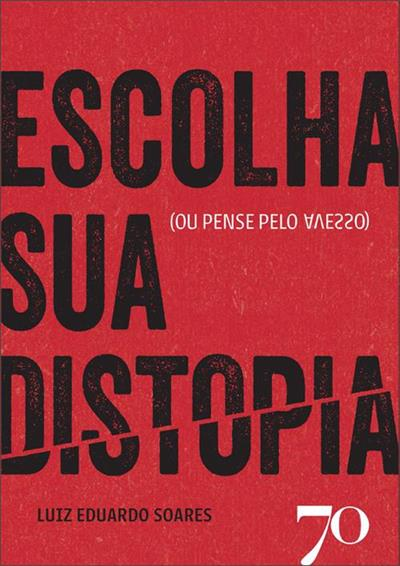Guilherme C. de Moraes[1]
14 de março de 2025
No século passado, as manifestações estadunidenses contra a guerra do Vietnã, a luta por direitos civis nos Estados Unidos, a instalação de mísseis nucleares na Europa e a descolonização do Sul global foram algumas das lutas políticas que impulsionaram o debate sobre a ideia de desobediência civil para o centro da preocupação de renomados teóricos políticos, como John Rawls, Hannah Arendt, Jurgen Habermas e Ronald Dworkin. Entre os méritos dessa geração, vale destacar a influência de suas definições e abordagens que, ainda hoje, seguem balizando o debate intelectual, além de incluir, de uma vez por todas, a ideia de desobediência civil no rol de manifestações políticas que integram a gramática das sociedades democráticas.
Se não é possível apontar a figura de John Rawls como pioneiro no oferecimento de uma abordagem teórica sobre a desobediência civil, é inegável a influência que o autor desempenha também neste debate. A proeminência da abordagem rawlsiana da desobediência civil surpreende se contrastada ao tratamento, relativamente pequeno, que o tema recebe em sua obra. Apesar disso, as páginas dedicadas à desobediência civil em Uma Teoria da Justiça se tornaram um ponto de partida fundamental, seja para aqueles que buscam levar adiante o legado teórico da tradição liberal ou para aqueles que procuram provar os méritos de abordagens concorrentes através da confrontação com a abordagem liberal hegemônica. É este segundo caminho que foi adotado em Habermas e o modelo democrático de desobediência civil, publicado no mais recente número da Revista Lua Nova.
Adotando a terminologia proposta por Willian E. Scheuerman (2018), buscou-se confrontar o que o autor chamou de modelo liberal da desobediência civil, do qual John Rawls é representante paradigmático, com o modelo de desobediência civil identificado como democrático e que, no artigo, a obra de Jurgen Habermas é assumida como representativa.
Embora as propostas de Rawls e Habermas sejam conceitualmente bastante parecidas, os autores diferem significativamente no modelo de justificação da desobediência civil e, sobretudo, na função que cada um espera que ela possa desempenhar em sociedades democráticas. A semelhança conceitual é reafirmada mais de uma vez por Habermas que, seja em seu Desobediência Civil – a pedra de toque do Estado democrático de direito, ou em Facticidade e Validade, menciona a definição de Rawls e reconhece a sua influência.
A desobediência civil é entendida por ambos como uma violação pública, não violenta e conscienciosa da lei, praticada como uma forma de contestação e com o intuito de provocar mudanças legais ou nas políticas governamentais. Além disso, os autores entendem, em comum, que os atos de desobediência devem estar situados nos limites constitucionais. Em outras palavras, sua extensão ou ambição não deve ser tamanha a ponto de ameaçar a ordem constitucional. A desobediência civil, portanto, seria limitada pela fidelidade à lei. Os cidadãos desobedientes devem demonstrar respeito geral por seu regime e se dispor a aceitar as consequências jurídicas de suas ações, como prova de sua subordinação ao Estado de Direito.
Contudo, no registro rawlsiano, a desobediência civil é uma possibilidade para grupos minoritários, os quais, ao serem oprimidos, podem apelar para o senso de justiça das maiorias e para o dever de todos os cidadãos de contribuir para uma sociedade mais justa. Em uma política liberal e democrática, a desobediência civil reforça o empenho de cidadãos livres e iguais no combate a leis injustas. Não se trata de enfraquecer a ordem democrática legal; pelo contrário, trata-se de uma ação direcionada para o fortalecimento da ordem social e jurídica com vista à promoção da justiça, de modo que poderíamos entendê-la como ilegal, mas normativamente legítima.
Quando os direitos civis e políticos fundamentais, expressos por Rawls em seu primeiro princípio de justiça, são sistematicamente violados e os mecanismos institucionais normais de reparação falham, a desobediência civil pode ajudar a desencadear ações corretivas. Logo, a desobediência civil tem a função de conter a democracia em nome da justiça: ela controla os excessos do governo da maioria, restaurando o equilíbrio adequado entre o majoritarismo e a preservação dos direitos civis e políticos comumente identificados com o liberalismo.
O que autores como Scheuerman (2018), Celikates (2016) e Cohen e Arato (1994) questionam é: temos razões suficientes para excluir do escopo da desobediência civil violação e injustiças que não violam o primeiro princípio da justiça como equidade? E quanto à violação de leis que visam mais do que garantir as liberdades individuais contra maiorias tirânicas? Ou ainda: em democracias injustas, o que podemos dizer, de um ponto de vista liberal, sobre os contornos apropriados para a ação política de cidadãos descontentes? Essas questões indicam algumas das insatisfações filosóficas com as respostas liberais e abrem caminho para o desenvolvimento de um modelo alternativo.
De modo próprio ao modelo democrático, Habermas (2015) passou a ver a desobediência civil como um incentivo à democracia, um canal possível de atividade democrática popular suspensa entre o direito positivo e a legitimidade que vem das ruas. Nesse ínterim, a desobediência civil pode desempenhar um papel não apenas de defesa dos direitos individuais, como criticado no modelo liberal, mas assumir um potencial de reconfiguração da democracia e do governo constitucional.
A proposta que o autor busca desenvolver estaria atrelada à filosofia do direito, e posiciona a desobediência civil na tensão constitutiva entre a legitimidade e a legalidade de uma democracia constitucional. Essa seria também uma forma de responder aos argumentos legalistas que buscavam criminalizar os movimentos sociais emergentes nas novas cenas de protestos da Alemanha durante a década de 1970-80, indicando os limites daquilo que Habermas chamou de “legalismo autoritário”. Em suma, explica Melo (2019, p. 299), trata-se de distinguir a ideia de legalidade e legitimidade e indicar que a legitimidade política não é mera decorrência da legalidade estabelecida pelo direito.
A legitimidade do Estado democrático de direito exige que os cidadãos reconheçam a ordem jurídica e depositem nela confiança, não apenas temor por sua capacidade de impor sanções: “A lealdade à lei deve resultar de um reconhecimento com discernimento e, por conta disso, voluntário daquela pretensão normativa à justiça que toda ordem jurídica levanta” (Habermas, 2015, p. 136).
Em suma, os cidadãos de uma democracia política só devem obediência às leis se, e na medida em que, a lei se apoia em princípios dignos de reconhecimento, de modo a tornar aquilo que é legal, legítimo. Esse reconhecimento se apoia no pressuposto de que, nas democracias, a lei é o resultado de um processo de deliberação pública que é, por fim, transformado em ordem legal pelas instituições políticas e jurídicas que conferem um caráter positivo à vontade política dos cidadãos.
Em regimes democráticos, como o Brasil, o ordenamento político-jurídico conta com um conjunto robusto de procedimentos e mecanismos de revisão que devem ser percorridos por uma proposta de lei. Isso envolve, por exemplo, no Legislativo, o trabalho das Comissões Especiais e o bicameralismo; no Executivo, a necessidade de sanção presidencial; no Judiciário, a possibilidade de veto da Suprema Corte. Essa complexa arquitetura institucional compõe uma engrenagem que nos ajuda a ilustrar e atestar a elevada necessidade de revisão e autocorreção da lei no Estado democrático de direito. A desobediência civil é, para Habermas (2015), uma possibilidade extrainstitucional de revisão dos comandos legais, aberta aos cidadãos de uma democracia.
Ao interpretar as novas cenas de protestos na Alemanha na chave da desobediência civil, Habermas (2015) também alarga as possibilidades de justificação de tal ato e se afasta das exigências justificatórias de Rawls (2008). Ao recorrerem à desobediência civil para protestar contra a instalação de foguetes e mísseis nucleares na Alemanha, os cidadãos não podem se valer da mesma justificação de todos aqueles e aquelas que lutaram por direitos civis nos Estados Unidos e que, em vias gerais, podem encontrar mais respaldo na justificação liberal.
Como assinalou Scheuerman (2018), os protestos ilegais na Alemanha denunciavam o modo como o governo em Bonn conduzia as questões envolvendo fontes energéticas e a corrida armamentista sem um amplo debate público. O que os cidadãos exigiam é que as decisões fossem tomadas após um extenso debate público, não por meio de “atalhos” decisionistas democraticamente duvidosos. O que estava em jogo era a reconexão do fio que liga a legalidade e a legitimidade.
Em outras palavras, o que justificaria os atos ilegais de desobediência, nesse contexto, são os esforços para superar os déficits democráticos no processo de decisão. Embora essas decisões possam ter legalidade do ponto de vista dos ritos políticos institucionalizados e contidos na Constituição, são vistas como ilegítimas por grupos organizados da sociedade civil. Esses grupos consideram que os ritos e procedimentos que garantem a sustentação popular da democracia foram negligenciados. Isso pode ocorrer por falta de debates, pelo sufocamento de vozes ou pelo uso de recursos decisionistas. Esses mecanismos permitem a tomada de decisões sem um processo público de formação da opinião e da vontade política.
Sob a perspectiva da abordagem democrática, a desobediência civil se distancia de uma interpretação que enfatiza os cidadãos como meros portadores de direitos individuais, assumindo uma natureza predominantemente política e coletiva. A desobediência civil democrática representa um ato de confrontação contra a autoridade estatal vertical — o que Celikates (2016) definiu como poder constituído — em favor da autoridade horizontal dos cidadãos e dos governados, o poder constituinte.
Um dos aspectos importantes dessa interpretação oferecida por Habermas (2020, p. 486) é que a desobediência civil representa um momento em que a sociedade civil, por meio da tomada de consciência de uma crise, pode agir para intensificar a pressão da esfera pública sobre o sistema político. Embora a desobediência civil possa se opor a decisões que obedecem aos ritos institucionais constitucionalmente assegurados, sua justificação se apoia em uma compreensão radicalmente democrática e dinâmica da Constituição como um processo permanentemente inacabado.
Dessa perspectiva, o Estado de direito é um projeto inconcluso, uma espécie de empreendimento vulnerável, falível e que exige a constante revisão: “Essa é a perspectiva dos cidadãos que participam de forma ativa da realização do sistema de direitos e que, estando atentos e apelando às condições modificadas dos contextos, pretendem superar em termos práticos a tensão entre facticidade social e validade” (Habermas, 2020, p. 487).
Dessa forma, a mobilização dos cidadãos em protestos e manifestações políticas de descontentamento, ou outras formas de tematização, dramatização e conflito, ajuda a pressionar o sistema político e indicar um processo de erosão da legitimidade democrática. A desobediência civil, quando analisada de um ponto de vista que estamos identificando como abordagem democrática, representa um momento, ou uma possibilidade, nesse processo de ebulição, em que os cidadãos, por meio de suas práticas, buscam indicar a necessidade de reconexão do vínculo entre a facticidade e a validade do direito. Em suma, explica Melo (2019, p. 308), a desobediência civil consistiria em um “momento dramático em que os cidadãos buscam efetivar uma espécie de contrapoder, que é reivindicado com base na aspiração social por mais autonomia, pela restituição da legitimidade política e em prol de uma democratização radical do Estado de direito” .
O modelo democrático assume esse nome porque aposta na desobediência civil como um componente mais amplo de contestação e participação política. Trata-se de uma possibilidade de luta para superação dos déficits democráticos, mesmo quando os direitos individuais não estão sob ameaça. Habermas (2010) vê, na desobediência civil, uma forma de engajamento político mais “permissivo”, quer dizer, uma prática que não está restrita a casos de injustiça que envolvam a violação de direitos civis básicos, mas o que Celikates (2016, p. 8) descreveu como uma forma de “empoderamento democrático”. Desse modo, a desobediência civil é também um instrumento para pautar assuntos na agenda política pública, colocando em evidência demandas e grupos negligenciados, aumentando as informações e a conscientização dos cidadãos envolvidos no processo de deliberação, destacando os déficits democráticos e os efeitos excludentes de certos processos políticos e contribuindo para uma participação mais inclusiva.
A teoria habermasiana, embora não seja a única representante dessa abordagem, serve-nos como um caso paradigmático à medida que concebe a desobediência civil como um canal disponível para aqueles que buscam assegurar que a democracia seja ativamente praticada pelos cidadãos e efetivamente assegurada pelas instituições (Scheuerman, 2018).
Ao conceber a desobediência civil na relação entre o direito positivo e a legitimidade democrática, Habermas permite que ela possa desempenhar um papel criativo e construtivo na interpretação dos textos legais, mas também na proposição de medidas, direitos e na reconfiguração institucional das democracias constitucionais. Assim, Habermas (2020) pôde levar adiante uma insatisfação comum a outros representantes da abordagem democrática da desobediência civil, como Hannah Arendt (2010), Cohen e Arato (1997) e Willian Scheuerman (2018), atribuindo à desobediência civil um papel significativamente mais robusto do que o papel singular de guardiã de direitos e liberdades individuais que eventualmente possam estar sob ameaça (Scheuerman, 2018).
Isso é possível devido à interpretação do Estado democrático de direito como um projeto permanentemente inacabado, que exige a constante reinterpretação de suas bases e revitalização de seu conteúdo normativo pelos cidadãos do presente, segundo os seus próprios contextos históricos.
Em suma, a desobediência civil democrática nos oferece uma abordagem política voltada para o futuro e para os seus potenciais radicalmente transformadores à medida que permite vociferar novas demandas emergentes na esfera pública, interpretações renovadas sobre a justiça e os direitos, ampliação das formas de participação democrática, além de não excluir a possibilidade de luta por reformas econômicas que tornem o projeto democrático não apenas assentado em uma concepção de igualdade política e moral, mas também economicamente mais igualitário.
*Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta de nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
Referências Bibliográficas
CELIKATES, Robin. (2016). Democratizing civil disobedience. Philosophy and Social Criticism, [s. l.], v. 42, n. 10, pp. 1-13. DOI: https://doi.org/10.1177/0191453716638562
COHEN, Jean; ARATO, Andrew. (1994). Civil Society and Political Theory.Cambridge: MIT Press.
HABERMAS, Jürgen. (2015). Desobediência Civil – a pedra de toque do Estado democrático de direito. In: HABERMAS, Jürgen. A nova obscuridade. São Paulo: Editora Unesp. pp.127-154.
HABERMAS, Jürgen. (2020). Facticidade e Validade. São Paulo: Editora Unesp.
MELO, Rúrion. (2019). Legitimidade política e esfera pública. Disputando os sentidos da desobediência civil. Dissonância: Revista de Teoria Crítica, Campinas, v. 3 n. 1, pp. 291-320.
RAWLS, John. (2008). Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes.
SCHEUERMAN, William E. (2018). Civil Disobedience. Cambridge: Polity Press.
[1] Doutorando no Programa de Pós-Graduação do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, com bolsa financiada pela Fapesp (2024/00236-9). Atualmente é pesquisador visitante na Goethe Universität Frankfurt am Main e no centro de pesquisa Normative Orders.
Referência imagética: Civil disobedience rally at Hazelwood, 8 oct 2009. Disponível em <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Civil_disobedience_rally_at_Hazelwood_September_2009.jpg>. Acesso em 02 abr 2025.