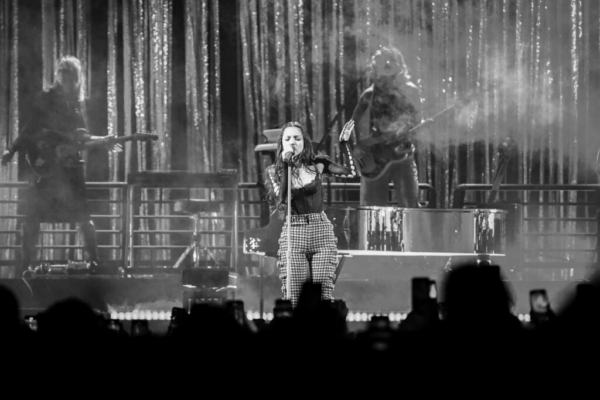Serge Yosypenko1
O texto a seguir corresponde à intervenção do professor Serge Yosypenko no evento “24 de fevereiro de 2022: o retorno da guerra em grande escala”. A conferência completa pode ser assistida em vídeo aqui. A tradução foi realizada pelo professor Felipe Freller (DCP-USP/CEDEC), e uma versão abreviada desta intervenção foi publicada no caderno Ilustríssima da Folha de S. Paulo, disponível no site em 31 de agosto de 2025 e no jornal impresso em 7 de setembro de 2025.
Observações preliminares
Estou particularmente feliz por proferir esta conferência aos meus colegas brasileiros, e não somente porque a Ucrânia e os ucranianos estão ligados ao Brasil por muitos laços, reais e imaginários. Há também outra razão. O tema da minha apresentação e o seu contexto recordam-me outro momento decisivo da história vivida: no fim da existência da URSS, durante o período da “perestroika”, falava-se muito de “laços horizontais”, quando empresas, regiões e repúblicas da URSS começaram a cooperar, não por intermédio do “centro da União”, mas diretamente. Hoje, vivemos uma situação semelhante nas relações internacionais: os velhos “centros” sobre os quais se apoiava a ordem internacional estão perdendo sua importância, e os “laços horizontais” entre os países, inclusive intelectuais, estão se tornando cruciais para o estabelecimento de uma nova ordem, esperemos que mais justa e razoável.
Sou um ucraniano nascido e criado na URSS, para quem o colapso da URSS e a independência da Ucrânia foram o início da vida em um mundo novo, pacífico e livre. Naquela época, em 1991, parecia que os pesadelos da “era dos extremos”, para retomar a expressão de Eric Hobsbawm – guerras sangrentas, genocídios e outros crimes dos regimes totalitários –, pertenciam para sempre ao passado, e que, com o fim do “curto século XX”, a história do último império da Europa do Leste chegava ao fim. Todavia, a guerra que começou em 24 de fevereiro de 2022 mudou sensivelmente essa visão da história e a compreensão da história em geral.
No contexto deste ponto de inflexão, o trabalho de Raymond Aron (1905-1983) adquiriu uma importância única. Durante o período pós-Guerra Fria, ele foi considerado, acima de tudo, como um filósofo da história, um clássico nas pesquisas sobre ideologias e regimes políticos, especialmente os totalitários, mas também um combatente contra as ilusões comunistas dos intelectuais ocidentais. O retorno da guerra deu particular relevância a suas pesquisas sobre os problemas da paz e da guerra, especialmente as guerras do século XX. Em minha apresentação de hoje, vou me apoiar principalmente em seu livro Les guerres en chaîne [As guerras em cadeia] (1951), consagrado à análise da sequência de três guerras: a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais e a Guerra Fria.
Surpresa da guerra em grande escala
O tema da minha conferência será a chamada “guerra na Ucrânia”, que tem atraído a atenção do mundo inteiro desde a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022. Em minha apresentação, vou me concentrar menos nas causas desta guerra do que na própria guerra como um evento, e tentarei descrever esse evento como tal. Farei isso não como historiador, que tem o privilégio de trabalhar com eventos já terminados, mas como filósofo da história e “espectador engajado”, que está diretamente concernido por esse evento e que vem observando seu desdobramento há mais de 3 anos, vendo-o cada vez por um ângulo novo e inesperado.
Portanto, considerarei a guerra que começou em 24 de fevereiro, antes de mais nada, como um evento-surpresa. Contudo, devemos primeiro distinguir entre a surpresa do ataque da Rússia contra a Ucrânia, em 24 de fevereiro, e a surpresa da própria guerra – distinção que requer duas observações metodológicas.
Em primeiro lugar, gostaria de lembrar que o ataque da Rússia contra a Ucrânia não foi algo inédito: tal ataque já ocorrera em fevereiro de 2014, quando as tropas russas ocuparam a Crimeia. Depois desse ataque e, mais tarde, da anexação da Crimeia e da intervenção da Rússia no leste da Ucrânia, o conflito entre os dois Estados assumiu a forma de uma “guerra híbrida” e, no leste da Ucrânia, de um conflito armado de “baixa intensidade”. Quando, durante o outono de 2021 e o inverno de 2021-2022, a Federação Russa começou a se preparar abertamente para uma nova invasão em larga escala da Ucrânia, sem esconder suas intenções, nem os ucranianos nem o “Ocidente coletivo” acreditaram na realidade dessas intenções, e tiveram a esperança, até o último dia, de que ainda se tratava de uma chantagem da Rússia. O fato de tal ataque ter ocorrido não foi apenas uma surpresa, mas também um ponto de virada em nossa percepção das coisas: o que ontem parecia inacreditável e absurdo tornou-se simplesmente um fato consumado. Consequentemente, desde 24 de fevereiro, muitos especialistas dizem que tudo estava claro para eles desde o início, que era óbvio que tudo caminhava para esse ataque; todos citam as palavras de Putin sobre a “catástrofe geopolítica”, seu discurso em Munique em 2007 etc. Em minha visão, trata-se do fenômeno que Raymond Aron chamou de “ilusão retrospectiva de fatalidade”. O que ontem parecia inacreditável e absurdo torna-se hoje uma realidade que parece perfeitamente lógica. E corremos o risco de passar de uma ilusão para a outra, de “é impossível porque é absurdo” para “é completamente lógico porque aconteceu”. Em minha análise, sustento a posição de que surpresas e coisas inacreditáveis e absurdas acontecem na história, e que entender a história é entender seus eventos tais como eles são, em todo o seu absurdo e improbabilidade.
Há um ponto ainda mais importante aqui. Referências retrospectivas à lógica de ações que antes pareciam absurdas e inacreditáveis assumem frequentemente a forma de uma justificação e legitimação dessas ações. No caso de 24 de fevereiro, seria algo como: “Putin exigiu algo, nós não lhe demos, portanto ele não tinha outra escolha além de atacar e ir para a guerra”. Sobre este ponto, gostaria apenas de salientar que não há nem necessidade nem fatalidade em toda essa cadeia de eventos e de ações e, principalmente, que, se ações inacreditáveis e absurdas se tornam realidade, isso não as torna nem lógicas, nem justificadas, nem legítimas.
Outra observação diz respeito à guerra como uma surpresa: um ataque, por si só, não desencadeia necessariamente uma guerra. Para a guerra, tanto o ataque quanto a defesa são necessários; e considerar a guerra não apenas da perspectiva de quem ataca, mas também da de quem se defende, não é uma abordagem nova nem original, mas ela é frequentemente negligenciada nas análises sobre a guerra na Ucrânia. Terei por apoio, aqui, a posição que Vincent Descombes formulou de maneira breve e essencial: “Como dizia Clausewitz, e como nos lembra Castoriadis […], a causa da guerra não é a agressão, mas a defesa. A guerra não irrompe porque um povo toma a ofensiva, mas porque um povo se sente ofendido, considera-se em estado de legítima defesa. Se as vítimas de uma invasão não escolhessem defender o que elas estabelecem, na representação que fazem de si mesmas, como a fronteira de sua integridade, nunca teria havido uma guerra”2.
Quaisquer que tenham sido os planos e o que realmente se esperava da “operação militar especial” proclamada por Putin em 24 de fevereiro de 2022, uma coisa é clara: se os ucranianos não tivessem demonstrado vontade e determinação para se defender, e, principalmente, se eles não estivessem em condições de resistir eficazmente a esse ataque em larga escala; ou, se o Estado ucraniano não fosse capaz de organizar tal resistência, a guerra não teria acontecido. Teríamos apenas uma operação de retaliação e de anexação da Ucrânia, incomparavelmente mais brutal do que a operação de anexação da Crimeia em 2014, e muito maior do que a invasão russa da Geórgia em 2008.
Portanto, ao analisar como o ataque de 24 de fevereiro se transformou em uma guerra em grande escala, analisarei essa cadeia de eventos e de ações não apenas da perspectiva da lógica das ações ou dos desejos da Rússia e/ou de Putin, mas também da perspectiva da lógica das ações e das aspirações da Ucrânia e dos ucranianos.
Na minha visão, nem o próprio Putin, nem o Ocidente coletivo, nem os ucranianos esperavam que o ataque em larga escala da Rússia contra a Ucrânia, em 24 de fevereiro, marcasse o início de uma guerra de tal magnitude, intensidade e duração. Esse ataque foi planejado segundo o conceito de “choque e terror”, e foi realmente um grande choque psicológico, especialmente para todos aqueles que, como eu, acordaram na manhã de 24 de fevereiro com o som de explosões, mas esse choque teve um efeito oposto ao previsto: a vontade de resistir. Essa resistência só se transformou em uma guerra em grande escala após uma série de transformações nas perspectivas e na natureza do conflito.
Desde o início, antes mesmo de 24 de fevereiro, temia-se que, no caso de um ataque russo em larga escala contra a Ucrânia, os eventos se desencadeariam segundo o modelo da invasão do Iraque pelos Estados Unidos e o Reino Unido em 2003. A propaganda russa era ainda mais categórica, falando da “tomada de Kiev em 3 dias”. Ao analisar as ações das forças militares russas em 24 de fevereiro, podemos concluir que essa fórmula correspondia aos planos reais. Mais tarde, quando ficou evidente que esses planos haviam fracassado, surgiu a esperança de que se tratasse de outra opção: de uma espécie de “operação de imposição da paz”, ou seja, de coerção para que a Ucrânia fizesse certas concessões. As negociações que ocorreram em Istambul, em março de 2022, inscreviam-se perfeitamente na perspectiva de uma operação militar curta e de um armistício rápido (como os “acordos de Minsk” de 2014/2015), mas seu fracasso se deveu ao fato de que a posição de cada lado era inaceitável para o outro: se a Ucrânia estava pronta para discutir certas concessões para acabar com a invasão russa, a Rússia exigia, de fato, a rendição total da Ucrânia.
A situação mudou com a retirada das tropas russas do norte da Ucrânia, simultaneamente com o fracasso das negociações em Istambul. A derrota das forças militares russas diante de Kiev mostrou que, apesar do status reivindicado de grande potência, a Rússia se revelou incapaz de conduzir uma “pequena guerra vitoriosa” contra um país muito mais fraco. Por outro lado, a Ucrânia, qualificada frequentemente de “Estado falido”, mostrou-se capaz de repelir com sucesso um ataque armado em grande escala conduzido por uma pretensa “grande potência”.
Foi essa primeira batalha vencida pela Ucrânia que determinou a terceira perspectiva: a de um fim rápido da guerra com uma vitória ucraniana. Com efeito, após uma mobilização massiva e a chegada de armas ocidentais, a Ucrânia libertou Kherson e a região de Kharkiv no outono de 2022. Após esse sucesso, a Ucrânia, com a ajuda de aliados ocidentais, iniciou os preparativos de uma “grande ofensiva” em 2023, a qual deveria privar a Rússia de seu único sucesso real: o corredor terrestre para a Crimeia. Mas essa ofensiva falhou. Em grande parte, porque houve outra surpresa da guerra: a Federação Russa provou ser capaz de resistir às sanções ocidentais e, apesar do fracasso de sua Blitzkrieg, de se mobilizar para uma guerra em grande escala e de longo prazo. Além disso, a Rússia começou a aumentar as apostas da guerra: em resposta à contraofensiva ucraniana de 2022, ela anexou formalmente quatro regiões ucranianas que, mesmo hoje, ainda não estão inteiramente sob seu controle, e fez do reconhecimento dessa anexação e da “libertação” da parte não ocupada dessas regiões mais uma de suas exigências, que já eram inaceitáveis para a Ucrânia.
A partir do final de 2022, a guerra assumiu definitivamente a forma de uma guerra de atrito: os combates são principalmente de natureza posicional, cidades relativamente pequenas mudam de mãos ao custo de perdas consideráveis, a Rússia bombardeia sistematicamente o conjunto do território ucraniano, com o objetivo de destruir completamente sua infraestrutura de energia e transporte, enquanto a Ucrânia começa progressivamente a bombardear o território da Rússia em resposta.
“Surpresa técnica”
A guerra entrou em uma fase que, segundo Raymond Aron, “só poderia ter sido evitada por uma vitória-relâmpago de qualquer um dos lados”. No caso da Primeira Guerra Mundial, do qual fala Aron, foi “a Batalha de Marne [que] afastou essa possibilidade: o destino estava selado. […] as condições para a guerra total estavam postas: bastava uma única oportunidade para que ela se desenvolvesse, e essa oportunidade foi oferecida pelo equilíbrio aproximado de forças”3. No nosso caso, como vimos, a transição para essa fase da guerra ocorreu ao longo de 2022.
Em minha visão, temos todas as razões para traçar esse paralelo – não porque a guerra na Ucrânia repetiria completamente o curso da guerra de 1914-1918, mas porque a análise desta última é uma excelente ferramenta para analisar nossa guerra. Assim como naquela ocasião, a escala, a intensidade e a duração da guerra foram uma surpresa completa: “Os ministros e seus conselheiros militares acreditavam que estavam empreendendo uma guerra ‘como as outras’, cujo resultado seria decidido por algumas batalhas de aniquilação. Na verdade, eles estavam engajando os povos em uma longa prova de desgaste. Entre a antecipação e o evento, interveio o que proponho chamar de ‘surpresa técnica’” (Aron, 1951: p. 23).
O que, no caso da guerra de 24 de fevereiro, poderia ser considerado como uma análoga “surpresa técnica”? Antes de responder a essa pergunta, é necessário esclarecer: o que seria uma guerra “como as outras”, no nosso caso? Segundo a propaganda, a “operação militar especial” da Rússia contra a Ucrânia é uma guerra “assimétrica”, mas, desde o início, ela foi concebida como “guerra dissimétrica”, na qual uma grande potência ou uma coalizão de Estados conduz uma operação militar para impor a paz ou restaurar a ordem internacional contra outro Estado com um exército regular, mas muito menor e mais fraco. Um exemplo típico disso foi a guerra no Iraque, em 2003. No entanto, a presente guerra se transformou, de maneira inesperada, em uma guerra clássica e, em muitos aspectos, simétrica.
Nossa surpresa consistiu no estabelecimento de um “equilíbrio aproximado de forças”, graças ao qual nenhum dos dois países conseguiu alcançar uma “vitória-relâmpago”. Esse equilíbrio é determinado pelo fato de que ambos os países conseguiram mobilizar simultaneamente recursos suficientes para travar uma guerra em que combates de alta intensidade são travados na linha de frente por mais de 1.000 quilômetros, e há uma troca ativa de ataques à distância, uma modernização permanente do exército e das armas, assim como a expansão permanente do combate para novas zonas e espaços.
Como esse “equilíbrio aproximado de forças” entre dois países com potenciais tão diferentes, sob todos os pontos de vista, tornou-se possível? Há duas dimensões aqui: uma técnica, e outra política. No que diz respeito à dimensão técnica, convém lembrar que os dois beligerantes são herdeiros da URSS e conservaram estoques consideráveis de armas preparadas durante a Guerra Fria, bem como a capacidade de sua produção e modernização. A desproporção entre o potencial técnico e humano da Rússia e da Ucrânia é compensada pela ajuda ocidental à Ucrânia, principalmente com armas soviéticas que permaneceram nos países da OTAN que anteriormente eram membros do Pacto de Varsóvia, bem como armas ocidentais de alta tecnologia. Ao mesmo tempo, essa ajuda tem limites muito evidentes. Limites políticos, em primeiro lugar: o fornecimento de armas visa apenas a “igualar as chances” nos combates, e apenas no território da Ucrânia. Mas limites também técnicos: verificou-se que os aliados ocidentais, principalmente europeus, não têm armas e munições suficientes para uma guerra de tal magnitude, duração e intensidade. Em contraste, a Rússia, apoiando-se principalmente sobre seus próprios recursos muito maiores, rapidamente viu-se perante uma escassez de capacidades de produção e, principalmente, de tecnologia, beneficiando-se do fornecimento de armas e munições por parte do Irã e da Coréia do Norte.
A dimensão política, igualmente importante, dessa surpresa é determinada sobretudo pelo fato de que o conflito russo-ucraniano assumiu o caráter de uma “guerra nacional” para ambas as partes, desde 20144. Isso é bastante compreensível no caso da Ucrânia, que sofreu um ataque em grande escala de um vizinho mais forte que pretende restaurar o antigo império, incluir a Ucrânia nele e, assim, privá-la de sua independência, assim como a nação ucraniana de sua existência. No caso da Rússia, isso se torna igualmente compreensível se aceitarmos que esta é uma guerra pela restauração do antigo império, e a derrota nesta guerra significará o fim do projeto imperial (que, em certo sentido, pode ser visto como uma ideia nacional dos russos) e, se não o colapso da Federação Russa em sua forma atual, ao menos sua transformação em um “simples Estado-nação”.
Esse “equilíbrio aproximado de forças” persiste apesar da transformação desta guerra em uma guerra nacional para os dois países e da desproporção evidente de seus recursos, porque a Rússia continua mantendo a aparência de uma grande potência que trava uma guerra assimétrica ou uma “operação militar especial” contra a Ucrânia (ao mesmo tempo em que recusa chamá-la de “guerra”). Enquanto a Ucrânia, perante a agressão em larga escala, recorreu à instauração da lei marcial e à mobilização geral, a Rússia, apesar da retórica propagandista de uma guerra nacional e de uma cruzada contra todos os inimigos que a ameaçam, por razões tanto internas quanto externas, não declara a lei marcial nem a mobilização geral, apesar das perdas humanas significativas5. Após as derrotas da primavera e do verão de 2022, a Rússia foi forçada a recorrer a uma mobilização parcial dos reservistas, mas, já em 2023, ela encontrou não apenas seu modelo de sobrevivência econômica sob as sanções ocidentais, mas também um modelo de alistamento militar sem declaração de mobilização geral. Ao mesmo tempo, deve-se lembrar que ela recruta ativamente em seu exército sobretudo residentes de regiões desfavorecidas e trabalhadores migrantes estrangeiros, e que, desde 2024, tropas regulares da Coreia do Norte estão vindo apoiar as forças armadas russas no campo de batalha.
Paradoxalmente, outro fator que contribui para o “equilíbrio aproximado de forças” nesta guerra, que se tornou uma guerra total, ou seja, “uma guerra com uma mobilização implacável de recursos nacionais e uma corrida por invenções” (Aron, 1951: p. 23), é o status oficial da Rússia como potência nuclear, ou, poderíamos também dizer, a dissuasão nuclear por parte do Ocidente, primeiramente dos Estados Unidos. A Rússia está, de fato, em conflito com o Ocidente coletivo, o que constitui outra dimensão da “guerra na Ucrânia”, ao lado da própria guerra russo-ucraniana. O conflito entre a Rússia e o Ocidente coletivo também começou antes de 2014 e das sanções pela invasão da Ucrânia e a anexação da Crimeia, mas, após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, esse conflito tornou-se aberto e adquiriu os traços de uma guerra híbrida (sanções econômicas, ataques cibernéticos, sabotagem, operações psicológicas e entregas de armas). Como eu disse antes, o Ocidente apoia a Ucrânia em sua luta contra a agressão russa, mas segundo a fórmula “a Ucrânia não deve perder, e o Ocidente, ao mesmo tempo em que ajuda a Ucrânia, deve evitar um confronto direto com a Rússia”. Por sua vez, embora, no plano da retórica política, seus representantes não falem senão de uma guerra com o Ocidente, a Rússia evita qualquer confronto direto com o Ocidente e só trava uma guerra aberta contra a Ucrânia. Assim, por um lado, o status nuclear da Rússia continua sendo uma garantia para evitar a intervenção direta dos aliados ocidentais em sua guerra contra a Ucrânia; por outro lado, esse status nuclear dissuade a Rússia de uma guerra ilimitada contra a Ucrânia, principalmente com a utilização de armas nucleares, mesmo táticas, pois isso acarretaria automaticamente uma intervenção direta do Ocidente, primeiramente dos Estados Unidos.
Esta guerra tem, portanto, o caráter bastante paradoxal de uma guerra total, mas dentro de certos limites, e não apenas territoriais. Esses limites são determinados pela estrutura do conflito descrita acima, ou seja, pela interseção de dois níveis de conflito – entre a Rússia e a Ucrânia, por um lado, e entre a Rússia e o Ocidente, por outro –, bem como pelo papel da comunidade internacional e de suas instituições, principalmente o Direito Internacional e a ONU. Deve-se notar que a guerra russo-ucraniana permanece uma guerra não declarada, o que deixa certas possibilidades abertas aos beligerantes, por exemplo, a circulação de civis. As partes também trocam regularmente prisioneiros de guerra (com a participação de mediadores), e houve até um precedente do “acordo sobre os cereais” (também com a participação de terceiros). Assim, na guerra russo-ucraniana, alguns “pequenos” compromissos são possíveis (com um acordo negociado ou não), mas, por enquanto, não há perspectiva de terminar a guerra com um acordo de paz baseado no compromisso entre os beligerantes.
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
- Professor do Instituto de Filosofia da Academia de Ciências de Kiev e da Universidade de Lausanne, na Suíça.
↩︎ - Descombes, V. (1981). “La prochaine guerre. Cornelius Castoriadis, Devant la guerre. Tome I: Les réalités”, Critique, t. 37, n. 411-412, août-septembre 1981, p. 723. ↩︎
- Aron, R. (1951). Les guerres en chaîne. Paris : Gallimard, p. 25. ↩︎
- “As guerras nacionais são travadas pela totalidade dos povos, não mais por exércitos profissionais. Elas não têm mais por objeto certos interesses dinásticos ou o destino de uma província, mas o destino da coletividade ou de seus ideais. Na era da democracia (ou seja, do recrutamento em massa) e da indústria (ou seja, da produção e da destruição em série), elas tendem naturalmente a se transformar em guerras totais” (Aron, 1951: 24). ↩︎
- Também deve ser notado aqui que, graças a essa política, o estado de guerra está se tornando um estado normal e um modo de vida para a sociedade russa. ↩︎