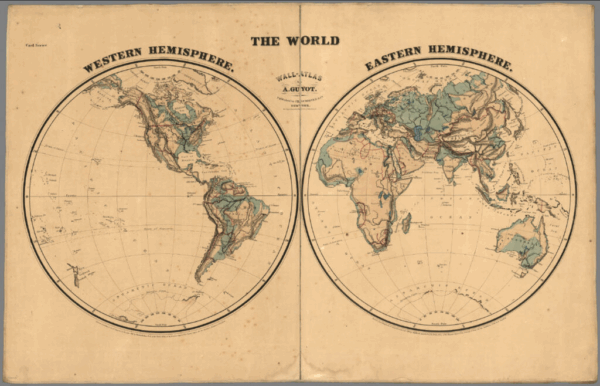Pedro Pulzatto Peruzzo[1]
Vinicius Gomes Casalino[2]
O STF poderá decidir, hoje, no RE nº 1.017.365/SC, a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Nos termos da petição nº 81305/2021, juntada ao recurso em questão, o jurista Lênio Streck redigiu um parecer para o caso a pedido da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (ABRAPA), da Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (AMPA) e do Instituto Mato-grossense do Agronegócio (IAGRO). O aceso ao documento é público e pode ser feito pelo site do STF[3].
Importante registrar, desde já, que o referido jurista tem todo o direito de, na condição de advogado, advogar e dar pareceres para quem quiser e, por isso, o presente texto será redigido com todo respeito e consideração pelo trabalho e contribuição do Lênio Streck para o Direito brasileiro e considerando o que o próprio autor diz sobre o documento, ou seja, que é “um parecer técnico diferente dos outros pareceres técnicos juntados ao processo”.
O parecer em questão chamou a atenção pelo fato de ter sido assinado por um jurista que, além de advogado, tem vasta produção acadêmica nos temas da hermenêutica e da teoria do direito, e, sob o fundamento de estar produzindo um documento “técnico”, acabou esbarrando num conjunto de juízos de valor que reproduzem o que há séculos vem sendo defendido pelos invasores coloniais, e, atualmente, reproduzido pelas bancadas políticas e pelos atores econômicos ligados ao agronegócio.
O parecer foi estruturado de modo a responder a dois quesitos: 1º quesito: o caso Raposa Serra do Sol (Pet 3.388/RR), julgado pelo STF em 2009, pode ser considerado, tecnicamente, um precedente? Caso positivo, quais os efeitos que ele produz(iu) no Direito brasileiro? 2º quesito: o STF pode revisar sua posição sobre a matéria ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.017.365/SC, em regime de repercussão geral? Caso positivo, sob quais condições poderá ocorrer a revisão do precedente Raposa Serra do Sol (Pet 3.388/RR)?
O primeiro quesito foi respondido positivamente, afirmando que a tese do marco temporal assume uma força normativa material no direito brasileiro. O segundo quesito também foi respondido positivamente, mas com o registro de que não existiriam motivos de fato e de direito para essa modificação. O ponto mais provocador do referido parecer mora na seguinte afirmação:
(…) “a controvérsia a ser aqui examinada difere-se – e muito – das abordagens que pautaram grande parte da produção dos demais pareceres jurídicos juntados aos autos do caso sub judice, visto que se circunscreve à discussão teórica e dogmática-processual relativa à estabilidade e autoridade das decisões judiciais, à segurança jurídica e às expectativas normativas da sociedade, sem adentrar, porém, o mérito da questão indígena.”
Em outros termos, o documento parte do pressuposto de que se circunscreve à discussão teórica e dogmática-processual, ou seja, a um campo quase puro e livre de interferências axiológicas. No entanto, no curso da argumentação “técnica”, teórica e dogmática-processual, o signatário do parecer emite uma série de juízos de valor, como se evidencia nas seguintes passagens:
“Desse modo, as conquistas e os avanços construídos a partir de decisões emblemáticas do Supremo Tribunal Federal em relação a essa matéria também não podem ser desconsiderados (…) Para além das minhas objeções no plano teórico, há duas conclusões incontestáveis em relação a essa decisão: a primeira é que ela representa um grande avanço em termos de conquistas civilizatórias; a segunda diz respeito justamente a essas características – generalidade, universalização e abstração –, que também correspondem aos elementos que conduzem à configuração de um precedente”.
Ocorre que, apesar do esforço anunciado pelo jurista signatário do referido parecer no sentido de apresentar um trabalho técnico, existe um problema de pressuposto: não estamos diante de uma “conquista civilizatória”. Aliás, pelo contrário!
Firmada pelo STF por ocasião do julgamento do caso Raposa Serra do Sol, a tese do marco temporal diz que deverão ser consideradas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios aquelas em que existiam indígenas na data da promulgação da Constituição (05 de outubro de 1988). Apesar dessa tese, o STF também deixou claro, no ARE 803.462-AgR/MS, que não se aplicaria a tese do marco temporal nos casos de “renitente esbulho”, ou seja, nos casos em que os indígenas tivessem sido expulsos de suas terras em razão de violência e agressão. Nessa ocasião, ademais, foi esclarecido pelo STF que renitente esbulho não pode ser confundido com ocupação passada ou com desocupação forçada, devendo existir situação de efetivo conflito possessório que, mesmo iniciado no passado, ainda persista até o marco a data da promulgação da Constituição de 1988 e que se materializa por circunstâncias de fato ou, pelo menos, por uma controvérsia possessória judicializada.
Ocorre que muitas questões de fato e de direito não foram levadas em conta pelo STF e nem pelo signatário do parecer em questão ao afirmar que a tese do marco temporal seria um “avanço civilizatório”. Uma dessas questões, de direito, é o fato de que a exigência de “controvérsia possessória judicializada” para a consideração de esbulho renitente antes de 1988 é um despropósito se considerarmos que foi apenas com a Constituição de 1988, especificamente no artigo 232, que os povos indígenas, suas comunidades e organizações foram consideradas partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. Ora, como esperar uma controvérsia possessória por parte de um povo indígena antes de 1988 se, até então, esses povos estavam condenados à tutela dos órgãos indigenistas?
Outro problema é que, se por um lado a ideia de um “efetivo conflito possessório” é evidente em muitos lugares do país, por outro lado, há muito tempo, muitos povos não têm tido nem mesmo alimento pra empreender “efetivos conflitos possessórios” contra jagunços e proprietários de terra muito bem alimentados e armados. Em outros termos, existe, ainda hoje, em muitos lugares do Brasil, conflitos iniciados no passado e que persistem não com a estética de uma guerra declarada ou de um “efetivo conflito possessório”, mas na estética de uma “agressão fria” marcada por ameaças a crianças, estupros esporádicos e despejo de agrotóxico sobre grupos indígenas[4].
Vale lembrar, ainda, os registros que existem no Relatório final da Comissão Nacional da Verdade (2014, p. 203-264) no sentido de que as concessões de terra que o Estado brasileiro fez com apoio do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) foi o início de uma disputa sangrenta e desigual que se perpetua até hoje, como verdadeiro esbulho renitente. Assim sendo, diante de uma questão constitucional, o juiz deve manter a coerência e a integridade do texto da constituição e não de sua jurisprudência que, vale reforçar, sempre pode ser alterada (para atender ao texto constitucional). E sobre o texto constitucional, o artigo 231 da Constituição é claro ao afirmar que são reconhecidos aos povos indígenas os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, e não sobre as terras que ocupavam em 1988.
Nesse sentido, é interessante perceber como o argumento do “parecer técnico” não faz senão reproduzir uma técnica de dominação bem conhecida no campo do direito: a retórica de que a interpretação ou decisão jurídica é “técnica” geralmente é utilizada quando se quer convencer alguém de que o ponto de vista adotado é alheio a questões morais ou políticas, ou seja, de que se efetuou a tradicional lógica de subsunção, de modo que a conclusão – no caso, de que o marco temporal é constitucional – é resultado quase natural do ajustamento da premissa menor (os fatos) à premissa maior (a norma). O intérprete, “pobre coitado”, mero elo conformador do circuito, não teria, nessa lógica, qualquer responsabilidade quanto ao sentido obtido.
No entanto, sabemos, desde a publicação de Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen, que toda interpretação jurídica, autêntica ou não, envolve, por um lado, um ato de conhecimento, e, por outro, um ato de vontade. Trata-se, num primeiro momento, de conhecer a norma, isto é, de buscar os sentidos possíveis a partir do texto normativo apresentado; a partir daí, trata-se de escolher o sentido específico que se vai adotar, quer dizer, que se vai vincular àquele texto. Aliás, esta escolha, ou seja, o ato de vontade por meio do qual se deve fixar o sentido que regerá o caso concreto, é justamente o que qualifica a operação de interpretação como sendo um ato de política do direito, isto é, de designação daqueles que devem ser considerados “amigos” e daqueles que devem ser considerados “inimigos”, se quisermos tomar emprestada a terminologia de outro grande jusfilósofo, Carl Schmitt. Isso fica claro no capítulo 08 da sobredita obra:
A questão de saber qual é, de entre as possibilidades que se apresentam nos quadros do Direito a aplicar, a “correta”, não é sequer – segundo o próprio pressuposto do qual se parte – uma questão de conhecimento dirigido ao Direito positivo, não é um problema de teoria do Direito, mas um problema de política do Direito. A tarefa que consiste em obter, a partir da lei, a única sentença justa (certa) ou o único ato administrativo correto é, no essencial, idêntica à tarefa de quem se proponha, nos quadros da Constituição, a criar as únicas leis justas. Assim como da Constituição, através da interpretação, não podemos extrair as únicas leis corretas, tampouco podemos, a partir da lei, por interpretação, obter as únicas sentenças corretas (KELSEN, 1995, p. 393).
É importante compreender que a produção da política do direito, ou seja, o ato consciente e racional de escolha de um entre vários sentidos possíveis; de definição de quem deve ser considerado “amigo” ou “inimigo”, também caracteriza a atividade do intérprete não autêntico, isto é, daqueles professores ou professoras que, por exemplo, debruçam-se sobre determinada matéria com vistas à elaboração de um parecer. A confecção daquilo que parece ser o sentido adequado do texto normativo que deve disciplinar uma questão teórica ou fática específica depende da posição política do intérprete relativamente ao conflito de interesses que lhe é submetido à apreciação. Esta característica é bem pontuada por Kelsen também no capítulo 08 de sua obra magna:
Um advogado que, no interesse de seu constituinte, propõe ao tribunal apenas uma das várias interpretações possíveis da norma jurídica a aplicar a certo caso, e um escritor que, num comentário, elege uma interpretação determinada, de entre as várias interpretações possíveis, como a única “acertada”, não realizam uma função jurídico científica, mas uma função jurídico-política (de política jurídica). Eles procuram exercer influência sobre a criação do Direito. Isso não lhes pode, evidentemente, ser proibido. Mas não o podem fazer em nome da ciência jurídica, como frequentemente fazem (KELSEN, 1995, p. 396, grifo nosso).
O argumento do parecer “técnico” é o argumento mais político que existe. Trata-se do artifício retórico segundo o qual se busca convencer de que aquela interpretação está dentro dos limites do texto normativo. O problema é que toda interpretação jurídica precisa estar dentro dos limites do texto normativo sob pena de deixar de ser interpretação e tornar-se pura e simplesmente decisão (a “famosa” decisão fora da moldura). As interpretações jurídicas são todas políticas, ainda que estejam dentro do espectro significativo do texto normativo, porque significam a escolha de um sentido específico dentre os vários sentidos que orbitam em torno das palavras do direito. Como não apenas as palavras jurídicas representam a hegemonia de interesses econômicos e políticos determinados, como também, e principalmente, os sentidos que são ligados a tais palavras por intermédio da interpretação, os pareceres não passam da ação política de determinados intérpretes que escolhem quais interesses vão defender e quais interesses vão sepultar, ou seja, quem são seus “amigos” e quem são seus “inimigos”.
O parecer “técnico” é o mais político dos pareceres porque, como afirma Kelsen, busca fazer, em nome da ciência, o que não passa de ação política concreta. Trata-se, na verdade, de uma conhecida técnica de dominação política, por meio da qual os interesses dos poderosos de ocasião são impostos em detrimentos dos dominados.
Referências:
CARLINI, Eduardo; MACHADO, Silvio. Nota de pesquisa – Terra Livre – “Expedição Marco Veron” e a luta do povo Kaiowá-Guarani em Mato Grosso do Sul. AGB. 2012.
COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE. Relatório Final. Texto 5 – Violações de direitos humanos dos povos indígenas. 2014, p. 203-264.
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 1995.
[1] Doutor em Direito pela USP, membro do corpo docente permanente do Programa de Pós-graduação em Direito da PUC-Campinas, consultor-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB/SP, advogado popular com atuação junto a povos indígenas desde 2010 e representante do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN) no Conselho Nacional de Direitos Humanos.
[2] Doutor em Direito pela USP, membro do corpo docente permanente do Programa de Pós-graduação em Direito da PUC-Campinas.
[3] Ocorrência 1723 no link <https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5109720>. Acesso em 23 de agosto de 2021.
[4] Os relatos dos geógrafos Eduardo Carlini e Silvio Machado (2012), da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), são esclarecedores: “Em todas as aldeias visitadas, sem exceção, a violência também é praticada sob outras configurações, como por exemplo, as consequências fatais para as comunidades indígenas do assoreamento e da contaminação dos cursos d’água e solos pelo uso indiscriminado de agrotóxicos (pesticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes ou adubos químicos), principalmente nas lavouras de soja, cana de açúcar e pastagens. (…) Sobre esta situação destaca-se o relato dos indígenas, que nos contaram que, muitas vezes, procuram abrigo para proteger-se do descarregamento criminoso dos insumos que inicia-se nos reduzidos trechos ocupados pelas famílias.”