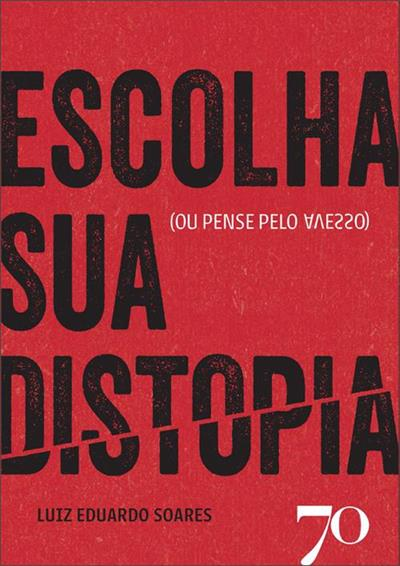Sofia Pieruccetti Gutierrez[1]
4 de fevereiro de 2025
A premissa deste breve texto é que, na pesquisa sobre as instituições de um regime político, o tempo importa. A exposição está dividida em três partes: (1) uma discussão teórica sobre a heterogeneidade do tempo; (2) uma análise da abordagem temporal predominante da Ciência Política brasileira e como ela tende a “encurtar” a trajetória das instituições; e (3) as limitações da temporalidade linear para o estudo das instituições judiciais, utilizando o Ministério Público como exemplo empírico. Ao final, argumento pela necessidade de uma abordagem temporal heterogênea para compreender um sistema judicial heterogêneo.
Constituições e pactos políticos passam; as estruturas do sistema judicial permanecem. Essa frase sintetiza a ideia de que o tempo corre de forma diferente nas instituições judiciais ou, ainda, de que o campo jurídico possui sua própria velocidade de mudança. A arena da política eleitoral possui ritmos de existência e transformação específicos, influenciados pela periodicidade dos mandatos, mais suscetíveis à variação conjuntural e, por isso, mais dinâmicos. Considerando a forma estável e vitalícia das carreiras jurídicas públicas, a temporalidade judicial é comparativamente mais lenta e contínua, marcada pela capacidade de reprodução interna das corporações profissionais, como a magistratura e o Ministério Público. Portanto, instituições diferentes operam sob tempos e ritmos distintos.
Essa diversidade temporal não ocorre apenas entre instituições distintas; ela também é interna. Múltiplos tempos históricos (linhas do tempo) coexistem no presente de uma determinada instituição: processos de longa duração, flutuações de médio prazo, tendências recentes, acontecimentos inesperados, são camadas que se articulam e se sobrepõem em cada momento específico (Sewell, 2005, p. 11). Isso significa que as instituições não evoluem linearmente, em um sentido unívoco, mas sim em fluxos e contrafluxos. Elas não se desenvolvem seguindo uma evolução natural ou um destino manifesto, do “atraso” à “modernidade”. Velhas estruturas são reproduzidas e reconfiguradas, e novos elementos e dinâmicas convivem com práticas antigas. Dessa forma, o tempo age no mundo social e na realidade política de maneira heterogênea.
O tempo como problema epistêmico nas ciências sociais
Reconhecido e incorporado intuitivamente pela historiografia, o caráter heterogêneo da temporalidade é mais difícil de ser apreendido pela lógica dominante nas ciências sociais. Isso ocorre porque o tempo histórico desafia pesquisadores que utilizam métodos quantitativos e epistemologias positivistas inspiradas nas hard sciences (Sewell, 2005, p. 85-86). Nesses casos, adota-se um conceito de temporalidade homogênea, que pressupõe uma relação de causa e efeito mecanicista, descrita como uma “inveja da física” presente entre pesquisadores preocupados em afirmar o rigor científico de seus trabalhos. Em contraponto, Sewell (2005, p. 10) propõe a noção de causalidade heterogênea, evidenciando que cada acontecimento se combina com outros processos e condições históricas, de modo que o mesmo fator causal pode gerar resultados distintos, a depender do contexto ou do momento em que ocorre.
Abbott (2001, p. 38-42) descreve o paradigma dominante entre pesquisadores da área pela expressão “realidade linear geral” (general linear reality, no original), definida como o conjunto de suposições implícitas que tratam modelos empíricos lineares como representações fiéis do mundo social. Tal paradigma supõe que as unidades de análise (pessoas, grupos, instituições) são entidades fixas que possuem atributos variáveis. Entretanto, o significado causal de um atributo é único, constante e independente de contexto, trajetória histórica ou outras interações complexas. A causalidade seria linear e monotônica, fluindo sempre do macro para o micro e implicando que pequenos eventos não podem gerar grandes mudanças.
O modelo de linearidade geral trata o tempo como uma variável adicional ou um efeito fixo, o que, segundo o autor, reduziria a capacidade das ciências sociais de compreender processos dinâmicos e contingentes. Como alternativa, Abbott (2001, p. 295) concebe o tempo como um fenômeno fluido, relacional e multiescalar, descrevendo-o como uma série de presentes sobrepostos.
Nessa perspectiva, o tempo é altamente localizado, pois está ancorado a contextos particulares, tanto espaciais quanto temporais. Ao mesmo tempo, ele se conecta a camadas maiores de temporalidade que se sobrepõem. Apesar dessa multiplicidade de “presentes” locais, o tempo é inclusivo, pois diferentes momentos e lugares interagem e se entrelaçam, compondo processos sociais mais amplos.
Abordagens temporais na Ciência Política brasileira
Embora as observações de Sewell e Abbott sejam direcionadas à produção acadêmica estadunidense, elas podem ser mobilizadas para pensar o contexto específico da ciência política no Brasil. Após realizarem um balanço da pesquisa sobre instituições e democracia constitucional produzidas nos últimos trinta anos, Koerner, Troiano e Freitas (2024, p. 18-19) identificam uma mudança recente na abordagem temporal predominante nos estudos. Os autores apontam que a crise política, culminando no impeachment de Dilma e no posterior governo de Jair Bolsonaro, escancarou a presença do passado no agora. Discursos, práticas e agentes considerados já superados pela transição democrática ressurgem com força. Em razão dessa desestabilização, as abordagens temporais das análises políticas e constitucionais produzidas desde meados de 2010 tornaram-se mais complexas.
Antes disso, contudo, a vertente predominante na ciência política brasileira era o neoinstitucionalismo, que adotava uma abordagem linear do tempo. As instituições são consideradas entidades fixas e previsíveis, que “permitem construir as relações entre passado, presente e futuro como uma temporalidade homogênea” (Koerner; Troiano; Freitas, 2024 , p. 7). Nesse quadro, o comportamento político seria explicado pela busca de maximização de ganhos dentro de um conjunto fixo de regras, sendo a Constituição Federal de 1988 a mais relevante. Tomado como o marco inaugural da política contemporânea, o texto constitucional aparece como um ponto de ruptura, que define o “antes” e o “depois” de maneira quase rígida, numa sequência linear e mecânica em que mudanças institucionais totais decorrem de uma única mudança. Nos termos de Abbott (2001, p. 44), esses estudos mobilizam uma noção monotônica da causalidade, na qual o fluxo de causa e efeito corre sempre do macro para o micro — da Constituição de 1988 para os arranjos infraconstitucionais e práticas burocráticas cotidianas, por exemplo.
Uma abordagem temporal semelhante pode ser encontrada na literatura especializada sobre o estudo das instituições judiciais, especialmente na produzida nos anos 2000. Nesse período, ganha impulso no Brasil uma agenda de pesquisa conhecida como sistema de justiça, cujo foco estava no conjunto de instituições responsáveis por garantir preceitos constitucionais, aplicar a lei e distribuir a justiça (Sadek, 2002). Essa linha de análise considera a Constituição de 1988 uma ruptura na organização e nas possibilidades de ação institucional do sistema de justiça, uma vez que as regras constitucionais teriam ampliado suas competências e autonomia, causando uma presença mais ativa de operadores jurídicos na arena política (Sadek, 2002, p. 237). Sob essa ótica, o presente sistema de justiça, pautado pela noção de judicialização da política, seria, portanto, uma consequência direta e linear das normas constitucionais.
O tempo nas pesquisas sobre o Ministério Público
No âmbito dos estudos sobre o sistema de justiça, considera-se que a instituição “mais transformada” foi o Ministério Público (Arantes, 2002; Kerche, 2007; Sadek, 2009). Em geral, as pesquisas enfatizam a Constituição de 1988 como a principal causa do fortalecimento do Ministério Público no período pós-redemocratização. Nessa perspectiva, a expansão do leque formal de atribuições abriu possibilidades de judicialização até então inéditas.
Kerche (2014, p. 115), por exemplo, argumenta que promotores e procuradores não atuavam em causas relacionadas à coletividade antes de 1988 e que, desde então, todos dispõem das mesmas estratégias e do mesmo espaço de atuação, independentemente do contexto regional. Refletindo em grande medida o mainstream da ciência política, essa concepção pressupõe a existência de um fator macro que produz efeitos causais relativamente homogêneos sobre todos os ramos da instituição, permitindo enquadrar o raciocínio de Kerche na lógica causal criticada por Abbott (2001). Para Kerche (2009, p. 34), a autonomia é um atributo formal-institucional alcançado instantaneamente com a nova Constituição. Como consequência da linearização da trajetória institucional, o tempo histórico do Ministério Público é encurtado.
Descompassos temporais podem gerar distorções analíticas. A diversificação de atribuições do MP é situada nos anos 1970 e 1980, especialmente em áreas como a proteção ao meio ambiente, a defesa do consumidor e o combate à corrupção (Arantes, 2002, p. 50-53). Antes disso, considerava-se que a instituição era encarregada principalmente da ação penal pública no sistema criminal. Por esse ângulo, antes da codificação dos direitos coletivos, o Ministério Público, enquanto agência subordinada ao Executivo, defenderia exclusivamente os interesses do Estado, vistos como opostos aos da sociedade.
Contudo, a história política das relações entre Estado e sociedade no Brasil é mais complexa do que essa visão predominante sugere. A ideia das dimensões de direitos fundamentais ajuda a iluminar esse ponto: os direitos difusos e coletivos são considerados parte da “terceira geração”, sendo que cada “geração” reflete lutas históricas pela ampliação ou reorientação dos papéis que o Estado deve assumir perante a sociedade. A “segunda geração” de direitos, por exemplo, buscava garantir condições mínimas de existência digna à população, como direitos trabalhistas, previdenciários, educação e saúde. Movimentos proletários impulsionaram a legislação social desde a segunda metade do século XIX, como a Revolução Mexicana de 1912 e sua Constituição de 1917, a Revolução Russa de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919, processos que influenciaram no Brasil a elaboração da Constituição de 1934 (Biavaschi, 2005, p. 106-122).
A codificação da legislação social no Brasil durante a Era Vargas evidencia que o Ministério Público já vinha se constituindo historicamente como mediador entre Estado e sociedade. A posição de Kerche dá a entender que a Constituição de 1988 criou as atribuições trabalhistas do Ministério Público. No entanto, instituídas formalmente em 1939, as procuradorias do trabalho foram um componente estratégico da política varguista na mediação estatal do conflito capital-trabalho no Brasil. O primeiro grupo de procuradores do trabalho teve influência significativa nesse processo, sendo responsável por sistematizar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), publicada em 1943 (D’Araújo e Gomes, 1993, p. 115). Para além da legislação, os procuradores foram essenciais no estabelecimento de uma jurisprudência que afirmava o trabalhador como sujeito de direitos, não apenas aplicando as regras existentes, mas também reconhecendo novos direitos na ausência de legislação específica (Biavaschi, 2005, p. 186).
Ainda que formalmente subordinado a um Executivo autoritário e sem a nomenclatura ou o arcabouço legal típico das ações civis públicas contemporâneas, é possível perceber que havia margem de atuação para o Ministério Público intervir em interesses sociais específicos que podem ser entendidos como gerais. Ao analisarmos a história do Ministério Público apenas a partir dos anos 1970 ou 1980, corremos o risco de concluir que, antes disso, promotores e procuradores atuavam exclusivamente no âmbito penal. O exemplo do ramo trabalhista indica uma trajetória institucional mais rica e complexa do que a interpretação estritamente neoinstitucionalista costuma sugerir.
Uma abordagem temporal heterogênea para um sistema judicial heterogêneo
A ideia de um sistema de justiça heterogêneo, disperso e altamente desigual não é nova para pesquisadores da área. Considerando que, na realidade das instituições judiciais, “o que aparentemente era uno, revela-se múltiplo, e o que era integração aparece como fragmentação” (Falcão, 2005, p. 23), analisá-las empiricamente exige o abandono de ideias lineares. No caso do Ministério Público, a multiplicidade de órgãos, perfis e práticas desafia generalizações. Em sua revisão de literatura sobre as relações entre a instituição e a sociedade civil, Luciano Da Ros (2009, p. 17) observa que cada pesquisa tende a analisar apenas uma “parte” do Ministério Público e, a partir daí, generalizar conclusões como se fossem válidas para toda a instituição.
Para além de uma diversidade organizacional interna, existe também uma multiplicidade de tempos históricos. Este texto procurou demonstrar como a análise do sistema judicial brasileiro, em particular do Ministério Público, pode se beneficiar de uma abordagem temporal heterogênea, tal como defendem Abbott (2001) e Sewell (2005). As trajetórias históricas específicas — ilustradas aqui pelo exemplo das procuradorias do trabalho criadas na Era Vargas — mostram que nem todas as transformações institucionais se explicam exclusivamente pela Constituição de 1988 e que práticas aparentemente “novas” podem ter raízes mais antigas do que sugerem abordagens lineares.
Não se trata apenas de reconhecer que existem múltiplos ramos do Ministério Público, cada qual com sua própria estrutura. É necessário compreender que esses diferentes ramos, mesmo sob a égide de uma mesma Constituição, vivenciam processos históricos próprios, marcados por conjunturas regionais, tradições jurídicas e temporalidades distintas. Isso implica que mudanças que ocorreram relativamente rápidas em alguns estados ou frentes de atuação podem ter sido mais lentas ou qualitativamente diversas em outros contextos. Da mesma forma, determinadas funções “inovadoras” atribuídas ao Ministério Público podem ter raízes históricas mais longas. Assim, ficamos mais próximos de compreender por que um mesmo órgão pode, ao mesmo tempo, exibir traços modernizadores e práticas herdadas de períodos passados.
Neste texto, procuramos defender a adoção de uma abordagem temporal heterogênea para um sistema judicial heterogêneo, que leve em conta como cada segmento e contexto regional do sistema judicial segue ritmos de transformação particulares, nem sempre alinhados aos pactos políticos formalizados em constituições. Adotando uma perspectiva que valorize múltiplas temporalidades, evitamos reduzir a análise a um único “marco” de transformação — como a Constituição de 1988 —, o que poderia obscurecer experiências prévias e caminhos paralelos de mudança institucional.
Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC.
Referências
ABBOTT, Andrew. Time matters: On theory and method. University of Chicago Press, 2001.
ARANTES, Rogério Bastos. Ministério Público e política no Brasil. São Paulo: Editora Sumaré, 2002.
BIAVASCHI, Magda Barros. O direito do trabalho no Brasil–1930/1942: a construção do sujeito de direitos trabalhistas. São Paulo: LTr, 2005.D’ARAUJO, Maria Celina Soares; GOMES, Ângela de Castro. Entrevista com Arnaldo Sussekind. Revista Estudos Históricos, v. 6, n. 11, p. 113-127, 1993.
DA ROS, Luciano. Ministério Público e Sociedade Civil no Brasil Contemporâneo: em busca de um padrão de interação. Revista Política Hoje, v. 18, n. 1, p. 29-53, 2009.
FALCÃO, Joaquim. Estratégias para a Reforma do Judiciário. Em RENAULT, Sérgio Rabello Tamm; BOTTINI, Pierpaolo. Reforma do Judiciário. São Paulo: Saraiva, 2005. KERCHE, Fábio. Autonomia e discricionariedade do Ministério Público no Brasil. Dados, v. 50, p. 259-279, 2007.
KERCHE, Fábio. Virtude e limites: autonomia e atribuições do Ministério Público no Brasil. São Paulo: Edusp, 2009.
KERCHE, Fábio. O Ministério Público no Brasil: relevância, características e uma agenda para o futuro. Revista USP, n. 101, p. 113-120, 2014.
KOERNER, Andrei; TROIANO, Mariele; DE FREITAS, Lígia Barros. A Democracia Constitucional em questão–política, direito e história no tempo presente. Revista Tempo e Argumento, v. 16, n. 41, p. e0104-e0104, 2024.
SADEK, Maria Tereza. Estudos sobre o sistema de justiça. Em MICELI, Sérgio (Org.). O que ler na ciência social brasileira, v. 4. São Paulo: Sumaré, 2002.
SADEK, Maria Tereza. Cidadania e Ministério Público. ______. Justiça e Cidadania no Brasil. Rio de Janeiro: Centro Edelstein, p. 3-22, 2009. SEWELL, William Hamilton. Logics of history: Social theory and social transformation. University of Chicago Press, 2005.
[1] Mestra em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Editora-chefe do Boletim Lua Nova. E-mail: sofiapgutierrez@icloud.com
Referência imagética: Memorial do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: https://www.mprs.mp.br/hotsite/memorial/. Acesso em 24 jan. 2025.