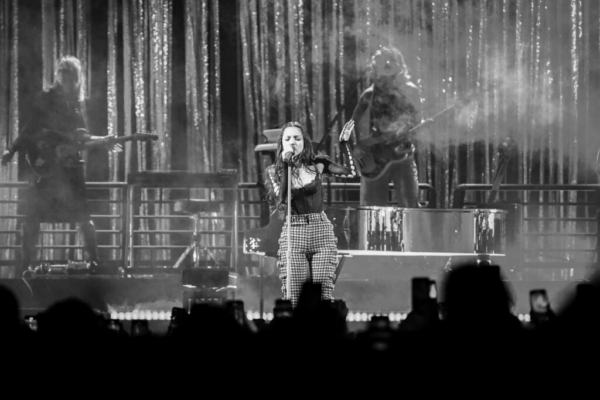Ariel Engel Pesso[1]
24 de fevereiro de 2025
Na coluna de hoje do Boletim Lua Nova, Ariel Engel Pesso apresenta um resumo de sua tese de doutorado, publicada em livro pela editora Almedina sob o título Escravidão no Brasil Império: a Fundamentação Teórica nas Faculdades de Direito do Século XIX. A tese foi eleita a melhor do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da Faculdade de Direito da USP e recebeu o 1° lugar no Prêmio ABRAFI de Teses 2024. Além disso, foi agraciada com Menção Honrosa no Prêmio Tese CAPES 2024 e no III Prêmio CNJ Memória do Poder Judiciário e no Prêmio Cláudio Souto de Teses 2024.
As Faculdades de Direito, criadas em 11 de agosto de 1827, exerceram um papel muito importante no século XIX, pois foram as responsáveis pela socialização e pela formação intelectual da elite política que esteve à frente das principais funções de Estado, principalmente a partir do Segundo Reinado. Criados à imagem e semelhança da Universidade de Coimbra, tanto o curso do Sul em São Paulo quanto o curso do Norte em Olinda (transferido para o Recife em 1854) diferenciaram-se ao longo do tempo, adquirindo características próprias.
Em termos de organização e currículo, o ensino jurídico permaneceu inalterado em todo o período, mesmo com a realização (ou tentativa de realização) de reformas em 1831, 1854, 1879 e 1885. Isso se refletia na vida acadêmica, cujos traços definidores eram provisoriedade, expectativa de melhorias e frustração: professores mal preparados, com aulas maçantes e soporíferas, eram a causa e a consequência de alunos desinteressados, que ficavam na expectativa de obter o diploma de bacharel e galgar posições cada vez maiores e melhores. Essas posições eram facilitadas pelo ethos adquirido ao longo dos cinco anos em que frequentavam a Academia de Direito e pelo status conferido após a formatura.
Durante seus estudos, os alunos passavam por diferentes disciplinas e eram apresentados a várias teorias e conceitos jurídicos. Mas tão logo o sinal tocava, eles saíam dos edifícios e tomavam contato com a realidade das ruas e, com ela, o principal fenômeno do Brasil oitocentista: a escravidão. E, enquanto fato existente de Norte a Sul do país, os bacharelandos eram obrigados a lidar com a realidade, quisessem ou não. Enquanto base da estrutura econômica brasileira, a questão do “braço escravo” era de suma importância, pois dela dependia o futuro de nossa agricultura e, com isso, o futuro do país.
É certo que o tema permeava quase todos os ramos do Direito estudados em São Paulo e em Olinda/Recife – por exemplo, a compra e venda de escravos (Direito Civil), as formas de manumissão (Direito Romano), o tráfico transatlântico (Direito das Gentes e Direito Marítimo), os crimes de insurreição (Direito Criminal), entre outros. O tema também aparecia em disciplinas que possuíam um viés teórico: o Direito Natural e a Economia Política. Ambas adquiriram papel de destaque na Europa do século XVIII, pois enquadravam a organização do mundo dentro de uma ordem natural, tanto do ponto de vista político-jurídico quanto econômico.
O Direito Natural era a disciplina que pretendia fornecer os conceitos jurídico-filosóficos mais básicos aos estudantes. Dentre eles, destacava-se a liberdade, intrínseca ao Direito de uma sociedade liberal. Em São Paulo e em Olinda/Recife a liberdade era entendida em seu sentido mais amplo e, por isso, a escravidão era concebida como uma violação ao Direito Natural. Em todos os manuais utilizados ao longo do século XIX reconhecia-se tal violação, apontando-se a escravidão como um mal, uma afronta aos direitos inatos e primigênios, e uma contradição com o próprio conceito de Direito.
A Economia Política surgiu em um mundo modificado pela Revolução Industrial, em que os homens tinham que buscar soluções para os novos problemas econômicos que surgiam. Inserido como estava no sistema capitalista (ainda que em sua periferia), o Brasil também recepcionou esta nova ciência. Os letrados brasileiros logo passaram a compartilhar de seu entusiasmo e desde os primeiros debates parlamentares a Economia Política foi incluída no currículo dos cursos jurídicos, como cadeira autônoma. Entendida como a disciplina que pretendia fornecer os conceitos econômicos mais básicos aos estudantes, seu ensino nas Academias de Direito ocorreu menos por sua relação e influência com o Direito e mais pela possibilidade de os formados aplicarem-na quando atuassem como “homens de Estado”.
Como a principal atividade econômica era a agricultura, o trabalho escravo era o principal sustentáculo da produção nacional. Contudo, ele era uma questão incômoda para os economistas: desde cedo se entendeu que, em termos de produtividade, ele era inferior ao trabalho livre assalariado. A esse argumento de cunho econômico viriam somar-se outros de ordem filosófica, moral e humanitária, de modo que, a partir meados do século XIX, a elite brasileira sabia que o trabalho servil iria cessar, só não sabia quando (e esperavam que fosse o mais tarde possível). A pressão interna e externa – sobretudo dos ingleses – para que cessasse o tráfico e fosse abolida a escravidão no país era sentida pelos professores responsáveis por lecionar Economia Política nas Faculdades de Direito.
Ao contrário do que ocorreu com o Direito Natural, na cadeira de Economia Política a atitude frente à escravidão variou de acordo com o autor utilizado, ainda que todos acompanhassem – explícita ou implicitamente – os economistas liberais clássicos que, em teoria, condenavam o trabalho escravo por ser menos produtivo que o trabalho livre. Em São Paulo, Say e Cossa partilhavam dessa opinião, mas Macleod não se pronunciava sobre o tema, haja vista não ser uma preocupação para quem escrevia na Inglaterra, cuja sociedade industrializada tinha que lidar com outras questões. Em Olinda/Recife, o também inglês James Mill utilizava o trabalho escravo apenas como exemplo e também silenciava sobre as vantagens e desvantagens de sua utilização, no que foi seguido de perto pelo primeiro compêndio da disciplina publicado por Autran em 1844 e pelo manual de Trigo de Loureiro de 1854. Apenas em 1859 é que Autran tratou do tema às claras, mas o faz de modo ambíguo e pragmático: se do ponto de vista da produtividade o trabalho escravo era inferior, em um país que necessitava de braços para a lavoura – como era o caso do Brasil – a escravidão era uma necessidade e cessaria naturalmente assim que o número de trabalhadores livres crescesse. No mais, Aprígio, cujo compêndio foi publicado postumamente, assumia posição diversa e se contrapunha à escravidão, sequer considerando-a como um regime de trabalho, pois era moralmente indefensável.
Como se percebe, há um descompasso entre a teoria e a prática nas Faculdades de Direito do século XIX no que concerne à escravidão nas duas cadeiras aqui analisadas. Do ponto de vista teórico, os lentes, em sua maioria, se posicionavam contrariamente a ela, invocando argumentos de cunho político, moral, jurídico e econômico. O cativeiro era condenado desde a efetiva implantação dos cursos jurídicos em 1828. Até sua abolição em 1888, os professores que o defendiam com argumentos pragmáticos eram a minoria. O discurso pró-liberdade foi incorporado pelos alunos, que, nos momentos que se pronunciavam sobre o tema – na imprensa acadêmica, em suas dissertações e nas defesas de tese de doutoramento –, também defendiam o término do “elemento servil”, o que se tornou mais frequente conforme o movimento abolicionista foi se fortalecendo a partir da década de 1860.
Do ponto de vista prático, contudo, a história era diferente. Em sua vida privada, alunos e professores possuíam escravizados – o caso mais emblemático talvez seja o de Brotero, que em seu compêndio de 1829 afirmava categoricamente que “a escravidão é o maior de todos os males”, mas manteve uma significativa escravaria em casa até seu falecimento em 1873. Os discentes, por sua vez, também dispunham do trabalho escravo em sua vida doméstica, com cativos que os acompanhavam ao longo dos cinco anos do curso. Na vida pública, nos diversos cargos que ocupavam, eles também apresentavam uma atitude dissonante, pois, ainda que tivessem aprendido e mesmo defendido posições emancipacionistas nos tempos estudantis, quando ocupavam cargos na burocracia estatal, como magistrados, parlamentares, etc., estudantes e professores no mais das vezes encampavam uma posição pragmática, ou seja, reconheciam os malefícios do regime servil, mas faziam concessões em função do que ele representava para a economia nacional.
Tal divergência entre teoria e prática deve ser entendida dentro do contexto da sociedade liberal oitocentista que os agentes históricos viviam. A ideologia liberal era um campo em disputa e, por isso, determinados conceitos – como “liberdade”, “autonomia” e “direitos naturais” – podiam ser (e de fato eram) utilizados para atacar e para defender a escravização de seres humanos. Para além da discussão de se as ideias estavam ou não fora do lugar, certo é que foram recepcionadas e acomodadas pela elite política imperial, elite esta que provinha em grande parte das Faculdades de Direito. Portanto, podemos afirmar que o repertório teórico do Direito Natural e da Economia Política serviu para justificar a escravidão no Brasil.
Além disso, a questão da “ideologia oficial” transmitida pelos cursos jurídicos também deve ser matizada. Por um lado, o governo, ao que tudo indica, exercia o controle direto sobre os manuais utilizados, em especial para certificar-se de que não contivessem doutrinas subversivas. Por outro lado, esses mesmos manuais, aprovados pelo Poder Central e pelas Congregações, apresentavam teorias que iam de encontro ao que a Coroa defendia, e a escravidão é talvez o exemplo por excelência: enquanto o monarca optava pelo silêncio, a maioria dos professores de Direito ensinava que o “elemento servil” era contrário aos direitos naturais e à economia do país.
Antes de finalizarmos, devemos estabelecer algumas limitações ao presente trabalho. Nossas conclusões poderiam ser mais desenvolvidas se se analisassem outras cadeiras que compunham o currículo dos cursos jurídicos, em especial as de Direito Civil e de Direito Romano. A opção pela análise dos manuais adotados pelos catedráticos, ainda que justificada, pode deixar de lado outros aspectos do ensino jurídico – por exemplo, é sabido que os alunos liam outros autores e faziam uso de outros manuais em seus estudos. Além disso, existe uma limitação intrínseca que também decorre das fontes por nós utilizadas que é saber como as ideias de tais manuais repercutiam nas diferentes arenas de disputa jurídica, em especial no Foro e no Parlamento. E tais ideias também eram apropriadas e utilizadas pelos escravizados, um aspecto que também não pôde ser desenvolvido no presente trabalho, por delimitação do objeto e de tempo.
Os estudos sobre a relação entre Faculdades de Direito e Escravidão ainda são incipientes no Brasil, sendo uma agenda de pesquisa que nos próximos anos tende a ocupar cada vez mais espaço. Outros caminhos são possíveis – por exemplo, um escrutínio mais apurado sobre a vida dos professores, mediante análise de seus inventários e de processos em que atuaram, pode revelar-nos qual a relação que eles possuíam com escravizados, e a análise detalhada da vida cotidiana dos alunos (e não apenas dos “grandes vultos”) também tem o potencial de nos apresentar aspectos dessa história até hoje desconhecida.
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
[1] Bacharel, Mestre e Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FD-USP). Bacharel em Letras, com Habilitação em Português e Alemão e Licenciado em Letras, com Habilitação em Português pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP). Atualmente, é Professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie (Campus Higienópolis) e realiza pós-doutorado na Fundação Casa de Rui Barbosa. Dedica-se ao estudo de temas ligados à Teoria e à História do Direito. E-mail para contato: ariel.epesso@gmail.com.
Referência imagética: Faculdade de Direito de São Paulo em 1880. Fotografia por Jean Georges Renouleau. Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Faculdade_de_Direito_de_S%C3%A3o_Paulo_(cropped).jpg >. Acesso em: 05 fev 25.