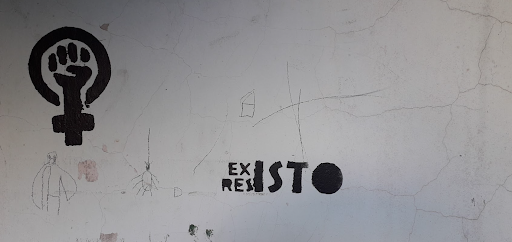Thaís de Almeida Lamas1
24 de março de 2025
O livro Dark ghettos: injustice, dissent, and reform, de Tommie Shelby, publicado em 2016, é uma obra que analisa criticamente a questão dos guetos nos Estados Unidos. Shelby, filósofo político e professor na Universidade de Harvard, aborda os guetos urbanos como locais de injustiça estrutural, onde as condições de vida precárias são perpetuadas por sistemas sociais e políticos discriminatórios e injustos. A partir disso, o autor faz uma análise aprofundada nas raízes históricas e estruturais dos guetos, explorando fatores como racismo, desigualdade econômica e segregação urbana contribuem para as condições de vida nessas áreas. Shelby argumenta contra as representações simplificadas e estigmatizadas dos guetos, buscando assim, entender as experiências dos residentes a partir de uma perspectiva mais ampla e contextualizada. Além disso, também investiga as implicações éticas e políticas das injustiças presentes nos guetos, questionando as noções convencionais de responsabilidade individual e coletiva diante dessas questões.
Ao longo da obra, que compreende 329 páginas e está estruturada em nove capítulos e epílogo, estes organizados em três grandes eixos temáticos, a saber: i) Liberty, equality, fraternity; ii) Of love and labor; e iii) Rejecting the claims of law. Shelby faz essa divisão para uma análise mais aprofundada dos temas, incluindo crime, violência, cultura, família, reprodução, punição etc. oferecendo análises perspicazes e provocativas que desafiam as visões tradicionais sobre os guetos urbanos. Esse livro, portanto, não apenas oferece uma análise abrangente das condições de vida nos guetos, mas também propõe novas perspectivas e reflexões para enfrentar os desafios sociais e políticos associados a essas comunidades marginalizadas.
Desse modo, o autor inicia sua análise mobilizando o arcabouço teórico do liberalismo igualitário, destacando a influência da teoria de John Rawls, assim como, uma distinção entre teoria ideal e não ideal. A abordagem adotada pelo autor é particularmente interessante devido à maneira como ele mobiliza os conceitos rawlsianos para explorar as complexidades dos guetos urbanos nos Estados Unidos. Shelby opta por se concentrar em argumentos um pouco mais práticos, partindo de uma análise mais idealizada para investigar questões relacionadas à justiça e à desigualdade social.
I urge that we reframe the debate, that we not view it primarily in terms of behavior versus structure or the strengths and weaknesses of particular antipoverty measures, but in terms of what justice requires and how we, individually and collectively, should respond to injustice (Shelby, 2016, p. 2).
Em sua exposição inicial, fornece uma série de conceitos teóricos para estabelecer uma base conceitual que servirá de fundamento para suas análises posteriores. Entre esses conceitos estão a diferenciação entre racismo estrutural, institucional e ideológico, cada um dos quais ele argumenta ser fundamental para entender as dinâmicas dos guetos urbanos. No que tange ao primeiro, argumenta que o racismo estrutural se refere às formas de discriminação arraigadas nas estruturas sociais, políticas e econômicas da sociedade, que perpetuam a marginalização e a desigualdade racial ao longo do tempo. Essa forma de racismo é profundamente enraizada e muitas vezes invisível, afetando áreas como habitação, emprego, educação e justiça criminal. O segundo, em contrapartida, afirma o autor: “was introduced into antiracist theory and practice because of the need to explain how ideological racism can operate in institutional contexts where the relevant agents do not consciously hold or openly express racist attitudes” (2016, p. 24). Esse conceito específico de racismo institucional é dividido em duas formas, extrínseco e intrínseco. Na concepção extrínseca, as políticas de uma instituição são consideradas racistas não pela crença racista dos formuladores de políticas, mas unicamente pelos efeitos das políticas. Já a concepção intrínseca é concentrada nos aspectos constitutivos das instituições, e não apenas em seus efeitos externos. Segundo Shelby, uma “instituição” pode ser definida como um sistema formal de papéis e regras que possibilita e regula ação cooperativa sustentada para algum propósito específico. O terceiro e último conceito, o racismo ideológico, refere-se às crenças, valores e atitudes que sustentam e legitimam as estruturas e práticas racistas da sociedade. Este tipo de racismo, segundo o autor, é expresso através de discursos, narrativas e representações que perpetuam estereótipos, preconceitos e hierarquias raciais, influenciando as percepções e comportamentos das pessoas em relação às minorias raciais.
Além dos conceitos mencionados acima, Shelby também introduz o conceito de “modelo médico” para embasamento de seus argumentos posteriores.
Many view ghettos and their occupants as a “social problem” to be fixed, and they espouse policy approaches that take the following form. Describe some salient and disconcerting features of ghettos (the prevalence of impoverished single- mother families and youth violence). Identify the linchpin that keeps ghettos in place (joblessness or segregation). And then propose a cost- effective solution that would remove this linchpin (a jobs program or an integration initiative) with the expectation that ghettos will, eventually, fade away as a result. I call this the medical model (Shelby, 2016, p. 2).
Ele tece críticas a esse modelo por sua abordagem simplista e limitada às questões sociais enfrentadas pelos residentes dos guetos e em compreender e abordar as injustiças estruturais presentes nos guetos, considerando a estrutura subjacente da sociedade como um dado imutável, concentrando-se exclusivamente na atenuação dos encargos impostos aos grupos desfavorecidos. Portanto, o chamado “modelo médico” não promove uma análise aprofundada da questão, uma vez que negligencia a necessidade de uma reforma estrutural do próprio sistema, limitando-se à implementação de medidas genéricas. Ao destacar esses conceitos teóricos iniciais, o autor prepara o terreno para uma investigação mais aprofundada das condições de vida e das injustiças presentes nessas comunidades marginalizadas.
Desse modo, o objetivo principal do debate abordado no livro Dark ghettos reside na discussão acerca de uma estrutura básica justa da sociedade e dos limites da desobediência civil em face de uma estrutura percebida como injusta, especialmente em relação ao respeito à lei moral. O autor explora até que ponto os indivíduos podem se desviar da lei estabelecida pelo Estado em prol de princípios morais fundamentais, ressaltando a importância de se manter dentro dos limites éticos mesmo diante de circunstâncias adversas. Além disso, o livro se concentra na análise da pobreza e de suas causas nos guetos urbanos, apresentando uma reflexão profunda sobre as condições que levam à marginalização e à desigualdade nesses contextos específicos. Esses dois temas centrais – a justiça na estrutura social e a pobreza nos guetos – são abordados como foco principal da obra, que busca não apenas compreender a construção dos guetos, mas propor uma reflexão sobre a justiça social e os melhores caminhos para agir em busca de uma sociedade mais equitativa. Para entendermos melhor esses pontos, vou começar explicando partes que, a meu ver, são essenciais para o entendimento do cerne do debate: a construção do gueto a partir das injustiças e crimes e, após, passarei para um debate sobre essa junção com a teoria de Rawls.
Dentro do contexto dos guetos urbanos, o autor aborda criticamente os argumentos convencionais sobre crimes e violência direcionados aos guetos. Ele reconhece que os altos índices de criminalidade e violência nos guetos são frequentemente usados para justificar políticas punitivas e repressivas, que muitas vezes exacerbam os problemas sociais em vez de resolvê-los. Shelby argumenta que essas visões simplistas sobre crimes e violência nos guetos ignoram as condições socioeconômicas desfavoráveis e as estruturas de poder desiguais que contribuem para esses problemas. Uma das principais críticas do autor é dirigida à narrativa que responsabiliza exclusivamente os habitantes dos guetos pela criminalidade e violência. Ele destaca como essa abordagem culpa as vítimas e ignora o papel das políticas discriminatórias, da falta de oportunidades econômicas e educacionais, e da segregação racial na perpetuação da pobreza e do crime nos guetos. “A person’s choices, the good or bad will of other individuals, and brute luck will naturally have a significant impact as well” (2016, p. 21). Enfatiza, ainda, que ao invés de criminalizar os residentes dos guetos, é necessário abordar as causas estruturais da criminalidade e violência por meio de políticas que promovam a justiça social e econômica.
Em meio a esse debate, o autor nos oferece análises e argumentos sobre a moral do indivíduo que comete crime e sobre suas obrigações civis que são temas de reflexão profundamente entrelaçados com as condições sociais e estruturais que moldam as experiências dos habitantes dos guetos urbanos. O autor explora a complexidade moral dessas ações dos indivíduos em contextos de privação e desigualdade, destacando que muitas vezes os crimes cometidos pelos residentes dos guetos são resultado de circunstâncias sociais adversas e sistemas injustos que limitam suas oportunidades. Embora reconheça a responsabilidade individual dos transgressores, o autor também aponta para a necessidade de considerar o contexto social mais amplo ao avaliar suas ações e responsabilidades. “If this conjecture is correct, then when the ghetto poor in the United States refuse to respect the authority of the law qua law, they do not thereby violate the principle of reciprocity or shirk valid civic obligations” (p. 218). Entretanto, enfatiza e deixa claro que o fato do sistema ser injusto, não abre portas para que os indivíduos ultrapassem todos os limites. Ele afirma que:
However, even if their society is fundamentally unjust— that is, exceeds the limits of tolerable injustice— this does not mean that the ghetto poor have no moral duties to one another or to others. Only someone who holds a purely instrumental or utility- maximizing conception of reason could think that an unjust social order rationally justifies a war of all against all, in which the only valid value systems are those of the gangster and hustler. The ghetto poor do have duties, natural duties, that are not defined by civic reciprocity and thus are not negated by the existence of even a grossly unjust social order (2016, p. 219)
Shelby pontua que o seu objetivo nesses argumentos anteriores não é marcar uma linha clara de “crimes permissíveis” e “impermissible”, mas sim oferecer razões para reflexão sobre a linha tênue entre crimes e estrutura básica injusta. O autor questiona a eficácia das abordagens tradicionais de aplicação da lei e punição na redução da criminalidade nos guetos. Sugere que políticas que se concentram apenas na repressão e encarceramento têm o potencial de alienar ainda mais as comunidades dos guetos e minar a confiança nas instituições estatais. Em vez disso, ele advoga por abordagens que incluam um todo e abordem as causas subjacentes da criminalidade, como a pobreza, a falta de acesso a oportunidades econômicas e a segregação racial. Dessa forma, Shelby defende que, em vez de se concentrar exclusivamente na punição dos indivíduos que cometem crimes, é crucial considerar as circunstâncias sociais e econômicas que contribuem para esse comportamento criminoso. Em contraste com Robert Nozick, que cita em seu livro, cuja teoria da justiça, para este, se baseia em um forte princípio de direitos individuais e de não interferência do Estado – o Estado mínimo. A partir disso, Shelby enfatiza a necessidade de um Estado mais ativo que trabalhe para corrigir as injustiças estruturais que perpetuam a pobreza e o crime nos guetos. A aplicação do modelo de Nozick seria, para Shelby, inadequada para lidar com os desafios enfrentados pelos residentes dos guetos, uma vez que não abordaria as raízes das desigualdades que levam ao comportamento criminal.
Portanto, Shelby relaciona os argumentos sobre as injustiças presentes nos guetos urbanos à estrutura básica da sociedade, uma noção central na teoria política de John Rawls. Este argumenta que a estrutura básica de uma sociedade, composta por instituições políticas, econômicas e sociais fundamentais, deve ser organizada de forma a garantir a justiça e o bem-estar de todos os membros da sociedade. No entanto, Shelby critica a forma como a estrutura básica da sociedade atual perpetua as desigualdades e injustiças nos guetos urbanos, evidenciando, assim, uma estrutura básica injusta. Para o autor, a estrutura básica da sociedade falha em garantir oportunidades iguais para todos os cidadãos, especialmente para aqueles que residem nos guetos urbanos. Ele argumenta que as políticas de segregação, discriminação racial e marginalização econômica contribuem para uma estrutura social que beneficia alguns grupos enquanto marginaliza outros, violando assim os princípios de justiça de Rawls. Desse modo, ao longo do livro, o autor destaca como as condições socioeconômicas desfavoráveis nos guetos, incluindo a falta de acesso a empregos dignos, educação de qualidade e serviços públicos adequados, refletem uma distribuição injusta dos recursos sociais e econômicos dentro da estrutura básica da sociedade.
A falta de oportunidade para a participação política e representação adequada para os residentes do gueto também são pontos de crítica para o autor, o que, segundo ele, mina ainda mais a capacidade dessas comunidades de influenciar e moldar a estrutura básica da sociedade de acordo com seus interesses e necessidades. Argumenta que, para alcançar uma sociedade verdadeiramente justa, é necessário reformar fundamentalmente a estrutura básica para garantir oportunidades iguais e justas para todos os membros da sociedade, independentemente de sua origem, gênero, raça ou local de residência. A sua análise ecoa as preocupações de Rawls sobre a importância da justiça social na organização da estrutura básica da sociedade e destaca a necessidade de abordar as desigualdades e injustiças nos guetos urbanos como parte integrante desse projeto mais amplo de justiça social.
Contudo, Shelby não analisa apenas questões referentes à criminalidade e à violência, mas também questões relacionadas à cultura e à família, como mencionado na introdução deste texto. Ao reconhecer que há uma diversidade de experiências e realidades dentro dessas comunidades, busca entender as dinâmicas culturais e familiares presentes nos guetos a partir de uma perspectiva sociológica e política. Assim como em outros pontos mencionados ao longo do texto, Shelby examina como fatores como pobreza, desigualdade estrutural e falta de oportunidades socioeconômicas afetam as famílias que vivem nos guetos. Ele argumenta que essas situações adversas muitas vezes colocam pressão sobre as estruturas familiares, levando a formas não tradicionais de organização familiar e a dinâmicas complexas de relacionamento entre os membros da família, a exemplo de mães solteiras que não podem contar com os pais dos seus filhos.
Além disso, Shelby analisa a influência da cultura e da identidade dentro dos guetos urbanos. Embora muitas vezes sejam estigmatizadas pela sociedade em geral, as culturas e identidades desenvolvidas nos guetos desempenham um papel significativo na vida dos residentes. Shelby busca compreender como essas culturas e identidades são moldadas pelas condições socioeconômicas e políticas dos guetos, e como elas podem servir como formas de resistência e empoderamento para os indivíduos que vivem nessas comunidades. No entanto, também adverte contra uma simplificação excessiva ou romantização da vida nos guetos, reconhecendo os desafios e dificuldades enfrentados por muitas famílias e indivíduos. Ele destaca a importância de abordar as questões estruturais que contribuem para as desigualdades nos guetos, em vez de atribuir problemas sociais complexos unicamente a questões culturais ou familiares.
Já ao final, no epílogo do livro, o autor discute a necessidade de abolir os guetos, comparando-os à escravidão e à segregação racial. Ele argumenta que os guetos são injustos e refletem a profunda injustiça da estrutura social. Dessa forma, ele termina seus argumentos com uma defesa do “abolicionismo do gueto”, uma abordagem que vai além das políticas tradicionais de redução da pobreza e busca uma reforma fundamental das estruturas sociais que perpetuam a injustiça nos guetos. Segundo Shelby, a luta contra os guetos deve ser vista como uma questão de justiça corretiva, que exige ações políticas mais amplas para abordar não apenas a pobreza material, mas também as desigualdades raciais e estruturais.
The ghetto should be abolished. Like American slavery and Jim Crow segregation, the ghetto should never have come into existence. In Calling for its abolition, I’m not suggesting that black neighborhoods should be proscribed or that their poor black inhabitants should be dispersed. There is nothing wrong with the existence of predominantly black urban communities and, in light of the long- standing predicament of black people in the United States, there is much to be said in favor of such neighborhoods. The prob lem is that too many black neighborhoods lack needed resources, are offered only inadequate public services and substandard schools, are beset with violent street crime, and are home to many stigmatized and unjustly disadvantaged people with little spatial or economic mobility (2016, p. 275).
Em sua conclusão, Shelby reconhece as limitações de sua abordagem e a complexidade dos problemas enfrentados pelos habitantes dos guetos. Ele não oferece soluções simples ou fáceis, mas sim uma análise detalhada e crítica das raízes profundas da injustiça nos guetos e das possíveis estratégias para sua superação.
I offer no new political strategies or policy proposals. Others are better equipped for those tasks. What I have offered is a defense of a set of values and principles that should inform the next ghetto abolition movement (a nonideal theory of corrective justice with its accompanying political ethics). I’ve offered a way of conceptualizing the problem (as one of basic justice rather than black poverty). And I’ve defended a philosophical framework for responding to the problem (a systemic- injustice model rather than the medical model that now reigns in policy circles and among black elites) (2016, p. 278).
Em última análise, Dark ghettos é uma obra importante que desafia as concepções convencionais sobre os guetos urbanos e oferece uma perspectiva filosófica política essencial para pensarmos a questão da justiça social e estrutura básica nos Estados Unidos e no mundo.
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
- Doutoranda em Ciência Política no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – IESP.UERJ. Mestra em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. Pesquisadora de teoria política, teoria política feminista e justiça global. ↩︎
Fonte: SHELBY, Tommie. Dark Ghettos: Injustice, Dissent, and Reform. Cambridge: Harvard University Press, 2016. [Capa do livro].