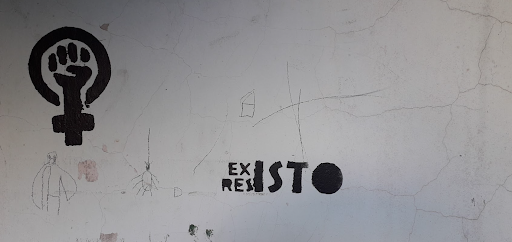Felipe Ramos Garcia[1]
25 de abril de 2025
Ao analisar a crise na Ucrânia, John Mearsheimer destaca as diferentes abordagens com as quais o cenário tem sido lido pelos países envolvidos. Segundo o autor:
Essencialmente, os dois lados têm operado com abordagens diferentes: Putin e seus compatriotas têm pensado e agido de acordo com os princípios do realismo, enquanto seus equivalentes ocidentais têm seguido ideias liberais sobre política internacional. O resultado é que os Estados Unidos e seus aliados, sem perceber, provocaram uma grande crise na Ucrânia.
A atualidade da análise corrobora os recentes desdobramentos envolvendo o país do leste europeu. No entanto, o texto “Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault” foi publicado na edição de outubro de 2014 da tradicional revista Foreign Affairs, uma das principais publicações do campo. Ao analisar o contexto da crise ucraniana, o autor argumenta que a queda do presidente ucraniano pró-Rússia, Viktor Yanukovych, em 2014, considerada por Putin como um “golpe”, foi o ponto culminante que levou a Rússia a anexar a Península da Crimeia e a desestabilizar a região[2]. Mearsheimer sugere que a solução para a crise seria que o Ocidente abandonasse seus planos de “ocidentalizar” a Ucrânia, transformando-a em um “estado neutro” que servisse como “zona de amortecimento” entre a OTAN e a Rússia. Ele aponta para o fato de que as potências ocidentais falharam ao não reconhecer a importância estratégica da Ucrânia para a Rússia e ao ignorar as preocupações legítimas de segurança de Moscou.
A análise de John Mearsheimer não é a única que destaca o problema da “zona de influência” russa no leste europeu e a crescente ameaça que a expansão da OTAN representava para a Rússia. Há uma vasta bibliografia no campo da ciência política e das relações internacionais que chama atenção para as consequências do colapso da União Soviética para a estabilidade da Europa – e do mundo. Em 1993, em “The Emerging Structure of International Politics”, Kenneth Waltz argumenta que a ordem mundial que se estabelece após o colapso da União Soviética seria “instável e temporária”. A abordagem de Waltz – ainda que parta de pressupostos teóricos distintos dos de Mearsheimer – cristaliza os argumentos de uma vertente neorrealista no campo das Relações Internacionais. Ao avançar na abordagem clássica do realismo, o autor desenvolve um esquema teórico robusto que analisa o papel das grandes potências na ordem mundial, o que o consagra como uma das principais referências teóricas[3].
Se, por um lado, a abordagem realista atribui grande peso à força, no poder bélico dos países, a abordagem neoliberal enfatiza a complexidade da interdependência entre eles. A abordagem é cristalizada por Robert Keohane e Joseph Nye, que, no final dos anos 1970, publicaram o clássico “Power and interdependence”, em que argumentam que as instituições internacionais teriam a capacidade de reduzir incertezas e gerar previsibilidade, uma vez que os Estados apostaram na cooperação ao invés do conflito. Por outro lado, essa abordagem se distancia do realismo de Kenneth Waltz, já que aposta em um equilíbrio de forças entre os países para além dos recursos e capacidades militares. A abordagem neorrealista de Waltz é mais cética quanto à capacidade das organizações internacionais de gerar estabilidade entre os Estados. Nesse sentido, os anos que antecederam e sucederam à dissolução da União Soviética foram terreno fértil para os debates em torno dessas abordagens teóricas. A “síntese Neo-Neo” refere-se aos debates sobre as possibilidades de convergência entre o neorrealismo estrutural de Kenneth Waltz e o neoliberalismo estrutural de Robert Keohane, que se sucederam nos anos 1980 e 1990 e demarcaram o estado da arte das perspectivas teóricas nas Relações Internacionais naquele período.
Nesse sentido, o livro “Ciência, Teoria e Relações Internacionais: um estudo sobre a ‘Síntese Neo-Neo’ a partir de Waltz”, de Paulo Bittencourt, apresenta uma contribuição significativa ao debate teórico nas Relações Internacionais, especialmente no que se refere à síntese entre o neorrealismo de Kenneth Waltz e o institucionalismo neoliberal de Robert Keohane e Joseph Nye. A obra busca problematizar a coerência dessa tentativa de fusão teórica, argumentando que a “síntese neo-neo” não é uma integração teórica genuína, mas sim um ecletismo metodológico que, de certa forma, ignora diferenças epistemológicas importantes (2025, p. 342). Ao longo do livro, o autor desconstrói as premissas dessa síntese, expondo suas limitações tanto conceituais quanto empíricas. Para isso, o autor emprega um esforço de reconstrução do percurso de desenvolvimento teórico dos autores a fim de demonstrar como a síntese neo-neo não seria, na prática, uma síntese teórica de fato, mas uma reformulação de teoria neoliberal que se apropria do léxico formal de Waltz (2025, p. 358).
O trabalho é dividido em duas unidades, que são subdivididas em duas partes cada. Na primeira unidade, o autor reconstrói o percurso teórico de Robert Keohane e Joseph Nye na primeira parte, e o de Kenneth Waltz na segunda, esmiuçando o desenvolvimento do conceito de interdependência nos dois primeiros e, em seguida, a formulação da teoria da política internacional de Waltz. Na segunda unidade, o autor questiona se a síntese neo-neo é viável ou se representa apenas uma acomodação artificial de conceitos que seriam, a priori, incompatíveis. Contudo, o autor aponta que há uma base racional teórica que sustentaria o argumento de uma síntese entre as abordagens. Essa base seria o pressuposto de uma racionalidade teórica, identificada por Bittencourt no percurso teórico adotado pelos autores. Porém, ainda que haja uma convergência em torno de um pressuposto de racionalidade, o autor chama a atenção para diferenças metodológicas importantes nas formulações:
A racionalidade em Waltz está simplesmente relacionada a padrões de comportamento que são inibidos pelo sistema para que os Estados continuem a existir. A questão da racionalidade, aqui, não é igual à proposta por Keohane e Nye: ela é uma lógica competitiva e os comportamentos incentivados ou inibidos pelo sistema os induzem a se comportar de determinada maneira, pelo “trabalho duro”, pela “inteligência” ou por pura “sorte”, o que é definido pelo próprio Waltz. Os elementos centrais aqui são a seleção e a socialização. Temos, então, uma diferença daquilo que se possa chamar “racionalidade” (p. 355-356).
A discussão apresentada é de natureza teórica e, de certa forma, metateórica. Ao optar por uma reconstrução do percurso de desenvolvimento teórico dos autores para contrapor as abordagens como método, Bittencourt apresenta uma discussão densa e robusta. Ao longo do texto, são analisadas as bases que fundamentam e justificam as perspectivas dos autores, e, em vários momentos, Bittencourt nos mostra como a adoção de um léxico pretensamente ajustado entre obras ao longo do tempo – o que justificaria o argumento central daqueles que defendem a existência de uma síntese entre as abordagens – seria, na verdade, um reposicionamento das abordagens ajustada ao contexto. Para isso, Bittencourt recorre, de forma perspicaz, a uma literatura mais específica da filosofia da ciência – como Lakatos (1979), Popper (2013) e Kuhn (1998) – para balizar seu argumento. Trata-se, portanto, de uma obra de fôlego e que, ainda que bastante densa, é suavizada pela forma como o autor organiza e expõe seus argumentos. Ao longo da leitura, há quase uma tentativa de transportar o leitor para acompanhar de perto a trajetória do desenvolvimento teórico de Keohane, Nye e Waltz. É possível identificar as escolhas metodológicas e argumentativas dos autores ao longo dos anos 1970 e 1980, bem como compreender as justificativas para os ajustes ao longo das obras.
Dessa forma, seu trabalho torna-se essencial para compreendermos não apenas a validade da síntese neo-neo, mas também os desafios epistemológicos mais amplos que permeiam o campo das Relações Internacionais. O autor parte da hipótese de que a tentativa de integrar os postulados waltzianos à visão institucionalista de Keohane e Nye resulta em um híbrido teórico inconsistente. Para isso, ele analisa os fundamentos das duas abordagens, destacando que Waltz estrutura sua teoria em torno da anarquia do sistema internacional e da distribuição de poder entre os Estados, enquanto Keohane e Nye enfatizam o papel das instituições internacionais na facilitação da cooperação. Um dos principais pontos levantados é que a síntese neo-neo falha em considerar as implicações profundas das concepções de estrutura e anarquia em Waltz. Para ele, as interações internacionais são estruturadas por constrangimentos sistêmicos que determinam o comportamento dos Estados. Já Keohane e Nye sustentam que, mesmo sob a anarquia, a cooperação pode surgir por meio de instituições que reduzem a incerteza e os custos de transação. Bittencourt questiona se essas duas abordagens podem realmente ser combinadas sem comprometer suas premissas fundamentais.
A discussão proposta por Bittencourt se insere no contexto dos debates sobre os paradigmas das Relações Internacionais, que frequentemente buscam formas de conciliar diferentes abordagens teóricas – e que são, mais uma vez, fundamentais para a análise dos fenômenos recentes. Outro aspecto relevante da obra é a crítica à tendência do campo das RI em adotar programas de pesquisa racionalistas que privilegiam modelos preditivos e generalizáveis. Segundo o autor, essa abordagem ignora diferenças estruturais entre os paradigmas, resultando em uma fusão que mais obscurece do que esclarece os fenômenos internacionais. Esse ponto de vista dialoga com críticos contemporâneos da síntese neo-neo, como Richard Ashley (1984) e Robert Cox (1981), que apontam para a necessidade de abordagens mais históricas e contextuais para entender a dinâmica internacional[4]. Além disso, Bittencourt explora o papel das instituições internacionais em contextos de multipolaridade e transição hegemônica. A partir dessa perspectiva, ele argumenta que a síntese neo-neo subestima os impactos de transformações estruturais, como a ascensão da China e a crise da hegemonia dos Estados Unidos. Para o autor, a abordagem institucionalista de Keohane e Nye não explica satisfatoriamente como a emergência de novas potências altera os padrões de cooperação internacional, tornando a síntese teórica ainda mais frágil.
A discussão proposta por Bittencourt é bastante relevante para a compreensão dos desafios teóricos das RI no século XXI. A crescente fragmentação do sistema internacional demonstra que a abordagem de Waltz, centrada na estrutura de poder, continua relevante para entender a rivalidade entre grandes potências. Por outro lado, a incapacidade do institucionalismo neoliberal de prever o declínio de regimes internacionais, como o Acordo de Paris e o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, reforça os argumentos de Bittencourt sobre as limitações da síntese. Apesar da robustez dos argumentos apresentados, a obra de Bittencourt poderia, contudo, explorar com maior profundidade alternativas à síntese neo-neo. O construtivismo, por exemplo, emerge como uma abordagem promissora para conectar aspectos estruturais e dinâmicas institucionais. Autores como Alexander Wendt (1999) e Peter Katzenstein (1996) demonstram que a interação entre agentes e estrutura é crucial para compreender mudanças no sistema internacional, o que poderia enriquecer a análise de Bittencourt. Outro ponto a ser considerado é a ausência de uma discussão empírica mais aprofundada sobre os efeitos da síntese neo-neo na formulação de políticas internacionais. Estudos de caso sobre a governança global, o papel da OTAN na segurança europeia ou a influência do FMI e do Banco Mundial nas economias emergentes poderiam fortalecer a crítica do autor e torná-la mais aplicada ao contexto atual.
Todavia, apontar essas questões não diminui, em nenhum aspecto, a originalidade e a solidez do trabalho. As ausências apontadas são perfeitamente justificadas pela opção metodológica do autor de se debruçar mais detidamente sobre o percurso do desenvolvimento teórico de Robert Keohane, Joseph Nye e Kenneth Waltz. O que se perde em termos de alcance de abordagens analisadas se ganha com a brilhante apresentação do percurso intelectual das duas abordagens examinadas pelo autor. “Ciência, Teoria e Relações Internacionais”, de Paulo Bittencourt, é uma análise crítica instigante, robusta e profunda, que questiona a viabilidade da síntese neo-neo. O autor demonstra de forma convincente que a fusão entre neorrealismo e institucionalismo neoliberal é metodologicamente inconsistente e epistemologicamente questionável. Ao fazer isso, ele contribui para um debate mais sólido e rigoroso sobre os fundamentos teóricos das Relações Internacionais, ressaltando a importância de abordagens coerentes e bem fundamentadas para a compreensão do sistema internacional contemporâneo.
Em um contexto de contestação às organizações internacionais e de uma retomada da discussão sobre nuclearização, observamos uma transformação da ordem internacional a partir de fenômenos como a ascensão da China, a crise das organizações multilaterais e os desafios transnacionais (mudanças climáticas, pandemias, terrorismo e crime organizado transnacional), bem como o reposicionamento de lideranças autoritárias. Ainda que o livro não trate dessas questões, sua leitura certamente pode contribuir para o refinamento das análises sobre a conjuntura atual.
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
Referências bibliográficas
Ashley, Richard K. 1984. “The Poverty of Neorealism.” International Organization 38 (2): 225-286. https://doi.org/10.1017/S0020818300026709.
Bittencourt, Paulo. Ciência, Teoria e Relações Internacionais: um estudo sobre a ‘Síntese Neo-Neo’ a partir de Waltz. São Paulo: Hucitec, 2025.
Cox, Robert W. Social forces, states, and world orders: Beyond international relations theory. Millennium: Journal of International Studies, v. 10, n. 2, p. 126-155, 1981. DOI: 10.1177/03058298810100020201.
Katzenstein, Peter J., ed. 1996. The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. New York: Columbia University Press.
Keohane, Robert O., and Joseph S. Nye. 2012. Power and Interdependence. 4th ed. Boston: Pearson.
Kuhn, Thomas. 1998. A estrutura das revoluções científicas. 5a ed. São Paulo: Perspectiva.
Lakatos, Imre & Musgrave, Alan. 1979. A crítica e o desenvolvimento do conhecimento. São Paulo: Cultrix.
Mearsheimer, John J. 2014. “Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault.” Foreign Affairs 93 (5). Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault | Foreign Affairs.
Plokhy, Serhii. 2014. The Last Empire: The Final Days of the Soviet Union. New York: Basic Books.
Popper, Karl. 2013. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix.
Waltz, Kenneth N. 1993. “The Emerging Structure of International Politics.”International Security 18 (2): 44-79. https://doi.org/10.2307/2539097.
Wendt, Alexander. 1999. Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
[1] Doutorando em Sociologia pela Universidade de São Paulo e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência (NEV-USP). E-mail: feliperamosgarciaa@gmail.com.
[2] Após a queda de Viktor Yanukovych, lideranças pró-Rússia realizaram um referendo em março de 2014 em que pautaram a separação da região da Ucrânia. Segundo as lideranças locais, mais de 95% dos habitantes votaram pela separação e, munido dessa justificativa, a Rússia realizou uma invasão na península e posteriormente ratificou o referendo, oficializando a anexação da Crimeia.
[3] Apesar da predominância da abordagem realista nas Relações Internacionais, outros autores analisam as consequências do colapso da União Soviética sobre prismas diferentes. Um exemplo é a obra do cientista político ucraniano Serhii Plokhy, que em seu trabalho “The Last Empire: The Final Days of the Soviet Union” discute, a partir de uma abordagem construtivista, os problemas na construção de uma identidade pós-soviética e como isso contribuiu para os recentes conflitos na região.
[4] Ambos os autores fazem a crítica ao neorrealismo de Kenneth Waltz, porém o fazem a partir de premissas distintas. Enquanto Richard Ashley parte uma influência pós-estruturalista de análise, Robert Cox crítica o neorrealismo a partir da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt e, sobretudo, a partir de um marxismo aplicado ao campo das Relações Internacionais.