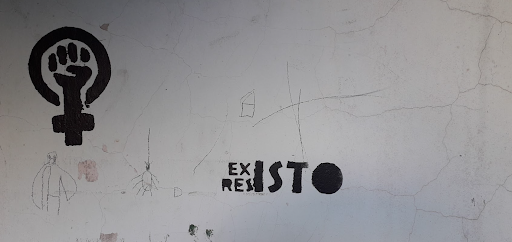Ronaldo Tadeu de Souza1
10 de novembro de 2025
***
Entrevista com a Historiadora Ynaê Lopes dos Santos – Professora do Departamento de História da UFF-Universidade Federal Fluminense. Autora das obras Racismo brasileiro: uma história da formação do país (Ed. Todavia) e Irmãs do Atlântico: escravidão e espaço urbano no Rio de Janeiro e em Havana (1763-1843) (ed. Civilização Brasileira).
***
1) Boletim Lua Nova-Cedec
Você recentemente publicou Irmãs do Atlântico: escravidão e espaço urbano no Rio de Janeiro e em Havana (1763-1843) pela Civilização Brasileira; conte-nos um pouco sobre como foi o processo de pesquisa e qual o argumento central do livro?
Ynaê: O livro Irmãs do Atlântico: escravidão e espaço urbano no Rio de Janeiro e em Havana (1763-1843) nasceu como resultado da minha pesquisa de doutorado no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo (USP), com financiamento da FAPESP. Depois de um mestrado no qual analisei os arranjos escravos de moradia — publicado pela Hucitec em 2010 —, eu queria compreender de forma mais sistemática as dinâmicas que estruturavam a escravidão urbana, tendo em vista o fino equilíbrio desses espaços que, ao mesmo tempo em que dependiam da escravidão, precisavam lidar com a maior autonomia de circulação e sociabilidade dos escravizados. Para isso, decidi investigar aquelas que se tornaram as duas maiores cidades escravistas das Américas: o Rio de Janeiro e Havana — um título pouco honroso, mas que revela uma mesma escolha política das elites brasileiras e cubanas em defesa da manutenção do sistema escravista. O ponto central da investigação foi analisar como os órgãos responsáveis pela municipalidade — câmaras, intendências e autoridades locais — administraram a escravidão urbana nessas duas cidades, revelando as práticas e os mecanismos cotidianos de controle e negociação que sustentavam o regime escravista no espaço urbano.
O desenvolvimento da pesquisa se apoiou em um extenso trabalho em arquivos e bibliotecas no Brasil, na Espanha e em Cuba. No Rio de Janeiro, examinei documentos do Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional e do Arquivo Geral da Cidade. Já na pesquisa internacional, trabalhei no Archivo Nacional de Madrid, no Archivo General de Indias, em Sevilha, e no Archivo Nacional de Cuba, além da Biblioteca Nacional José Martí. A partir desse percurso, o livro propõe uma leitura comparada das experiências urbanas da escravidão, destacando como as cidades foram não apenas espaços de reprodução da dominação, mas também de criação de brechas, negociações e formas de resistência cotidiana, que revelam a complexidade e a vitalidade das populações negras nas Américas.
Desse modo, o ponto central do artigo foi lançar luz sobre a importância do estudo das dinâmicas escravistas em espaços urbanos, especialmente no que diz respeito à força de trabalho desempenhada pela população escravizada nesses contextos. Trata-se de uma dimensão ainda pouco explorada por quem se dedica à história das cidades, mas fundamental para compreender como a escravidão estruturou não apenas as relações sociais, econômicas e políticas, mas também a própria organização material e simbólica do espaço urbano.
2) Boletim Lua Nova-Cedec
Como você articula Irmãs do Atlântico: escravidão e espaço urbano no Rio de Janeiro e em Havana (1763-1843) com sua outra grande obra, Racismo Brasileiro?
Ynaê: As duas obras — Irmãs do Atlântico: escravidão e espaço urbano no Rio de Janeiro e em Havana (1763-1843) e O Racismo Brasileiro — partem de uma mesma premissa: há um silenciamento tácito e persistente sobre o papel da população escravizada na formação da história do trabalho no Brasil. Em Irmãs do Atlântico, essa questão aparece de forma mais direta na análise das dinâmicas urbanas da escravidão, evidenciando como o trabalho realizado por pessoas escravizadas foi essencial para o funcionamento e o crescimento das cidades. Já em O Racismo Brasileiro, também faz uma abordagem sobre a escravidão brasileira, mas de maneira mais sistemática, tentando compreender como e porque a instituição perdurou por tanto tempo, e como as escolhas pela escravidão tiveram papel formador do Brasil escravista e do Brasil de hoje.
Outro ponto de convergência entre os dois livros é a compreensão do papel formador da escravidão no período pós-escravista — aquilo que os autores afropessimistas denominam de passado presente. Em Irmãs do Atlântico essa dimensão fica mais voltada à uma crítica anunciada ainda na introdução do livro, a grande parte dos estudos que analisam a história das cidades, e tomam a escravidão como uma anedota dessa história (quando muito). Já no Racismo Brasileiro procuro mostrar como as práticas, os discursos e as desigualdades herdadas do cativeiro não se encerraram com o 13 de Maio de 1888, mas se reconfiguraram em novas formas de exclusão e subalternização, por meio de escolhas deliberadas das elites com comandavam o país. Assim, tanto Irmãs do Atlântico quanto O Racismo Brasileiro buscam evidenciar que o racismo e as desigualdades contemporâneas só podem ser plenamente compreendidos quando reconhecemos a escravidão como um sistema de longa duração, que ainda estrutura o modo como o Brasil se pensa e se organiza socialmente.
3) Boletim Lua Nova-Cedec
Um dos debates contemporâneos que nos defrontamos, particularmente, nós negros e negras, é sobre a questão do pardo, a parditude; como suas pesquisas tanto no primeiro como no segundo livro, podem auxiliar a explicar essa discussão?
Ynaê: Em Irmãs do Atlântico, fica evidente que, tanto em Havana quanto no Rio de Janeiro, pretos e pardos estiveram igualmente sujeitos à escravidão. Essa constatação revela que a escravidão moderna foi um sistema profundamente racializado, no qual apenas sujeitos não brancos podiam ser escravizados. A cor da pele, e não apenas a origem ou a condição jurídica, definia quem podia ser reduzido à servidão. Essa estrutura de poder se apoiava na criação de hierarquias raciais internas, em que o “pardo” ocupava um lugar ambíguo, mas ainda dentro da lógica da subalternização. Essa ambiguidade não implicava liberdade ou privilégio, mas antes um modo de controle que mantinha os sujeitos racializados sob vigilância e exploração constante.
Como discuto na coluna “O pardo e o mal-estar do racismo brasileiro” (DW Brasil), essa herança colonial se prolonga até o presente, produzindo desconfortos e disputas em torno da identidade racial. A figura do pardo continua sendo o espelho de um país que insiste em suavizar o racismo ao diluir fronteiras raciais, evitando o enfrentamento direto da desigualdade estrutural. Esse “mal-estar” revela o quanto a ideologia da mestiçagem foi eficaz em perpetuar o mito de uma suposta harmonia racial, quando, na verdade, ela mascarou as violências e hierarquias herdadas da escravidão. Assim, compreender a escravidão urbana em suas dimensões raciais, como faço em Irmãs do Atlântico, ajuda a entender como essas fronteiras entre preto e pardo foram historicamente produzidas e manipuladas para manter a ordem social.
O que o movimento negro contemporâneo fez — tento demonstrar isso no livro O Racismo Brasileiro— foi ler a contrapelo essa lógica de “dividir para dominar” e propor uma nova gramática política: a categoria “negro”, que reúne pretos e pardos como parte de um mesmo grupo histórico e político. Essa leitura não é apenas simbólica, mas profundamente política e epistemológica. Ela parte do reconhecimento de que, historicamente, pretos e pardos viveram experiências comuns de exclusão, violência e cidadania de segunda categoria. Ao reivindicar a unidade do grupo negro, o movimento negro desmonta as hierarquias coloniais e afirma uma identidade coletiva que se opõe à lógica da fragmentação racial, propondo novas possibilidades de resistência, reparação e reconstrução histórica.
4) Boletim Lua Nova-Cedec
Na medida em que a obra do Gilberto Freyre sempre surge quando se discute a formação social do Brasil, nossa identidade racial e cultural e nossa marca de mestiçagem (a questão do pardo), à luz da sua agenda de pesquisa, como você se posiciona em relação à ele e ao Casa-Grande e Senzala?
Ynaê: Gilberto Freyre e sua obra ocupam um lugar incontornável na construção do Brasil moderno, sobretudo na formulação de uma determinada ideia de brasilidade que ganhou força durante a Era Vargas e que, a meu ver, ainda molda profundamente as identidades brasileiras contemporâneas. Não é possível ignorar Casa-Grande & Senzala, pois ele se tornou um texto fundador da narrativa nacional, articulando o mito da harmonia racial e a celebração da mestiçagem como essência do país. No entanto, é fundamental realizar uma leitura crítica dessa obra, compreendendo como ela foi instrumentalizada politicamente para sustentar uma imagem conciliatória da formação brasileira. Essa escolha intelectual e política diz muito sobre a década de 1930 — um período que, como bem aponta Antonio Candido, foi crucial na história do país, marcado pela redefinição dos projetos de nação e pelo fortalecimento de discursos culturais que buscavam integrar e pacificar diferenças sociais e raciais.
Nesse sentido, é importante reconhecer as condições intelectuais e políticas que permitiram a emergência do pensamento de Freyre. Ele se valeu das mudanças epistêmicas trazidas pela Antropologia Cultural, especialmente da influência de Franz Boas, para propor uma leitura inovadora e, ao mesmo tempo, funcional ao projeto de Estado varguista. Casa-Grande & Senzala é uma obra estratégica: admite e até celebra a presença africana e negra na formação do Brasil, desde que esses sujeitos permaneçam dentro de uma ordem hierarquizada, onde a mestiçagem aparece como uma espécie de boia de salvação — uma solução simbólica que encobre as violências raciais, de gênero e de classe que estruturaram a sociedade colonial e persistem no pós-abolição. Ao apagar esses tensionamentos, Freyre oferece uma narrativa sedutora e harmoniosa, que se tornou parte do imaginário oficial e que, até hoje, precisa ser constantemente revisitada e desconstruída.
É, portanto, uma obra que deve ser abertamente criticada não apenas pelo que diz, mas também pelo que silencia. Uma das maiores “novidades” atribuídas a Freyre — a valorização positiva da presença negra na formação nacional — já havia sido formulada, décadas antes, por Manuel Querino, intelectual negro, abolicionista e autor de obras fundamentais sobre arte, cultura e trabalho no Brasil, que, infelizmente, segue sendo pouco estudado e reconhecido na historiografia brasileira, e que está muito longe de ocupar o lugar devido no Pensamento Social Brasileiro. Desse modo, é uma obra que só deve ser lida se essa leitura estiver disposta a dissecar o autor e o seu tempo, trazendo outros personagens para o debate.
5) Boletim Lua Nova-Cedec
Na questão do pardo, e a partir de suas investigações e intervenções no debate público, é possível traçar algum paralelo com Cuba, Havana?
Ynaê: Há uma semelhança importante e historicamente construída entre Brasil e Cuba: a de que ambos seriam países marcados por um racismo mais brando ou menos violento quando comparados aos Estados Unidos. Essa ideia, cultivada por décadas, sustentou o mito da harmonia racial e da convivência pacífica entre brancos e negros, justamente pela forte presença de uma população miscigenada (os pardos daqui e de lá). No entanto, uma série de estudos já demonstrou que o racismo é estrutural em ambos os países e que a miscigenação foi igualmente utilizada como um vetor de pacificação e de unificação nacional — uma estratégia política que mascarou as hierarquias raciais e silenciou as desigualdades. Cuba, inclusive, teve situações radicais de embate de cunho abertamente racial, como a suposta Conspiração de La Escalera em 1844, que resultou na expropriação e morte de muitos homens e mulheres negros e livres da cidade, e no Massacre de 1912, no qual membros do primeiro partido negro das Américas (O Partido Independiente de Color – PIC) foram massacrados pelo Exército cubano de um país que havia ficado independente há pouco mais de uma década. Desse modo, assim como no Brasil, a construção do ideal de mestiçagem em Cuba serviu mais para diluir as fronteiras raciais do que para enfrentá-las, apagando as experiências e as lutas concretas das populações negras.
Mas é fundamental lembrar que Cuba viveu uma revolução socialista, cuja leitura predominante sobre a questão racial associava a desigualdade do negro quase exclusivamente à desigualdade econômica. Partia-se do princípio de que, uma vez sanada a pobreza, o racismo também seria superado. Durante décadas, essa visão fez do racismo um “não problema” na Cuba pós-1959, mesmo porque o regime socialista garantia, de fato, melhores condições sociais e econômicas para a população negra.
Embora Fidel Castro tenha reconhecido, pouco antes de falecer, que o problema do racismo persistiu no século XX e XXI, a crença de que a Revolução teria resolvida a questão racial prevaleceu. Justamente por isso, é mais difícil encontrar, no contexto cubano, um debate amplo e aberto sobre as dimensões históricas e contemporâneas do racismo. Na minha última visita a Havana, tive a oportunidade de entrevistar o professor Tomás Robaina, um dos maiores estudiosos da questão racial cubana, que reforçou a urgência de que esse debate seja feito de maneira transparente, franca e respeitosa, reconhecendo que as desigualdades raciais não desaparecem apenas com mudanças econômicas, mas exigem também uma transformação profunda das estruturas simbólicas e sociais que as sustentam. Ou seja, é fundamental entender que a sociedade cubana foi e segue sendo uma sociedade racista, assim como toda sociedade que foi ordenada pela escravidão moderna, o que permite que sejam traçados paralelos com outros países americanos.
6) Boletim Lua Nova-Cedec
Ainda sobre o debate do pardo, o que se ganha e o que se perde com ele?
Ynaê: Não há uma compreensão aprofundada e complexa da sociedade brasileira — no passado e no presente — sem encarar de frente a questão do pardo. É preciso, ao meu ver, um esforço conjunto para retirar o pardo do lugar pacificador em que foi colocado, sobretudo a partir da década de 1930, e reposicioná-lo como um elemento de tensão na história do Brasil. Primeiro, porque “pardo” é uma categoria de origens diversas e ambíguas, um termo que foi utilizado para sintetizar e homogeneizar a mestiçagem brasileira. O pardo tornou-se a chave de uma narrativa conciliatória, que suaviza as fronteiras raciais e impede que o país encare, de modo direto, o caráter estrutural do racismo. Essa categoria foi moldada para funcionar como símbolo de harmonia e integração, quando, na verdade, ela esconde um projeto político de apagamento da diferença e de neutralização do conflito racial.
O que se ganha, portanto, ao revisitar criticamente o debate sobre o pardo, é a possibilidade de desnaturalizar essa posição de “mediação” e compreender que ela foi historicamente construída para conter a potência política do povo negro. O que se perde, se continuarmos a reproduzir a ideia do pardo como ponte ou conciliação, é a chance de reconhecer as desigualdades reais que estruturam a sociedade brasileira. Reposicionar o pardo como um marcador de tensão — e não de harmonia — permite que vejamos com mais nitidez como o racismo brasileiro opera por meio da ambiguidade, do silêncio e da recusa em nomear as hierarquias raciais. Nesse sentido, discutir o pardo não é um exercício terminológico, mas uma forma de enfrentar o próprio coração do mito da democracia racial, ainda tão presente nas nossas práticas, instituições e imaginários.
7) Boletim Lua Nova-Cedec
Como historiadora, e uma das principais historiadoras que temos atualmente, qual sua análise (em termos de contribuição decisiva, limitação analítica, questões ideológicas etc.) de nossos clássicos na historiografia, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Jr., Fernando Novais, e a geração que, de certo modo, a sucedeu, Ronaldo Vainfas, Manolo Florentino, João José dos Reis e Rafael Bivar Marques? Perceba que eu não conheço muitas historiadoras mulheres (além da nossa Beatriz Nascimento, obviamente); e não cito historiadores negros, propositalmente, para você trazê-los ao debate…
Ynaê: Bom, Os nomes citados — Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Jr., Fernando Novais, seguidos por Ronaldo Vainfas, Manolo Florentino, João José Reis e Rafael Bivar Marques — compõem um conjunto de historiadores fundamentais para pensar a trajetória intelectual da historiografia brasileira. Eles pertencem a gerações distintas, ligadas respectivamente aos momentos de fundação, consolidação e ampliação do campo da História no ensino superior brasileiro, tanto no ensino quanto na pesquisa. Estes autores não apenas ajudaram a estruturar instituições e formar novas gerações de historiadores, como também contribuíram de forma decisiva para o debate sobre a formação nacional, com obras que tensionam os caminhos do Brasil enquanto projeto político, social e econômico. Além disso, muitos deles tiveram papel relevante na internacionalização da historiografia brasileira, tornando-a referência em temas como escravidão, colonização e modernidade periférica.
A escravidão, em particular, constituiu um dos campos mais densos e internacionalmente reconhecidos da historiografia brasileira. Diversos nomes mencionados — como Fernando Novais, Manolo Florentino, João José Reis e Rafael Bivar Marques — produziram interpretações centrais sobre o regime escravista, sua lógica econômica, suas formas sociais e as experiências dos sujeitos escravizados. A esse grupo, somam-se outros importantes intelectuais como Jacob Gorender, Luiz Felipe de Alencastro, Francisco Vidal Luna, Sidney Chalhoub, Robert Slenes e Flávio Gomes, cujos trabalhos oferecem abordagens teórico-metodológicas inovadoras e ampliam a compreensão sobre a escravidão para além da economia, incluindo cultura, resistência, agência e cotidiano. Essas contribuições permitiram uma reconstrução crítica do passado escravista como elemento estruturante da sociedade brasileira, mostrando suas continuidades e desdobramentos no presente.
No entanto, é crucial ressaltar que a centralidade desses nomes masculinos — quase todos brancos — reflete também as desigualdades de acesso e reconhecimento na academia. Ainda que menos citadas nos cânones, diversas historiadoras tiveram papel decisivo nos estudos sobre a escravidão e outros temas estruturantes da história brasileira. Destacam-se aqui Emília Viotti da Costa, Alice Canabrava, Kátia Mattoso, Suely Robles Reis de Queiroz, Maria Odila Leite da Silva Dias, Silvia Lara, Vera Ferlini, Junia Furtado, Maria Helena P.T. Machado, Hebe Mattos, Lucilene Reginaldo, Keila Grinberg entre outras, que, com distintas abordagens e perguntas, deslocaram o foco interpretativo da historiografia para dar centralidade à experiência das mulheres, dos africanos e afrodescendentes, das práticas culturais e das formas de resistência.
Desse modo, é fundamental pontuar que os chamados clássicos da historiografia brasileira trouxeram contribuições decisivas para a formação e expansão dos estudos sobre a escravidão e, em certa medida, sobre as questões raciais no Brasil. Ainda assim, é importante reconhecer que essas interpretações, por mais relevantes que sejam, foram em grande parte produzidas por intelectuais brancos, homens, ocupando posições de prestígio em um país cuja estrutura racial historicamente bloqueia o acesso de pessoas negras aos espaços de poder e à produção científica. Neste sentido, a inclusão de historiadores e historiadoras negras como Flávio Gomes, Lucilene Reginaldo, Álvaro Nascimento, Wlamyra Albuquerque, Walter Fraga, Petrônio Domingues é fundamental para construir uma historiografia mais representativa, crítica e conectada com as questões do presente.
Esse quadro de exclusão não é casual. O Brasil é um país que, ao longo de sua história, pactuou continuamente pela manutenção do racismo estrutural — e uma de suas expressões mais sofisticadas e persistentes foi (e ainda é) o dificultado acesso de negros e negras ao ensino superior. Esse filtro histórico, operado pelo racismo institucional, impediu por muito tempo a formação de uma intelectualidade negra em número suficiente para disputar os cânones. É justamente nesse sentido que as políticas afirmativas, como as cotas sociais e raciais nas universidades públicas, representam uma virada histórica: elas não apenas possibilitam a democratização do ensino, mas também tensionam as epistemologias dominantes, abrindo espaço para que outras experiências, leituras e narrativas ganhem centralidade no debate historiográfico.
Ao mesmo tempo, é essencial afirmar que já existem intelectuais negros fundamentais para pensar a história do Brasil — mas que foram, durante muito tempo, sistematicamente silenciados ou marginalizados. Nomes como Clóvis Moura e Beatriz Nascimento produziram interpretações densas, críticas e radicalmente inovadoras sobre o passado escravista e suas permanências. Clóvis Moura, por exemplo, teorizou o quilombo como forma de luta de classes racializada, antecipando debates que hoje ganham força. Já Beatriz Nascimento articulou os estudos sobre identidade negra, memória e espaço com uma leitura política afiada, propondo que os quilombos eram também territórios de produção de novas epistemologias negras. O resgate dessas vozes, promovido por intelectuais negros contemporâneos, exige não apenas uma revisão do cânone historiográfico, mas uma articulação mais sofisticada entre universidade e movimentos sociais, entre produção de conhecimento e prática política. Mas também temos os trabalhos de Joel Rufino dos Santos, autor pouco trabalhado pelo pensamento social brasileiro.
Por fim, é fundamental destacar que, na minha geração, há historiadores e historiadoras negros/as de grande relevo que vêm consolidando uma produção historiográfica potente e profundamente comprometida com a crítica ao racismo estrutural e à reinterpretação do passado brasileiro. Nomes como Iacy Maia, Luciana Brito, Juliana Barreto Farias, Amílcar Pereira, Jonis Freire, Robério Souza e Fernanda Oliveira, entre outros/as, não apenas têm produzido pesquisas fundamentais sobre a escravidão, o pós-abolição e as relações raciais no Brasil, como também estão na linha de frente da formação de novas gerações de historiadores e historiadoras. O que nos une, além do rigor acadêmico, é a centralidade da questão racial como chave analítica — seja na construção de novas narrativas históricas, seja na ação institucional dentro das universidades. Nossas trajetórias confirmam que a historiografia brasileira está passando por um processo de renovação epistemológica e política, cada vez mais atento às ausências construídas pelo cânone, às vozes silenciadas e à urgência de um conhecimento historicamente situado, engajado e plural.
8) Boletim Lua Nova-Cedec
Como a historiografia e as pesquisas recentes na história, como a sua por exemplo, podem contribuir para reconstruir um movimento negro radical, quiçá revolucionário?
Ynaê: A historiografia brasileira tem passado, nas últimas duas décadas, por um processo de renovação profunda, impulsionado tanto por mudanças institucionais quanto por dinâmicas sociais mais amplas. Um dos marcos mais significativos desse processo foi a implementação das cotas sociais e raciais nas universidades públicas — uma conquista histórica do movimento negro que teve como resultado a ampliação do acesso ao ensino superior por jovens negras e negros de diferentes regiões do país. Esse novo cenário produziu impactos profundos: não apenas aumentou a diversidade racial nas salas de aula, mas também provocou um choque epistêmico nas estruturas de ensino e pesquisa, historicamente organizadas a partir de uma lógica eurocentrada, branca e elitista. Muitas universidades, até então habituadas a um público majoritariamente branco e de classe média, resistiram inicialmente a essa transformação, evidenciando sua falta de preparo (e por vezes, de vontade) para lidar com os novos sujeitos que agora passavam a ocupar esses espaços.
Foi justamente esse tensionamento que deu início a um ciclo transformador. A presença de estudantes negros e negras tem desestabilizado os cânones acadêmicos, exigindo não apenas mais inclusão, mas uma reavaliação crítica do próprio modo como o conhecimento é produzido, transmitido e validado. No campo da história, essa mudança se expressa de maneira muito concreta: surgiram novas perguntas sobre o passado, voltadas para sujeitos, experiências e memórias até então silenciadas. Ao perceberem a ausência de personagens negros nos currículos, nas bibliografias e nos arquivos, esses estudantes começaram a questionar não só o que se ensinava, mas os próprios critérios de seleção do que é considerado relevante para a história nacional. Esse movimento tem ampliado o escopo da pesquisa histórica, deslocando o foco das grandes figuras políticas e econômicas para as experiências cotidianas, as resistências culturais, os afetos, as redes de solidariedade e os modos de existência de populações negras ao longo do tempo.
Ao tomar o silêncio como objeto de análise e como evidência de uma estrutura de poder que regula o acesso à memória, as pesquisas negras na história não apenas denunciam a exclusão, mas propõem alternativas metodológicas e interpretativas. O acesso a outros arquivos — sejam eles orais, visuais, comunitários, familiares ou simbólicos — amplia as possibilidades da escrita histórica, permitindo leituras mais densas e plurais da experiência brasileira. Essas iniciativas não se restringem à mera adição de “novos personagens” ao enredo nacional; elas tensionam as próprias categorias de análise utilizadas na historiografia tradicional e propõem uma escuta mais atenta às vozes historicamente marginalizadas. Nesse sentido, a produção historiográfica negra contemporânea contribui para a construção de um conhecimento mais comprometido com a justiça histórica, capaz de dar conta da complexidade e da diversidade que marcaram — e ainda marcam — a formação social brasileira.
Dessa forma, é possível lidar com uma dimensão radical das mudanças advindas das cotas raciais. No entanto, para que tenhamos um cenário revolucionário é fundamental que haja uma crítica sistêmica ao modelo capitalista, crítica essa que seja feita paralelamente à percepção que o racismo é uma das estruturas que sustentam o capitalismo. Pesquisas de historiadores negros flertam com essa perspectiva, mas considero que a transformação mais profunda ainda esteja longe de nós, infelizmente. Isso porque essa mesma geração que pode usufruir e ser catalizador das cotas e do poder transformador do ensino público e de qualidade está imersa no que me parece ser o maior e mais nefasto lado das redes sociais: o narcisismo agudizado, a dificuldade de concentração e de capacidade crítica, a produção massiva de fakenews, questões graves e cada vez mais frequentes de saúde mental… tudo isso é alimento para o capitalismo e nos deixa mais distante de uma mudança radical possível e necessária.
Como pode ver, não tenho uma resposta fechada, mas uma preocupação aguda com as novas gerações em meio à urgência de não só pensar, como propor novas formas de estar no mundo. Sem sombra de dúvidas que uma história que tenha o debate racial no seu cerne é algo incontornável, para pensar a vida da população negra, indígena e branca. Mas não podemos nos esquecer das artimanhas do racismo e do capitalismo com o intuito de dificultar que essa proposição de fato aconteça. Porque a radicalidade e a revolução que eu almejo, só serão possíveis com o fim do capitalismo e do racismo. E para tanto é fundamental uma juventude saudável, alegre, atenta e forte.
9) Boletim Lua Nova-Cedec
A propósito, qual sua posição como historiadora sobre o movimento negro atual, sobre tudo em perspectiva histórica? Acredita que ele necessita se refundar, se reconstruir?
Ynaê: Como historiadora, compreendo que não há um único movimento negro, mas movimentos negros — múltiplos em suas formas, tempos, pautas e linguagens. Retomando a importante reflexão do meu colega e amigo Amilcar Pereira, é fundamental reconhecer que esses movimentos possuem temporalidades distintas e estratégias diversas, ainda que compartilhem um horizonte comum: a construção de um país em que ser negro deixe de representar um estigma, um marcador de exclusão ou um sinônimo do que não se deseja ser. Esses movimentos, com suas especificidades e divergências, seguem sendo espaços de elaboração política, intelectual e afetiva, dos quais podemos e devemos aprender muito, como nos lembra Nilma Lino Gomes ao enfatizar o caráter pedagógico das experiências negras na luta por justiça e dignidade.
Por outro lado, justamente por ser historiadora, entendo que os movimentos negros não são homogêneos nem lineares, mas dinâmicos — sujeitos às tensões, contradições e reinvenções próprias de qualquer processo histórico. No presente, assistimos a uma pluralização das formas de ação e organização do movimento negro, que se expressa nas ruas, nas universidades, nas redes sociais, nas artes e nas instituições, o que considero um sinal positivo: um reflexo da complexidade de ser negro no Brasil contemporâneo e das múltiplas possibilidades de pensar e praticar a luta antirracista. No meu caso, por formação e trajetória pessoal, essa discussão é também existencial. Filha de um militante histórico do movimento negro, Luiz Carlos dos Santos, aprendi desde cedo que ser negra é uma posição política. Assim, me identifico e me alinho com os movimentos e sujeitos negros que sustentam uma crítica radical à sociedade brasileira, uma crítica que, a meu ver, só se realiza plenamente quando fundada na intersecção entre raça, gênero e classe — eixo indispensável para compreender e transformar as estruturas persistentes do racismo e da desigualdade.
Não considero que a questão atual passe por uma refundação do movimento negro. O que se impõe, antes, é o fortalecimento de uma consciência histórica entre as novas gerações — a compreensão dos “passos que vieram antes”, como nos lembra Jurema Werneck. Ao mesmo tempo, acredito ser fundamental a existência de um movimento negro crítico e propositivo, capaz de disputar os sentidos de Brasil na contemporaneidade e de afirmar novos horizontes de justiça, cidadania e humanidade.
10) Boletim Lua Nova-Cedec
O que falta ainda enquanto agenda de pesquisa ser investigado acerca das questões raciais? Falta, por exemplo, estudos sobre as formas de inserção social dos pardos? Sobre esse tema ainda, como avalia o ensino de história atualmente?
Ynaê: Compreendo as questões raciais como uma lente epistemológica fundamental, através da qual devemos observar, interpretar e reconstruir o mundo. Essa perspectiva implica deslocar a ideia de que o tema racial é um campo autônomo ou periférico, propondo, ao contrário, que ele se torne estruturante das agendas de pesquisa em múltiplas áreas do conhecimento — das ciências humanas às ciências exatas, das políticas públicas à formulação de narrativas culturais e educacionais. Ainda há, contudo, vastos territórios a serem investigados. Entre eles, destaco a necessidade de aprofundar os estudos sobre as formas de inserção social e política das pessoas pardas, cuja categoria, historicamente ambígua, foi mobilizada tanto como instrumento de apagamento das desigualdades raciais quanto como expressão das complexas dinâmicas de mestiçagem e hierarquização social no Brasil. Entender como esse grupo foi construído, negociado e naturalizado nas práticas estatais, acadêmicas e cotidianas é essencial para uma leitura mais sofisticada das continuidades e transformações do racismo brasileiro.
No que concerne ao ensino de História, reconheço avanços relevantes desde a promulgação da Lei 10.639/2003, que introduziu a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, mas ainda enfrentamos desafios epistemológicos e pedagógicos significativos. O principal deles talvez resida na necessidade de revisitar criticamente o modo como a narrativa nacional se constituiu, sobretudo no que tange ao conceito de mestiçagem. Durante boa parte do século XX, a mestiçagem foi erigida como mito fundante da identidade brasileira, investida de um caráter pacificador que mascarou violências, silenciamentos e desigualdades estruturais. Superar essa herança implica compreender a mestiçagem não como sinônimo de conciliação, mas como um campo de tensões, onde se articulam processos de exclusão, resistência e reinvenção de identidades. Somente um ensino de História comprometido com essa complexidade — e capaz de articular crítica historiográfica, sensibilidade política e diálogo com os saberes produzidos pelos sujeitos negros — poderá contribuir para a formação de uma consciência histórica verdadeiramente plural e antirracista.
11) Boletim Lua Nova-Cedec
Quais é sua próxima agenda de pesquisa e/ou seus atuais interesses de estudo?
Ynaê: Atualmente, tenho desenvolvido uma série de frentes de pesquisa que se articulam em torno de um mesmo eixo central: compreender os legados da escravidão, do racismo e da produção de conhecimento sobre as populações negras nas Américas e no Atlântico. A primeira delas é um estudo comparado sobre intelectuais negros do Brasil, Cuba, Haiti e Estados Unidos, muitos dos quais nasceram durante a vigência da escravidão em seus países. Meu interesse é investigar como esses homens — entre eles, figuras como Juan Gualberto Gomes, Lino Dou, W.E.B Du Bois, Anténor Firmin, Manoel Querino e Juliano Moreira — pensaram o passado escravista de suas sociedades e se posicionaram frente ao racismo científico e às teorias de degenerescência racial que marcaram o pensamento ocidental no século XIX. O objetivo é entender como, a partir de contextos distintos, esses intelectuais criaram chaves próprias de interpretação sobre a escravidão em seus respectivos países, e também se e como eles lidaram com o conceito de degenerescência racial amplamente difundido pelo racismo científico.
Outra frente de trabalho que venho desenvolvendo tem como foco o Brasil e parte da recuperação da trajetória de Juliano Moreira, um dos mais importantes médicos psiquiatras do início do século XX, reforçando seu lugar como intelectual negro brasileiro. Meu objetivo é construir uma biografia mais densa e complexa desse intelectual negro, com atenção especial à sua infância e juventude na Bahia – período pouco conhecido da sua vida. A partir de Juliano Moreira, também busco refletir sobre a intersecção entre raça e loucura no Brasil da Primeira República, quando as teorias raciais influenciavam diretamente as práticas médicas e jurídicas. Essa pesquisa procura mostrar como Moreira, ainda que inserido num campo profundamente marcado pelo racismo científico, construiu brechas e tensionamentos que ajudam a repensar as fronteiras entre ciência, preconceito e humanidade.
Além dessas duas linhas, participo de um projeto coletivo com colegas da PUC-Rio, da UFBA e da Universidade Federal do Paraná, que investiga o acervo Nosso Sagrado, atualmente alocado no Museu da República. O objetivo é compreender a formação desse acervo — composto por objetos sagrados das religiões de matriz africana — a partir das ações repressivas da polícia e das políticas de criminalização das práticas afro-brasileiras no século XX. Essa investigação busca reposicionar o acervo não apenas como testemunho da violência do Estado, mas também como símbolo de resistência e de preservação da memória religiosa e cultural negra. Por fim, integro um projeto internacional coordenado pela Universidade de Bristol, que discute as formas de reparação histórica à escravidão de maneira comparada entre Brasil, Gana, Dominica e Reino Unido. Essa pesquisa pretende articular diferentes experiências de reparação, não apenas em termos econômicos e institucionais, mas também simbólicos, culturais e comunitários — ampliando o debate sobre o que significa reparar, lembrar e reimaginar o passado escravista no século XXI.
Como bem disse Millôr Fernandes: eu tenho um longo passado pela frente.
A equipe do Boletim Lua Nova agradece Ynaê Pela entrevista!
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
- Professor no Departamento de Ciência Política da UFRJ, Pesquisador do Cedec, do GPDET-UFRJ/CNPq e Coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Estudos em Política e Pensamento Crítico-UFRJ.
↩︎