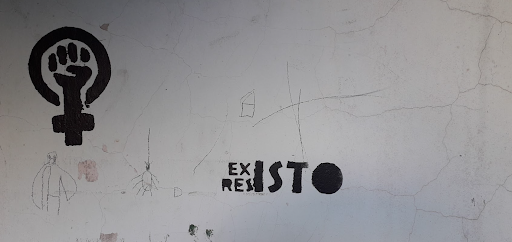Cristina C. Pacheco1
12 de novembro de 2025
***
Esta Série Especial do Boletim Lua Nova reúne, ao longo dos próximos meses, reflexões produzidas pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Política Externa (GEPEX), da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), coordenado por Cristina Pacheco. Criado em 2009, o GEPEX dedica-se à formação e à pesquisa em Relações Internacionais, com ênfase, desde 2020, no campo das Potências Médias e nas articulações entre economia, diplomacia e segurança na formulação de estratégias nacionais
***
Famoso nas linhas traçadas por “X”, pseudônimo de George F. Kennan, em artigo publicado na revista Foreign Affairs, de 1947, que apresentou a “contenção”, a mais bem sucedida grande estratégia adotada, no caso, pelos EUA contra a URSS, o conceito de Grande Estratégia (GE) é uma categoria tradicionalmente aplicada às Grandes Potências (Kennedy, 1991; Posen, Ross, 1997; Taliaferro et all, 2013; Brands, 2014; Martel, 2015; Milevski, 2016; Silove, 2017; Gaddis, 2018; Lissner, 2018). A razão para não se considerar que potências menores desenvolvem grande estratégia inclui a falta de condições de implementar seus objetivos de longo prazo, a dependência destes países na segurança fornecida pelas grandes potências e a natureza das alianças estabelecidas entre ambas.
Embora o campo ainda careça de um consenso sobre o que significa Grande Estratégia, seu significado ultrapassou os limites militares para além do cenário de guerra, ao incorporar, ao longo do século XX, as dimensões econômica e político-diplomática. Em Liddel Hart (1997, p. 322), em 1951, a GE tinha como objetivo coordenar e dirigir todos os recursos de uma nação ou um conjunto de nações, visando atingir um objetivo político da guerra. Ou seja, ainda se encontrava atrelado à noção de guerra. Mas foi Kennedy (1991) quem ultrapassou esse significado, examinando a mobilização de recursos estatais nos eixos econômico, político-diplomático e de segurança, em vários momentos icônicos da história das relações internacionais.
Mais recentemente, Brands (2014), Martel (2014) e Gaddis (2018) contribuíram para a conceituação teórica de Grande Estratégica. No historiador estadunidense, a GE é definida como uma “arquitetura intelectual que dá forma e estrutura à política externa” ou ainda “um conjunto de ideias elaboradas e coerentes sobre o que uma nação procura realizar no mundo e como deve proceder para executá-las.” (Brands, 2014, p. 03). Em Martel, por sua vez, consiste em “uma declaração coerente dos objetivos políticos mais altos do Estado, a serem perseguidos globalmente a longo prazo. Tem como função priorizar diferentes opções de política interna e externa e coordenar, equilibrar e integrar todos os tipos de instrumentos nacionais – incluindo o poder diplomático, econômico, tecnológico e militar – para alcançar seus objetivos vitais.” (Martel, 2015, p. 33). E por último, Gaddis a enquadra como “o alinhamento de aspirações potencialmente ilimitadas com capacidades necessariamente limitadas. Se você busca fins além de seus meios, mais cedo ou mais tarde terá que reduzir seus fins para ajustá-los aos seus meios. A expansão dos meios pode atingir mais fins, mas não todos, porque os fins podem ser infinitos e os meios nunca o podem ser.” (Gaddis, 2018, p. 16). Seja ela uma arquitetura intelectual, um conjunto de ideias, uma declaração coerente ou as aspirações ilimitadas de um Estado limitado, os teóricos mencionados compartilham entre si o fato de que sua aplicabilidade se destina apenas às Grandes Potências.
Contudo, com a ascensão de potências médias no cenário internacional com o fim da Guerra Fria, surgiram estudos voltados para o modo como tais países conduzem sua grande estratégia (Holbraad, 1984; Jordaan, 2003, Kassab, 2018; De Swieland et all, 2019). Compartilham a premissa de que as Potências Médias elaboram e desenvolvem grande estratégia de maneira distinta das Grandes Potências. Ainda que possuam, no seu entorno regional, o principal recorde de projeção de poder, no nível internacional sua capacidade de influência tem impacto sistêmico reduzido, o que torna essencial para tais países o uso de coalizões regionais.
E é neste campo que se inserem os estudos desenvolvidos pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Política Externa (GEPEX), da UEPB. Criado em 2009 e coordenado por esta que vos escreve, o Grupo tem voltado seus estudos na graduação e na pós-graduação, desde 2020, para o campo das Potências Médias. Turquia, Coreia do Sul e Brasil têm sido objeto de análise dos estudos desenvolvidos nos últimos anos pelos componentes do grupo, visando contribuir para os debates que se voltam para essa área.
Neste Especial, os pesquisadores do GEPEX/UEPB apresentam as investigações realizadas nestes últimos dois anos, num esforço para agregar ao debate algumas reflexões sobre o tema a partir de duas dimensões, complementares entre si: teóricas e de estudo de caso que, neste momento, encontra-se voltado apenas para o Brasil. Turquia e Coreia do Sul são dois working in progress, sem resultados a serem destacados ainda.
No campo teórico, Sara Aveiro e Ana Maria de Assunção Barros procuram compreender como a literatura acadêmica define os conceitos de potências emergentes (emerging powers), potências em ascensão (rising powers), potências regionais (regional powers e potências médias (middle powers) e quais as principais características que a desenham dentro do sistema internacional.
Os casos estudados voltam-se principalmente para o Brasil. Tendo o Brasil como ponto de partida, Letícia Montenegro volta-se para avaliar o período da ditadura militar, mais especificamente os governos Médici e Geisel (1969–1979), quando a formulação da Grande Estratégia Brasileira encontrava-se escrita no projeto “Brasil Potência”, documento produzido no período e que articulou as políticas econômica, externa e de defesa. A análise evidenciou os avanços estratégicos e as contradições estruturais que marcaram o auge do esforço estatal de planejamento de longo prazo no regime militar. Vívian Campos também pesquisa os Planos Nacionais de desenvolvimento dos governos Médici e Geisel. Contudo, o objetivo de sua dissertação consiste em relacionar os objetivos definidos nesses planos e as ações do Brasil na Operação Condor, ambos centrados no binômio Segurança e Desenvolvimento cunhado pela Escola Superior de Guerra (ESG) no contexto da Doutrina de Segurança Nacional das Ditaduras Militares do Cone Sul.
Outro importante momento que tem sido foco de estudo é o Governo Lula (2003-2010), em relação ao qual dedicam-se dois dos trabalhos desenvolvidos no grupo. Nicole Enes se debruçou sobre o conceito de Entorno Estratégico cunhado pelo Brasil durante o período, para analisar a importância que essa categoria tem na fundamentação dos objetivos e ações da Grande Estratégia brasileira durante o referido recorte histórico. Atualmente, sua pesquisa tem na relação entre Brasil e os países africanos componentes do Entorno Estratégico seu objeto de estudo. E Nayra Cecília Beserra dos Santos, por sua vez, dedica-se à pesquisa acerca da instrumentalização do desenvolvimento econômico na política econômica doméstica e na política externa brasileira, e como esta intersecção contribui para a formulação da Grande Estratégia do país.
No único trabalho voltado para uma grande potência, Sara Kellen procura compreender a Grande Estratégia da China para o Brasil. Mais especificamente, sua pesquisa analisa como o conceito de poder, no caso chinês, traduzido na categoria “comprehensive national power” , influenciou as relações sino-brasileiras entre 2013 e 2024. Auxiliada por Silove, avalia a ascensão do Estado asiático, a partir de fatores como força militar, economia, território, recursos naturais, condições sociais e política externa, e o fortalecimento dos laços com o Brasil, com foco na COSBAN.
Referências
BRANDS, H. (2014) What Good is Grand Strategy? Power and Purpose in American Statecraft from Harry S. Truman to George W. Bush. Ithaca, NY: Cornell University Press.
DE SWIELANDE, T. S.; VANDAMME, D., WALTON, D.; WILKINS, T. (Eds.) (2019) Rethinking middle powers in the Asian century: new theories, new cases. New York, NY: Routledge.
GADDIS, J. L. (2018) On Grand Strategy. New York, NY: Penguin.
GLOSNY, M. A. (2012). The grand strategies of rising powers: Reassurance, coercion, and balancing responses. Tese de Doutorado. Boston, MA: Massachusetts Institute of Technology.
HOLBRAAD, C. (1984). Middle Powers in International Politics. London: Palgrave Macmillan.
JORDAAN, E. (2003). The concept of a middle power in international relations: distinguishing between emergent and traditional middle powers. Politikon, 30 (1): 165-181.
KASSAB, H. S. (2018) Grand strategies of weak states and great powers. New York, NY: Springer.
KENNEDY, P. (1991) Grand strategy in war and peace: Toward a broader definition. New Heaven, NY: Yale University Press.
LIDDELL HART, B. H. Strategy. New York, NY, Meridian Book. 1991, 2nd ed. rev.
LISSNER, R. F. (2018) What Is Grand Strategy? Sweeping a Conceptual Minefield. Texas National Security Review. 2 (1): 53-73.
MARTEL, W. C. (2015) Grand strategy in theory and practice: the need for an effective American foreign policy. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
MILEVSKI, L. (2016) The Evolution of Modern Grand Strategic Thought. Oxford: Oxford University Press.
POSEN, B.; ROSS, D. (1997) Competing vision for US grand strategy. International Security, 21 (3): 05-53.
SILOVE, N. (2017). Beyond the Buzzword: Three meanings of Grand Strategy. Security Studies, 27 (1): 27-57.
TALIAFERRO, J. W.; RIPSMAN, N. M.; LOBELL, S. E. (Eds). (2013) The challenge of Grand Strategy. The Great Powers and the Broken Balance between the World Wars. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
- Professora Associada de Relações Internacionais na UEPB, Coordenadora do GEPEX e do MettrIca – Laboratório de Aprendizagem Ativa, ambos na UEPB. Coordena o Núcleo Nordeste do INCT-INEU. Coordenadora Adjunta da AT de Ensino, Pesquisa e Extensão da ABRI (2025-2026). ↩︎