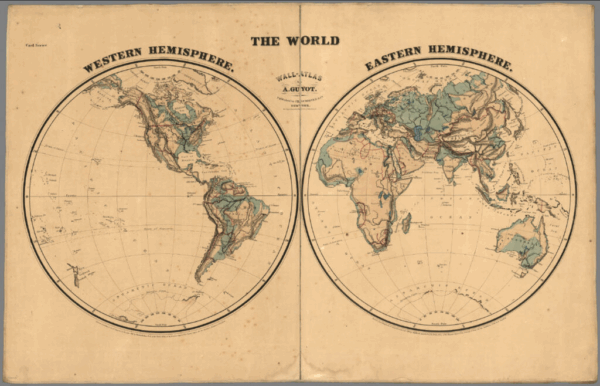J.A. Lindgren-Alves[1]
A operação da polícia civil do Rio de Janeiro em 6 de maio, na comunidade do Jacarezinho, que resultou em 29 mortos, inclusive um agente seu e uma menina de nove anos, traz à memória as chacinas de 1993, da Candelária, que matou oito crianças e adolescentes “de rua”, e de Vigário Geral, que dizimou 21 habitantes. Da mesma forma que os massacres alhures, como o do presídio do Carandiru, de São Paulo, em 1992, todos produziram reações automáticas de repúdio, no Brasil e no exterior, como o do Jacarezinho vem provocando agora.
Ocorridos numa época já posterior ao regime militar, em que as vítimas não eram mais “subversivos” de classe média, os incidentes policiais sangrentos dos anos 90 refletiam e acirravam a visão popular de que direitos humanos não passam de “direitos de bandidos”, a serem ignorados. Essa mesma distorção perdura em formulações como a da proteção dos “humanos direitos”, ou, mais comum, da “gente de bem”, qualificativo louvaminheiro dos falsos moralistas membros de famílias cristãs, sem consciência social, que se tornaram esteios da Extrema Direita.
Por menos que eu pretenda respaldar aqui as análises que atribuem objetivos efetivamente golpistas à operação no Jacarezinho, planejada e executada em desafio à suspensão pelo STF de ações policiais de combate ao tráfico de drogas na pandemia, ela abarcou as distorções referidas. Há, porém, outros elementos que a tornam ainda mais problemática no cenário presente. Começando por se inserir numa série de assassinatos, inclusive de crianças, em ações nunca esclarecidas, dando azo à ideia de uma “limpeza social”. Ao que se acresce a decisão policial de ocultar por cinco anos os dados de investigação determinada pelo Ministério Público estadual – decisão que, acredito, dificilmente se manterá.
As Chacinas dos Anos 90
Ao mencionar os massacres de 1993 em seu livro magnífico sobre o papel da diplomacia na história do Brasil, Rubens Ricupero recorda que o governante constitucional do período, o Presidente Itamar Franco, de vocação nacionalista, irritado com as críticas de fora, chegou a cogitar destituir das respectivas funções os embaixadores lotados em postos importantes, por não protegerem a “imagem do país”. Felizmente, vozes racionais a sua volta conseguiram dissuadi-lo do intento.[2]
Eu próprio, que não era embaixador, então chefe da Divisão das Nações Unidas do Itamaraty, em Brasília, lembro haver comentado com colegas que o governo havia encontrado uma solução peculiar para problemas nacionais: retirar embaixadores lá fora. Um pouco como o que se pretendeu, em 2019, sobre o aumento de queimadas na Amazônia, demitindo o diretor do INPE. Tendo participado das reuniões de órgãos de direitos humanos da ONU, havia podido verificar o constrangimento a que se expunham representantes de quaisquer países que tentassem encobrir o óbvio: as execuções sumárias, detenções arbitrárias e outros abusos que todos no exterior conheciam, antes mesmo das tecnologias de informação instantânea. Eram as agências de notícias que difundiam os fatos jornalísticos, as mesmas que haviam mostrado ao mundo o massacre de Tiananmen, em Pequim, em 1989, e as “limpezas étnicas” em repúblicas da ex-Iugoslávia, iniciadas em 1992.
A situação em 1993 era particularmente delicada para o Brasil democrático, que acabava de desempenhar papel crucial na Conferência de Viena sobre direitos humanos, presidindo o comitê de redação dos documentos. E foi a Declaração e Programa de Ação de Viena que legitimou, por consenso, a preocupação internacional com violações de direitos nas jurisdições nacionais, incentivando o monitoramento externo, sem que isso fosse encarado como ingerência nas soberanias.
Nessas condições, sem arroubos de indignação, ou alegações abstrusas, como a de que outros países também haviam cometido extermínios, as providências federais e estaduais para investigação dos casos conseguiram convencer que o Estado brasileiro tinha intenções positivas. Que o Brasil redemocratizado enfrentava dificuldades, mas procurava, com falhas, observar o Direito Internacional. Para tanto contribuiu o diálogo com as ONGs, atores já muito influentes, cujos objetivos, afinal, eram os mesmos.
Não é isso que se esboça hoje no caso do Jacarezinho.
As interpretações atuais da tragédia
No dia 9 de maio, três dias depois do massacre, o Presidente da República postou a seguinte mensagem sobre o assunto em rede social:
“Ao tratar como vítimas traficantes que roubam, matam e destroem famílias, a mídia e a esquerda os igualam ao cidadão comum, honesto, que respeita as leis e o próximo. É uma grave ofensa ao povo que há muito é refém da criminalidade. Parabéns à Polícia Civil do Rio de Janeiro!”
Vale a pena examinar um pouco esse tuíte. Mais do que a seguidores presidenciais convictos, ele se dirige a toda uma população assolada pela violência, que se reconhece “comum e honesta, respeitadora das leis e do próximo”. Não surpreende que a maioria das reações ao episódio possa ter sido como a do vice-presidente, quando indagado de supetão, no mesmo dia do episódio: “Tudo bandido”.[3] Ele próprio mais tarde reconheceria não dispor de informações sobre todas as vítimas, afinando-se melhor no tom da maioria carioca. Esta não parte do princípio de que os favelados sejam “bandidos”. Sabe, contudo, como moradores das comunidades, que a vizinhança em geral abriga pontos do tráfico e facções armadas, a exigirem ações estatais decisivas. Mas os moradores sabem também, mais do que ninguém, que as operações de “guerra ao tráfico” sozinhas, além de extravasarem os traficantes, carecem de efeito para a contenção do crime.
“Refém da criminalidade” tem sido toda a população brasileira, começando pelos habitantes de zonas de anomia, desprovidos da presença provedora do Estado. Iniciativas conceitualmente positivas como a das UPPs, que deviam ser seguidas com ações de educação, saúde, saneamento etc., se desvirtuam em presença policialesca abusiva. Frequentemente em competição com grupos “milicianos”, tal presença não proporciona segurança. Deixadas fora do texto, na mesma criminalidade dominante se enquadram as “milícias”, exploradoras dos habitantes pela força.
Ressalta na mensagem do presidente, com intuito ainda mais ominoso, o caráter antidemocrático da associação discursiva “da mídia e da esquerda” com traficantes “que roubam, matam e destroem famílias”. Tal alusão gravíssima, nunca comprovada, apavorante para a “gente de bem” que acredita em fantasmas, faz parte da estratégia cultivadora de estultos lobotomizados que reinventa o “comunismo” como ameaça de Satanás, drogadito, lascivo e pedófilo, eternamente disposto a instalar o Mal no poder terráqueo. Mais ou menos como acreditam os numerosos norte-americanos seguidores do QAnon.
Do rol de deturpações num texto tão curto nada se salva. Ressalvo a parte de mensagem seguinte, em que o capitão-presidente, ao louvar o êxito da operação, exprime condolências à família do policial vitimado. A perda de qualquer vida humana é, certamente, lamentável. Faço a ressalva, porém, não sem registrar o contraste da atenção com uma baixa fatal em operação profissional arriscada e a negligência renitente com as outras 420 mil mortes de brasileiros então registradas pela pandemia – hoje são muitas mais. Sem falar na falta de condolências aos parentes da criança defunta.
Ao acabar de escrever o parágrafo acima, leio que nota postada pelo Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, no dia 7 de maio, lamentando as mortes no Jacarezinho, foi apagada por pressão de redes sociais governistas. Estas evidentemente insistiam que todos os mortos, exceto o policial, seriam traficantes, não “vítimas”. À retirada da nota aduz-se uma explicação de funcionária reiterando o “conservadorismo” da Pasta, para reafirmar, em paráfrase expletiva, que “a mídia de esquerda tem sido o câncer desta nação”.[4] Se isso é dito pelo ministério gerido por uma pastora, o que se pode esperar como reação às críticas do exterior?
Não foram somente a imprensa e as ONGs que se pronunciaram imediatamente, manifestando repulsa e cobrando investigação adequada. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), por seus porta-vozes competentes, também expressaram consternação no dia 6 de maio. No dia seguinte, a brasileira “Conectas” noticiava o envio, por várias entidades, de comunicação e informe detalhado à Alta Comissária Michelle Bachelet, a dois Relatores Especiais da ONU, sobre execuções sumárias e sobre as formas contemporâneas de racismo, ao Presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, à Relatora da CIDH sobre direitos das pessoas afrodescendentes, instando-os a pronunciar-se. O informe dessas entidades contextualiza o caso em descrição pormenorizada, com cifras, da violência policial no Rio de Janeiro e no Brasil. Utiliza, inclusive, a interpretação afro-militante de que estaria em curso, no Brasil, há anos, um “genocídio” da população negra, envolvendo a morte de crianças.[5]
Para a atuação junto a esses e outros organismos internacionais os diplomatas necessitarão contar com elementos precisos das investigações, para a defesa do país, não de sua “imagem”.
As dificuldades do novo chanceler
No primeiro ano do atual governo, quando o presidente anunciava sua intenção de nomear um de seus filhos embaixador em Washington, alguns detentores de função ministerial – lembro-me claramente de dois – chegaram a dizer, em apoio a tal indicação, que os diplomatas de carreira “não faziam nada mesmo para defender o Brasil”. Resultado de ignorância, despeito ou simples subserviência, essas declarações não decorriam sequer de um incidente específico. As preocupações do exterior eram com as políticas regressivas e tendências autoritárias do governante. Confundindo Estados com governos transitórios, os ministros críticos da carreira diplomática achavam, talvez, que um parente tão próximo pudesse ser eficiente para a aproximação do pai com o Presidente Trump. Pouco lhes importava que o escandaloso nepotismo violasse critérios da Constituição,[6] ou a impropriedade que tal nomeação acarretaria se houvesse alternância do mandatário americano – como de fato ocorreu. Felizmente, a ideia foi posta de lado. As declarações também. Mas elas refletem uma ideia capciosa da diplomacia, que reaparece episodicamente.
Mais do que uma profissão a exigir dedicação permanente, a carreira de diplomata, sobretudo no grau de embaixador, sempre foi símbolo de requinte, colocado em nomes de hotéis, restaurantes e clubes. Associada ao desconhecimento do assunto, a metonímia dos “punhos de renda” desconsidera estarem muitas embaixadas em lugares onde a simples sobrevivência é difícil; que os coquetéis, almoços e banquetes são meios do trabalho como em qualquer atividade política. Ignora as tarefas constitucionais da diplomacia,[7] transformando-a em defesa “da imagem” do país. Desconsidera o fato epistemológico de que a imagem é reflexo da realidade, sendo a realidade captada de maneiras diferentes por efeitos de ideologia e paralaxe do observador. O que não quer dizer que a verdade não exista.
Convocado para audiência pública na Câmara dos Deputados, em 19 de maio, em função das vacinas contra o coronavírus e de afirmações descabidas de um embaixador em Posto importante, o novo chanceler, Carlos França, cultor das melhores tradições do Itamaraty, ressaltou o diálogo como essencial à diplomacia. Fê-lo para marcar, sem menção ao predecessor, a abertura que pretende manter para o Congresso e com os deputados representantes do povo. Assinalou, além disso, sua visão da política exterior como “política pública”, conceito utilizado amplamente desde o fim da Guerra Fria, mas que já havia influído na Constituinte de 1988. Como bem sabe o novo chanceler, políticas públicas, por definição, exigem transparência, participação dos setores afetados e um mínimo de entendimento com as organizações da sociedade civil, as ONGs. Lamentavelmente, isso foi cancelado pelo governo atual.
Na área dos direitos humanos, como dos demais temas globais, diálogo era o que Brasil praticava antes com seus interlocutores, dentro e fora do país. Não se tratava de obter vitórias. Conforme explicita Celso Lafer com a acuidade habitual, o diplomata responsável não se confunde com o militante principista. As éticas que os orientam são diferentes, mas podem complementar-se.[8] O diplomata não se transmuta em pastor religioso, missionário ou clérigo. Seu diálogo busca posições reciprocamente úteis a serem desenvolvidas.
Da mesma forma que nos anos 90, negações radicais de verdades são inúteis, ridículas nesta fase de comunicações instantâneas. Explicações unilaterais para posições indefensáveis na ONU e outros foros, ou junto a governos estrangeiros, nunca convencem os ouvintes. O importante não é salvar “a imagem” do país. É auxiliar as melhores intenções domésticas, onde elas existam, com transmissão dos estímulos de fora. É convencer os interlocutores de que o Estado procura seriamente aprimorar o real. No período de transição dos anos 80, a experiência dialógica do Itamaraty com a sociedade civil teve início; nos 90 consolidou-se. Manteve-se, com alguns tropeços, até fins de 2018, prejudicada por resistências pontuais internas, pelo crescente maximalismo das identidades grupais, e por preocupações excessivas com a hipersensibilidade dos outros.
O Brasil de hoje é tristemente “pária” ambiental e virótico. Não chega ao isolamento na área dos direitos humanos porque se associa a governos retrógados e arbitrários, especialmente quando se abordam direitos da mulher. Ideal seria reverter os retrocessos, mas isso o novo chanceler sozinho não poderá fazer. Como ele próprio ressaltou na Comissão de Seguridade Social da Câmara, ele não é “chanceler de um novo governo” (sic). Conforme se pôde ver em seu primeiro mês, procura amenizar onde possa os danos infligidos por mais de dois anos de paranoia, vassalagem e delírios místicos de um colega anormal em quase todos os aspectos. Dificilmente terá meios de compensar, apenas com diplomacia, as obsessões facciosas dos que continuam no poder.
De Volta ao Jacarezinho
Não tenho percepção muito clara de como o chanceler Carlos França atuará na agenda internacional de direitos humanos. Ainda que pouco faça, será melhor que o antecessor. A abstenção brasileira e a explicação pela embaixadora atual, Maria Luiza Escorel, em 27 de maio, na resolução do Conselho criando uma comissão de inquérito sobre violações do direito humanitário em Israel e territórios palestinos “desde 13 de abril de 2021”, soaram-me mais deglutíveis de que as mudanças anteriores, de posições favoráveis para voto contra, em projetos correlatos.
Sobre o Jacarezinho, o Itamaraty terá que mandar esclarecimentos pertinentes. Se não enviar nada, a falta de orientação pode ser encarada como vigência das instruções kamikazes de não deixar qualquer crítica sem resposta “à altura”. São elas, associadas ao reacionarismo de agentes individualizados, que ainda justificariam a agressividade errônea de alguns chefes de Missão. Nenhum acosso por jornalistas, ONGs, mecanismos da ONU ou pares estrangeiros permite a integrantes de uma carreira de Estado atribuir a governos anteriores a responsabilidade por nossos problemas.
Personalismos à parte, é preciso que o Itamaraty de volta à diplomacia avalie o curso a seguir onde as condenações ao morticínio do Jacarezinho são legitimamente esperadas: as missões junto às Nações Unidas em Genebra e Nova York, à OEA em Washington, à UNESCO em Paris, à União Europeia, em Bruxelas. Os outros também precisam estar preparados para gestões, bilaterais, multilaterais e de ativistas não governamentais. Não tenho dúvidas de que, com o novo chanceler, a instituição procurará informar sobre as investigações, para cujo acompanhamento as ONGs importantes estão atentas.
Foi esperançoso ouvir da diretora da Anistia Internacional no Brasil um voto de confiança.[9] Não quero com isso dizer que endosso interpretações sempre negativas de ações da polícia. Nem creio que a Anistia Internacional as endosse. Já muito falei e escrevi contra posições de militantes identitários radicais, que criam falsos inimigos e acabam garantindo votos aos adversários reais.[10] Tampouco endosso a visão de um “genocídio de negros”. Tal crime abominável tem enquadramento difícil, e o emprego frequente dessa expressão mobilizadora pode também enfraquecê-la, se não for confirmada por Cortes. Não deixo de levar em conta, porém, que, segundo pesquisa da UFF, nos últimos 14 anos houve 456 operações policiais com mais de três mortos na área metropolitana do Rio de Janeiro.[11] Não sei se todas, mas a maioria esmagadora, em comunidades pobres, encaradas sempre com suspeita.
É importante ter em conta que protestos e cobranças de ativistas de direitos humanos são normais. Não podem ser descartadas como ofensas insertas em campanha maléfica, orquestrada por marxistas culturais. A história dos Século XX demonstrou que tais gritas salvam vidas. Para quem duvidar, recordo os dissidentes do extinto bloco comunista, os “subversivos” liberais patrícios sem canais de expressão, os habitantes de Sarajevo, sitiados e bombardeados por três anos, até que os clamores levaram as forças de paz da ONU a intervir ativamente. Recordo sobretudo a campanha contra o apartheid e pela libertação de Nelson Mandela.
Ameaçadores são os defensores anacrônicos de um passado sinistro. Participantes de carreatas, desfiles de moto com escolta policial gigantesca, concentrações sem máscaras contra a covid, sanitariamente arriscadas e negacionistas da pandemia, apropriam-se da bandeira e outros símbolos pátrios como torcida. Escandem palavras de ordem contra as instituições democráticas para mostrar devoção ao “mito”. Parecem complementar as observações do Chefe de Polícia do Rio contra a “judicialização da segurança”, como justificativa para “neutralização” de bandidos, ainda que os “neutralizados” possam ter sido inocentes.
Em Estados civilizados, que subscrevem a Declaração Universal de Direitos Humanos, “ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado” (Artigo 9°), muito menos fuzilados. Todos têm direito, em condições de igualdade, a serem ouvidos “por tribunal independente e imparcial” (Artigo 10), precisando os acusados ter a culpabilidade “provada de acordo com lei, em julgamento público”, com garantias de defesa (Artigo11). Não se trata de privilégios acordados apenas a “humanos direitos”.
Não atinam os promotores de golpes que adversários políticos não são satânicos; que o Brasil republicano é laico e heterogêneo, inclusive em religião, não podendo tornar-se fundamentalista em defesa da dogmas. A Nação brasileira quer democracia com segurança e justiça social, não massacres para “limpeza” de pessoas.
É a ideia de limpeza social que, na melhor das hipóteses, inspira a atuação agressiva da rotulada “gente de bem”, egocêntrica e preconceituosa, da Extrema Direita. É a auto atribuição de pureza moralista, dita conservadora e apenas legalmente igualitária, que facilita a indiferença com o humano dos Estados neoliberais, sem compromisso com o avanço da cidadania. Neles os marginalizados do mercado, no Brasil como nos Estados Unidos, ainda que desarmados, são vistos pela polícia, protetora exclusiva das camadas dominantes, como membros naturais, descartáveis, de uma perigosa e multicolorida “etnia”.
Notas
[1] Embaixador aposentado. Membro do Comitê Assessor do Conselho de Direitos Humanos nas Nações Unidas (Genebra) e do núcleo de direitos humanos do CEDEC.
[2] R.Ricupero, A diplomacia na construção do Brasil (1750-2016), Rio de Janeiro, Versal, 2017, pp 562-3.
[3] https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/05/4922934-mourao-sobre-mortes-em-operacao-no-jacarezinho-tudo-bandido.html
[4] https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/05/ministerio-de-damares-retira-do-ar-nota-em-que-lamentava-mortes-no-jacarezinho.shtml
[5] “Chacina na favela é denunciada à ONU, à CIDH e ao CNDH”, Notícias Conectas, abril 2121.
[6] Artigo 47, caput, e Súmula Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal.
[7] Artigos 3 e 4 da Constituição, especialmente inciso II para o caso desde texto.
[8] “Prefácio” a J.A. Lindgren-Alves, Os Direitos Humanos como Tema Global, S. Paulo, Perspectiva, 1994.
[9] Entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura, em 17/05/2021.
[10] Boa parte de meu livro “É Preciso Salvar os Direitos Humanos!” (São Paulo, Perspectiva, 2018) é dedicada a isso.
[11]https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/05/28/estudo-aponta-que-nos-ultimos-14-anos-rio-teve-465-operacoes-que-terminaram-com-3-ou-mais-mortos.ghtml