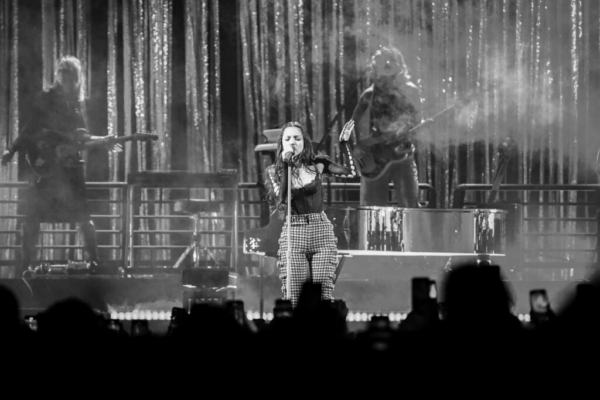João Fernando Finazzi[1]
Rodrigo Duque E. Campos[2]
06 de fevereiro de 2025
Este texto faz referência ao artigo publicado no European Journal of International Security intitulado “The pacification model in Port-au-Prince and Rio de Janeiro as a prefiguration of Bolsonarismo? Reflections on the far-right turn and the role of military-religious actors in security governance in Brazil” de Rodrigo D. E. Campos e João F. Finazzi.
Na última década, o Brasil testemunhou um intenso processo de ascensão da extrema-direita e de marcada politização dos militares, em nível que não era visto desde a ditadura civil-militar estabelecida em 1964. A adesão significativa de setores militares aos projetos da extrema-direita brasileira ficou ainda mais em evidência com a participação de lideranças militares no apoio e na cúpula do governo de Jair Bolsonaro entre 2019 e 2022 e com o envolvimento de figuras-chave do Exército, próximos ao ex-presidente, na tentativa de golpe de Estado de janeiro de 2023.
Para compreender este fenômeno, entramos em contato com uma crescente literatura que tem argumentado sobre como a atuação de militares em processos de intervenção e peacebuilding permitiram e aprofundaram o enfraquecimento da democracia nos países que contribuíram com tropas. Esta literatura estabelece um diálogo crítico principalmente com o que foi entendido como “hipótese da paz diversionária” (MOSKOS, WILLIAMS e SEGAL, 2000). De forma geral, esta hipótese inicial argumenta que a participação de militares em operações de paz poderia aperfeiçoar as relações civil-militares nos países contribuintes de forma sustentável, tendo como um dos seus principais resultados uma maior profissionalização dos militares e diminuição do risco de que possam se engajar em aventuras autoritárias que coloquem a democracia em risco. Por outro lado, uma literatura mais recente (SOTOMAYOR, 2010; SOTOMAYOR, 2014; CUNLIFFE, 2018; ADHIKARI, 2020; KENKEL, 2021; HARIG, 2023) tem chamado a atenção para o sentido inverso deste fenômeno. Ou seja, sobre como esta atuação dos militares transformou-se em fator de maior autonomia militar e deterioração da democracia, com o engajamento crescente de membros das Forças Armadas em projetos autoritários, repressivos e violentos.
Tendo isto em vista, nos questionamos sobre quais seriam as relações entre as principais atuações recentes das Forças Armadas e a ascensão do bolsonarismo, fenômeno cujas características passam pelo apoio entusiasta de lideranças militares da ativa e da reserva no projeto da extrema-direita manifestado pela atuação política de Bolsonaro. Para o trabalho, buscamos pontos em comum de nossas pesquisas que realizamos em nível de doutoramento e olhamos para as experiências acumuladas pelos militares em operações de pacificação das últimas duas décadas, tanto no exterior quanto no território nacional. A presença do Exército brasileiro na Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH), entre 2004 e 2017, e as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) no Rio de Janeiro, entre 2008 e 2014, foram marcos fundamentais nesse percurso. Esses episódios não apenas redefiniram a atuação militar recente no país, mas também serviram de base para a formação de um projeto político que culminaria com o governo de Jair Bolsonaro.
A mais recente militarização da política brasileira tem suas raízes em um processo que, curiosamente, iniciou-se durante governos progressistas. A experiência no Haiti foi um campo de testes para projetos de segurança pública, que combinavam ocupação territorial, repressão e uma retórica de pacificação das relações sociais. No Rio de Janeiro, as UPPs adotaram estratégias semelhantes, buscando impor a ordem em territórios marginalizados por meio da presença militar seguida de “ações cívico-sociais”, isto é, projetos sociais que objetivavam conquistar o coração e a mente das pessoas afetadas pela ocupação. Essas iniciativas criaram um ambiente propício para o fortalecimento de setores das Forças Armadas que, posteriormente, desempenharam papeis centrais na ascensão da extrema-direita no Brasil.
Outro fator crucial nesse processo foi a instrumentalização da religião como um elemento central na gestão da segurança. Durante as operações no Haiti e nas favelas cariocas, a presença de capelães militares e o envolvimento de lideranças evangélicas buscaram legitimar a ocupação militar como uma missão de redenção e ordem moral. Esse discurso encontrou ressonância em parte da sociedade brasileira e foi amplamente mobilizado por Bolsonaro, que buscou se apresentar como um defensor dos valores cristãos.
A experiência brasileira com as missões de pacificação tanto no Haiti quanto no Rio de Janeiro demonstrou que o modelo de segurança baseado na presença militarizada não apenas falhou em garantir estabilidade nos territórios ocupados, mas também serviu para fortalecer um paradigma político no país. O protagonismo de militares em funções civis, aliado à fusão entre segurança e moralismo religioso, criou as bases para a ascensão da extrema-direita e foi alimentado por ela.
Diante desse cenário, é necessário questionar as consequências de longo prazo dessas intervenções e repensar o papel que as Forças Armadas têm desempenhado na democracia brasileira. Compreender a conexão entre as experiências no Haiti, no Rio de Janeiro e a consolidação do bolsonarismo é essencial para refletir sobre os desafios da segurança pública e da governança política no Brasil contemporâneo.
Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC.
Referências
ADHIKARI, Monalisa. Breaking the balance? The impact of peacekeeping deployments on civil–military relations. International Peacekeeping, v., 27, n. 3, p. 369–394, 2020.
CUNLIFFE, Phillip. From peacekeepers to praetorians: How participating in peacekeeping operations may subvert democracy. International Relations, v. 32, n. 2, p. 218–39, 2018.
HARIG, Christoph. What difference does it make? UN peacekeeping’s impact on civil–military relations in troop-contributing countries. Journal of Intervention and Statebuilding, v. 17, n. 5, 2023.
KENKEL, Kai. Stability abroad, instability at home? Changing UN peace operations and civil–military relations in Global South troop contributing countries. Contemporary Security Policy, v. 42, n. 2, p. 225-40, 2021.
MOSKOS, Charles C., WILLIAMS, John Allen e SEGAL, David R. (eds.). The Postmodern Military: Armed Forces after the Cold War. New York: Oxford University Press, 2000.
SOTOMAYOR, Arturo C. Peacekeeping Effects in South America: Common Experiences and Divergent Effects on Civil-Military Relations. International Peacekeeping, v. 17, n. 5, 2010.
SOTOMAYOR, Arturo C. The Myth of the Democratic Peacekeeper: Civil-Military Relations and the United Nations. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014.
[1] Professor substituto no Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. Doutor e mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP). Pesquisador do INCT-INEU e do GECI/PUC-SP.
[2] Pesquisador Associado na Universidade de York, Inglaterra. Doutor em Política na Universidade de York. Mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP).
Fonte imagética: Militares brasileiros da Minustah junto ao presidente Lula, em 2004. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=minustah&title=Special:MediaSearch&go=Go&type=image