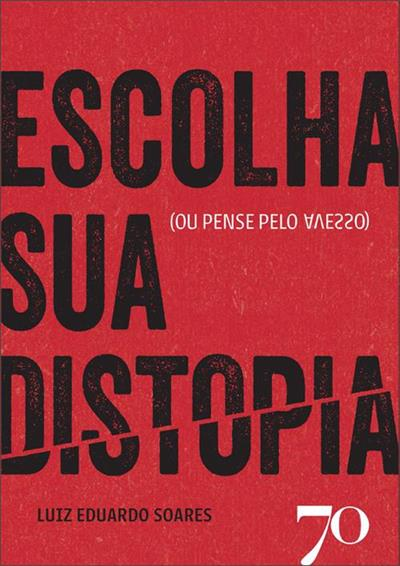Murilo Cesar Ançolim Nazareth[1]
***
Esta série especial do Boletim Lua Nova reúne reflexões críticas elaboradas por graduandas, mestrandas e doutorandas selecionadas por meio de edital de monitoria que acompanharam o Colóquio Internacional “Colonialidade, Racialidade, Punição e Reparação nas Américas (Séculos XIX-XXI)”, realizado de 26 a 29 de novembro de 2024, com financiamento do Instituto Beja, no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP). Longe de exercerem funções estritamente logísticas, essas pesquisadoras transformaram o Colóquio em um laboratório de formação acadêmica e política: acompanharam os debates, dialogaram com as/os palestrantes e produziram textos de relato‑reação que combinam descrição empírica e análise conceitual das mesas‑redondas. O texto que a leitora ou o leitor tem em mãos é fruto desse trabalho coletivo.
***
16 de julho de 2025
No dia 29 de novembro de 2024, realizou-se, na sala Alfredo Bosi do Instituto de Estudos Avançados, a mesa “Colonialidade, racialidade e punição na formação de fronteiras”. O debate contou com a participação do professor Sydney Lobato, da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP); da doutora Marquisar Jean-Jacques, da Université de Guyane; e da doutoranda Charlotte Floersheim, da Aix-Marseille Université.
Especialista em antropologia, Floersheim investiga o vírus da imunodeficiência humana (VIH) nas fronteiras da Guiana Francesa. Articulando saúde pública e desigualdade, apresentou dados que indicam que aproximadamente um terço das pessoas infectadas na região recebe o diagnóstico tardiamente. Esse quadro se agrava porque as divisões político-administrativas não refletem a dinâmica social local: as fronteiras oficiais pouco correspondem às formas concretas de vida e interação estabelecidas há séculos na bacia do Oiapoque, território habitado antes da imposição da barreira interestatal. A pesquisadora defendeu, por isso, a necessidade de cooperação entre os países que compartilham a região transfronteiriça, uma vez que o problema de saúde pública espelha uma estrutura social que marginaliza povos indígenas e demais populações tradicionais.
Nesse ponto, Jean-Jacques ressaltou a dificuldade de produzir estatísticas precisas sobre os povos indígenas na Guiana Francesa, em virtude do princípio republicano de “não distinção”, que apaga as diferenças étnicas. O efeito, contudo, é paradoxal: ao homogeneizar a população, o Estado dificulta políticas específicas voltadas justamente para os grupos mais vulneráveis, cuja precariedade econômica, qualidade de vida e acesso ao território permanecem limitados. O estudo apresentado, portanto, dialoga diretamente com as características do estado de exceção que permeia as fronteiras e se ancora na herança colonial.
O professor Lobato abordou as dicotomias que estruturam tanto a metrópole (honestos/delinquentes) quanto a colônia (colonizadores/colonizados), demonstrando como o biopoder — o controle estatal sobre corpos e vidas — sustenta fronteiras permanentemente marcadas pelo estado de exceção. Nessas condições, o poder que traçou as fronteiras age de forma discricionária, alheio a garantias legais mínimas.
A mesa foi mediada por Samuel Tracol, doutorando na Sorbonne Université, professor de História e membro do CoPALC. Tracol é um dos autores de Fronteirizações: experiências fronteiriças na Amazônia setentrional (séculos XVIII e XIX), obra organizada pelo professor Lobato. No livro, demonstra como a alienação colonial, mediante práticas de segregação, orientou a organização do espaço na fronteira entre a Guiana Francesa e o Brasil, hierarquizando sujeitos e controlando seus corpos — argumento que, na mesa, foi retomado para explicar por que a herança colonial inscrita nas penitenciárias se converteu na pedra angular do constante estado de exceção vigente no território.
Segundo Samuel Tracol, o colonialismo penal serviu de argumento, tanto para o Brasil quanto para a França, na consolidação do princípio do uti possidetis nas proximidades do rio Maroni. No livro Fronteirizações: experiências fronteiriças na Amazônia setentrional (séculos XVIII e XIX), o autor observa:
“Desde o início, a questão das fronteiras não se reduz a uma morfologia social fragmentada, mas à construção de uma dialética ‘exterior/interior’. A segregação social e racial sobrepõe-se a uma espacialidade colonial fundada em não-lugares, ambos forjadores de identidades deslocadas, ‘fora de lugar’, nas quais até o espaço é negado a grupos inteiros de populações. Territórios e populações não incluídos no sistema capitalista de exploração colonial são, portanto, literalmente colocados fora de campo”.
Comentando o lançamento da obra, o professor Sydney Lobato destacou a importância de registrar a presença de povos indígenas, quilombolas e populações escravizadas que, ao insistirem em sua existência, confrontam diretamente o projeto colonial. A “fronteirização”, isto é, o processo de criação de fronteiras, tem sido historicamente marcado por conflitos armados ou diplomáticos: não resulta apenas de avanços científicos em técnicas náuticas e topográficas, nem da identificação de acidentes geográficos considerados limites “naturais”, mas de um projeto político previamente definido.
Embora rios, mares e oceanos tenham sido empregados como barreiras naturais pelos colonizadores, Marquisar Jean-Jacques lembrou que os povos tradicionais da Guiana enxergam o rio Maroni como via de transporte fundamental. A episteme não branca, observou, não estabelece necessariamente uma cisão entre seres humanos e natureza — distinção imposta pelos europeus ao invadir o território. No capítulo “Fronteirização em tempos de Cabanagem: apropriação geopolítica da natureza na expansão dos limites da Guiana Francesa”, Tracol evidencia que os próprios colonizadores instituíram, junto às fronteiras, hierarquias sociais e mecanismos de controle dos corpos, classificando os “seus índios” como civilizados ou semi-civilizados, enquanto rotulavam os do outro lado como “selvagens”.
A partir dessa discussão, Jean-Jacques direcionou sua análise para aspectos específicos da população na fronteira guianense. Doutora em Geografia pela Université de Guyane e vinculada ao Laboratório de Ecologia, Evolução e Interações dos Sistemas Amazônicos, ela investigou a produção territorial do povo indígena Kali’na, na região do baixo rio Maroni, desde 1950. Seu objetivo foi compreender a resiliência de modos de vida em zonas costeiras dinâmicas e como estratégias adaptativas interagem com ambientes biológicos e culturais diante de mudanças sociopolíticas e ecológicas constantes.
O rio Maroni, um dos mais extensos do Escudo das Guianas, integra a maior costa lamacenta do mundo, que se estende dos rios Amazonas ao Orinoco. A intensa deposição de sedimentos torna a linha costeira altamente dinâmica: em determinados trechos, a ausência de bancos de lama provoca erosão rápida, levando ao recuo de manguezais em poucos meses ou anos. Embora essas condições físicas tenham inicialmente tornado a área pouco atrativa aos colonizadores — que a consideravam habitada por “muitos selvagens” —, o território foi invadido no século XVI. Durante o período colonial, a costa do Maroni sofreu transformações significativas, culminando na formação do cabo arenoso posteriormente denominado Pointe Isère, extensa faixa que hoje separa os rios Maroni e Maná e transformou a foz deste último em estuário.
Evidenciando o impacto do colonialismo penal, a expansão, no século XIX, dos campos de prisioneiros sobre áreas que os povos originários utilizavam para subsistência nas proximidades de Saint-Laurent-du-Maroni levou os Kali’na a migrarem para o Pointe Isère. Além disso, o desaparecimento da aldeia Kumaka e a fundação da cidade de Albina, já próximo ao território surinamês, reforçaram esse deslocamento.
Entre 1850 e 1940, o Pointe Isère cresceu significativamente; contudo, na década de 1950, um processo acelerado de erosão passou a ameaçar aldeias indígenas e comunidades quilombolas, fazendo com que os Kali’na retornassem gradualmente ao continente. Tal retorno tornou-se viável porque o fechamento de algumas penitenciárias liberou terras e, na década seguinte, o governo francês incentivou a fixação dessas aldeias junto a comunidades crioulas, matriculando as crianças em escolas formais para assegurar a assimilação cultural. Na década de 1960, muitas famílias foram compelidas à sedentarização, em virtude da inserção no mercado de trabalho e da promessa de cidadania francesa.
Sem se deter nos deslocamentos mais recentes desse povo, a mesa destacou a centralidade do diálogo para compreender as fronteiras: a herança colonial molda a configuração e a vivência da região limítrofe da Guiana Francesa. As exposições revelaram que as políticas fronteiriças funcionam como um Estado de exceção permanente, perpetuando a marginalização de povos indígenas e tradicionais — situação ilustrada pelo diagnóstico tardio de HIV apontado por Floersheim. A perspectiva de Jean-Jacques sobre visões não ocidentais de fronteira e a análise histórica de Tracol sobre o colonialismo penal reforçam a necessidade de reconhecer dinâmicas e epistemologias locais.
A discussão indicou a urgência de pesquisas sensíveis aos povos originários, reconhecendo e valorizando saberes, vozes e contextos das pessoas que vivem na região. Isso implica em superar uma perspectiva ocidental e colonial, incorporando as epistemologias locais e as formas de vida tradicionais que foram historicamente silenciadas pelo colonialismo. Visando a desconstrução do legado de dominação, tais epistemologias se referem aos sistemas de conhecimento e formas de saber que são profundamente enraizadas em contextos geográficos, históricos, sociais e culturais particulares dos povos da região. Busca-se, portanto, reverter iniquidades históricas a partir da desconstrução de abordagens teóricas que desafiam ou ignoram epistemologias locais levando à marginalização, silenciamento e perpetuação da colonialidade.
Referências:
JEAN-JACQUES, Marquisar et al. Whose Climate Change Is It? A Thousand- Year Example of Kali’na Responses to Shifting Coastal Landscapes in the Lower Maroni River. 2024 in: WHITACKER, James Andrew; ARMSTRONG, Chelsey Geralda; ODONNE, Giulaume. Climatic and Ecological Change in the Americas: a perspective from historical ecology. Routlege, New York, NY.
LOBATO, Sydney. Fronteirizações: experiências fronteiriças na Amazônia setentrional (séculos XVIII e XIX). 1 ed., Belém – PA, Editora Paka-Tatu, p. 196.
PALISSE, Marianne et al. Living on an ever‑changing coast: French Guiana
populations facing coastal mobility. 2022.GeoJournal 88:1515–1533.
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
[1] Internacionalista formado pela PUC Minas e mestrando em Relações Internacionais no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo (IRI/USP). Email: murilonazareth@usp.br