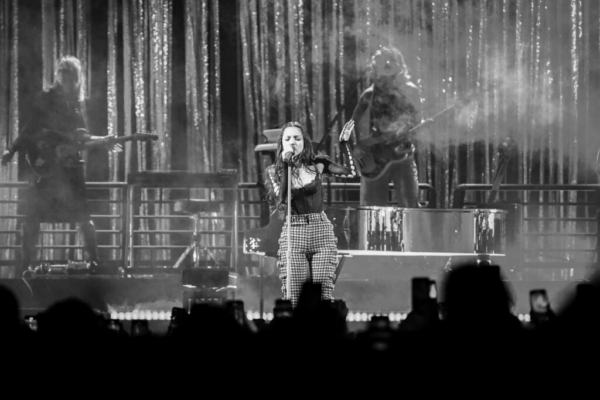Andrea Schettini[1]
Maria Izabel Varella[2]
6 de maio de 2025
A prática do desaparecimento forçado de pessoas marcou a história recente dos países do Cone Sul, tendo sido implementada, sobretudo a partir dos anos 1970, como política de Estado pelas ditaduras militares que assolaram a região (Bauer, 2011; Tavares, 2011). Após detidos, torturados e executados, milhares de militantes políticos que lutavam contra os governos autoritários tiveram seus corpos ocultados em cemitérios e valas coletivas, incinerados em centros clandestinos ou despejados no mar e em rios. Vimos surgir à época uma nova configuração de poder – o “poder desaparecedor” (Calveiro, 2013) –, cujo objetivo central consistia em calar os corpos, silenciar as memórias e disseminar o terror de Estado.
No Brasil, durante a ditadura militar (1964-1985), ao menos 243 pessoas foram vítimas de desaparecimento forçado, segundo consta no relatório final da Comissão Nacional da Verdade (CNV) (Brasil, 2014, v.3, p. 826). Em 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil pelo desaparecimento forçado de pelo menos 64 camponeses e militantes da Guerrilha do Araguaia entre os anos de 1972 e 1974, mas pouco foi feito até o momento para garantir a busca e a entrega dos restos mortais às famílias. Vale lembrar que, em setembro de 1990, foi localizada em São Paulo a vala clandestina de Perus, construída no período ditatorial no Cemitério Dom Bosco, a fim de ocultar corpos de vítimas da repressão (Teles, 2018). Nela, foram encontrados 1.049 sacos com remanescentes ósseos de pessoas enterradas como: indigentes, vítimas da atuação de “esquadrões da morte”, crianças vitimadas pelo surto de meningite e de perseguidos políticos assassinados pelo governo ditatorial (Ibidem, p. 313) – , que ainda aguardam identificação.
O “ato de fazer desaparecer” é, contudo, uma prática anterior à ditadura militar e que persiste na sociedade brasileira mesmo após a transição democrática. Como apontam Florentino e Silva, o desaparecimento forçado de pessoas tem sido utilizado, na história brasileira, “como um dispositivo de terror de Estado que atravessa distintas formações sociais” desde o processo de colonização (2023, p. 04). Se no regime militar, “o desaparecimento forçado foi uma política de Estado para fins de repressão política”, Fábio Araújo esclarece que, atualmente, ele se tornou uma “prática da linguagem da violência urbana” (2016, p. 47). De acordo com o relatório final da Subcomissão da Verdade na Democracia “Mães de Acari”, o desaparecimento forçado deve ser atualmente encarado no Brasil como uma prática seletiva, sistemática e sistêmica. Seletiva porque atinge prioritariamente um grupo populacional específico, também vitimado pelos “autos de resistência” (homicídio por intervenção policial): moradores de favela, negros e jovens. Sistemática porque, apesar da transição democrática, tanto a tortura quanto a execução sumária e o desaparecimento forçado tornaram-se práticas institucionalizadas e ainda mais recorrentes. E sistêmica porque não envolve somente o agente público, mas “um conjunto de instituições estatais incapazes de responder adequadamente às fases investigatórias e processuais que poderiam levar à responsabilização dos culpados” (Rio de Janeiro, 2018a, p. 07).
Nos diferentes contextos – e sem que isso implique ignorar as muitas especificidades históricas e políticas (em especial os recortes de raça, gênero, classe e território, imprescindível para a compreensão dessa prática em nosso país), o desaparecimento forçado chama atenção sobretudo por sua dupla negação da humanidade da vítima: pelo Estado que a violenta e some com seu corpo, e perante sua própria família, de quem é retirada a possibilidade de conhecer e narrar sua história. É precisamente a ausência do corpo que faz com que a violência de Estado atinja seu potencial mais radical, determinando quais vidas podem ser aniquiladas, sem que a morte constitua sequer um fato passível de luto e de reconhecimento.
Essa prática nos coloca diante de uma espécie de “morte sem corpo e sem sepultura” e expõe uma forma de violência capaz de negar a si própria, como se tal conduta, tal dor e tal trauma nunca tivessem ocorrido. Apaga as marcas, os corpos e as memórias, definindo quais vidas são passíveis de luto. Aos desaparecidos, atribui-se um espaço de indeterminação em que não são qualificados nem como vivos nem como mortos, e uma temporalidade em que passado e presente não são passíveis de distinção. A eles é negado o ritual simbólico do sepultamento, cuja principal função consiste, não apenas em honrar a memória do morto, como também marcar a ruptura com o passado e a abertura para o presente.
O desaparecimento forçado impõe, assim, uma situação de vulnerabilidade específica às vítimas e aos seus familiares, fazendo emergir uma série de questões: quais as especificidades do processo de luto das famílias de pessoas desaparecidas forçosamente pelo Estado? O que significa falar em um direito humano ao luto dos familiares de vítimas de desaparecimento forçado? Ou, ainda, como pensar os possíveis contornos jurídicos de um processo psíquico tão singular quanto o luto? São essas as principais perguntas que nortearam nossa escrita no artigo intitulado “Direito ao luto: a construção internacional do direito ao luto dos familiares de vítimas de desaparecimento forçado”, publicado na Revista Direito e Praxis, em 2024.
Buscando traçar uma relação entre direito, luto e memória, o artigo mapeou, a partir de um diálogo entre organismos internacionais de direitos humanos (a Corte e a Comissão Interamericanas de Direitos Humanos; o Comitê de Direitos Humanos, o Comitê sobre Desaparecimento Forçado, o Grupo de Trabalho sobre Desaparecimentos Forçados ou Involuntários e o Relator Especial para Execuções Sumárias, Arbitrárias e Extrajudiciais, todos mecanismos da ONU; bem como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha), alguns dos principais contornos jurídicos já existentes de um direito humano ao luto. O trabalho ainda apresentou algumas reflexões sobre as potencialidades, as tensões e os limites que emergem da construção jurídica de um direito ao luto, levando em consideração a experiência da justiça de transição brasileira.
Uma morte sem corpo e sem sepultura: as especificidades do processo de luto dos familiares de pessoas desaparecidas
O processo de luto pode ser compreendido como a “elaboração de uma perda”, ou melhor, “um período de dor e sofrimento afetivo devido à perda de um objeto amado” (Portillo; Guilis, 2007, p. 251). É através do trabalho de luto que a pessoa consegue, de forma progressiva, lidar com a perda e, consequentemente, desapegar-se do objeto amado, incorporando-o à memória. Este é, com efeito, um processo “normal e necessário”, ainda que extremamente doloroso e singular, o que traz desafios quase intransponíveis para o campo do direito com suas tendências normatizantes e universais. As noções de morte, de perda, de luto e de sofrimento, bem como as práticas a elas relacionadas, são atravessadas pelas culturas e pelos diferentes sistemas de referenciais valorativos, políticos, históricos e religiosos dos sujeitos (Portillo; Guilis, 2007, p. 252).
No caso dos familiares de pessoas desaparecidas, o processo do luto ganha contornos ainda mais específicos. A impossibilidade de conhecer o destino de um familiar desaparecido impõe, em geral, uma complexa condição de sofrimento às famílias, na medida em que passam a conviver, por um lado, com o fato da ausência e, por outro, com a incerteza da morte e a consequente esperança de retorno do ente querido. O desconhecimento do destino da pessoa desaparecida tende a dificultar ou mesmo a impedir que se tenha início o processo de luto dos familiares, na medida em que o luto supõe a certeza de que o objeto amado foi perdido e não voltará.
Como explica Fabiana Rousseaux (2000), enquanto a morte é um buraco no real, o luto é um buraco no simbólico e a sua elaboração é precisamente uma tentativa de contornar esse buraco . O desaparecimento forçado contraria, nesse sentido, os próprios princípios da existência humana, na medida em que impede tanto a morte quanto o luto: “ele se instala no espaço que vai desde a incerteza até a construção de uma morte” – trata-se de um fato não inscrito (pela própria desaparição do corpo) que permanece à espera de sua nomeação, reparação e sanção (Idem). Segundo Catela (2014, p. 123), estamos diante de uma “morte inconclusa”, na qual os familiares de vítimas desaparecidas, ao invés de enfrentarem a morte através da concentração do espaço-tempo, acabam por esperar, buscar e abrir espaços indefinidamente.
Nesse sentido, é extremamente difícil iniciar um processo de luto quando não se tem a certeza da perda do objeto (diante da ausência do corpo), posto que aceitar a morte de um familiar desaparecido torna-se subjetivamente equivalente a matá-lo, o que traz profundos sentimentos de culpa (Portillo; Guilis, 2007, p. 252). O desaparecimento forçado inaugura, assim, uma situação de vulnerabilidade específica às vítimas e aos seus familiares, o que impõe responsabilidades também específicas para os Estados, a serem implementadas durante os procedimentos relacionados ao desaparecimento, desde a obrigação de iniciar buscas efetivas até a realização de ritos funerários culturalmente adequados, caso haja indícios suficientes de morte.
Por quê um direito humano ao luto?
Ainda que não se possa falar na existência de um direito humano ao luto, expressamente estabelecido pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, concluímos, ao longo de nossa pesquisa, que essa é uma construção emergente no plano internacional e que parece ganhar cada vez mais força. Tal expressão vem sendo utilizada por organismos internacionais e parece aglutinar sob essa nomenclatura uma série de medidas de memória, verdade, justiça, reparação e não-repetição já previstas de maneira mais ou menos esparsa no plano internacional. Com efeito, as referências a um direito humano ao luto sustentam-se centralmente na necessidade de se atribuir centralidade aos familiares de pessoas desaparecidas, considerando que o desaparecimento inaugura uma situação de especial vulnerabilidade em suas vidas.
A partir do diálogo entre os organismos internacionais e do cruzamento dos diferentes fundamentos jurídicos por eles desenvolvidos, foi possível concluir que a construção do direito humano ao luto encontra-se associado à garantia de uma pluralidade de direitos e deveres, já previstos no plano internacional, como o (i) direito de acesso à verdade e à informação; (ii) direito de participação dos familiares durante todo o processo de busca, investigação e julgamento; (iii) direito dos familiares de não sofrerem processos de revitimização, tendo suas integridades física e psíquica preservadas; (iv) direito dos familiares de receberem apoio material e psicológico durante os processos de busca, identificação e investigação; (v) direito dos familiares de receberem os restos mortais de seus entes queridos; (vi) direito dos familiares de realizarem cerimônias fúnebres em consonância com suas especificidades culturais, religiosas e políticas; (vii) direito à memória dos familiares no âmbito do processo de luto e de reelaboração da relação estabelecida com o ente querido desaparecido; (viii) direito à vida dos familiares, em sua dimensão positiva, incluindo o acesso aos meios materiais para a reconstrução de suas vidas, devendo-se levar em consideração situações específica de vulnerabilidade.
Essa emergente construção de um direito humano ao luto permanece, contudo, atravessada por uma série de tensões, aprofundadas ao longo do artigo: a primeira delas diz respeito à necessidade de não se associar o direito ao luto ao fim da obrigação do Estado de buscar pelo corpo da pessoa desaparecida; a segunda delas revela os limites do direito, com seu caráter normativo e universal, frente à singularidade dos processos de luto das famílias; e a terceira expõe a relação intrínseca entre o direito ao luto e o direito à vida dos familiares. Reconhecendo que estas três tensões não possuem soluções acabadas e não exaurem o debate, surge delas, ao menos, uma questão central: seria importante consolidar a construção de um direito humano ao luto no plano internacional?
Entendemos que a consolidação de tal direito pode servir como uma ferramenta de combate a políticas oficiais negacionistas que têm por objetivo tanto a interdição do luto coletivo, individual e familiar, quanto a deslegitimação das lutas por justiça. O desaparecimento forçado garante ao Estado perpetrador a ocultação das provas de uma conduta criminosa e a consequente impunidade dos agentes. Perpetua a negação da humanidade da vítima e, em última instância, promove o apagamento de fatos históricos. O que vem sendo chamado de direito ao luto pode contribuir, nesse sentido, para dar contorno jurídico a uma série de medidas já previstas na ordem internacional, definindo os direitos dos familiares e os deveres do Estado diante de evidências de desaparecimento forçado. O direito ao luto pode servir, enfim, para a construção da memória em uma dimensão tanto individual e familiar quanto social e coletiva, contribuindo para a não-repetição da violência no presente.
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
Referências bibliográficas
ARAÚJO, Fábio. “Não tem corpo, não tem crime”: notas socio-antropológicas sobre o ato de fazer desaparecer corpos. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 22, n. 46, p. 37-64, jul./dez. 2016.
BAUER, Caroline. Um estudo comparativo das práticas de desaparecimento nas ditaduras civil-militares Argentina e Brasileira e a elaboração de políticas de memórias em ambos os países, Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ao Departament d’Història Contemporània da Universitat de Barcelona, 2011.
BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório da Comissão Nacional da Verdade. Brasília: CNV, vol.1 e 3, 2014.
CALVEIRO, Pilar. Poder e Desaparecimento. Boitempo: São Paulo, 2013.
CATELA, Ludmila. No habrá flores en la tumba del pasado: La experiencia de reconstrucció del mundo de los familiares de desaparecidos. 4ª Ed. La Plata: Ediciones Al Margen, 2014.
FLORENTINO, Giselle; SILVA, Fransérgio Goulart de Oliveira.
CPF CANCELADO! – Desaparecimentos Forçados na Baixada Fluminense/RJ, ANPOCS, 47 Encontro Anual, Campinas, 2023a, Disponível em: https://www.encontro2023.anpocs.com/atividade/view?q=YToyOntzOjY6I nBhc mFtcyI7czozNjoiYToxOntzOjEyOiJJRF9BVElWSURBREUiO3M6MzoiMzg4Ijt9IjtzOjE6ImgiO3M6MzI6ImY1YjMzNTc3NmM3ZTlhOGRjYT MzMDc0N2U5OT hmYTFiIjt9&ID_ATIVIDADE=388, Acesso em: 01.04.2024.
PORTILLO, Carlos; GUILIS, Graciela. El proceso de duelo por violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. In: IIDH (Instituto Interamericano de Derechos Humanos). Atención integral a víctimas de tortura en procesos de de litigio : aportes psicosociales / Instituto Interamericano de Derechos Humanos. — San José, C.R. : IIDH, 2007.
RIO DE JANEIRO (SUBCOMISSÃO DA VERDADE NA DEMOCRACIA – MÃES DE ACARI). Resumo Executivo do Relatório Final, 2018a. / Disponível em : https://viewer.joomag.com/relatorio-final-da-subcomissao-da-verdade-na-democracia-resumo-executivo/0475872001544549394?short&
ROUSSEAUX, Fabiana. Sancionar el Duelo. Desaparición, Duelo y Impunidad. El Caso Argentino. Disponível em: http://www.herreros.com.ar/melanco/rousseaux.htm. Acesso em: 12 de julho de 2022.
TAVARES, Amarilis. O desaparecimento forçado como uma prática sistemática do Estado nas Ditaduras da América Latina: uma abordagem crítica sobre o papel do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, Revista Anistia Política e Justiça de Transição, v. 4, pp. 290-316.
TELES, Janaina. A vala clandestina de Perus: entre o passado e o presente. In: Revista InSURgência, Brasília, ano 4, vol.4, n.1, 2018, pp. 300-341.
[1] Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC- Rio) em cotutela com a Université Paris Nanterre (França). Professora do Departamento de Direito da PUC- Rio e pesquisadora do Núcleo de Direitos Humanos e do Núcleo Democracia e Forças Armadas (NEDEFA) da mesma instituição. Foi pesquisadora da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro.
[2] Doutora em Teoria do Estado e Direito Constitucional pelo Programa de Pós Graduação da PUC- Rio, em cotutela com Université Paris Nanterre (CAPES-Print). Participou dos trabalhos da Coordenadoria por Verdade e Memória do Rio de Janeiro. Membro provisório da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, vinculada à International Psychoanalytical Association (IPA).
Legenda: Esposas de presos políticos visitam a redação do jornal Correio da Manhã, após o Superior Tribunal Militar (STM) negar habeas corpus para seus maridos. Disponível em: https://memoriasdaditadura.org.br/fotografia/esposas-de-presos-politicos/