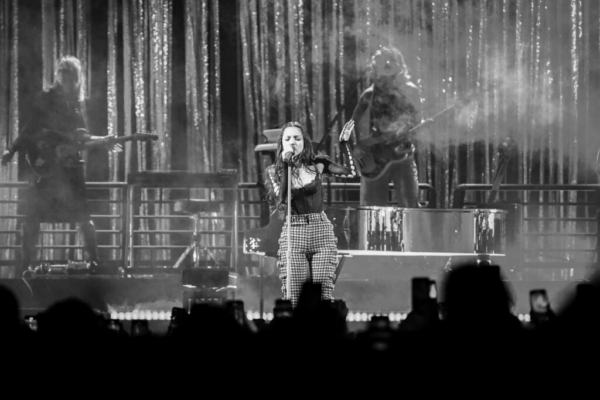Tatiana Carlotti[1]
4 de outubro de 2025
Em parceria com o Observatório Político dos Estados Unidos (OPEU), o Boletim Lua Nova republica a entrevista de Tatiana Carlotti com Carolina Pedroso, professora de relações internacionais da Unifesp e pesquisadora do INCT-INEU. O texto foi publicado em 23 de setembro de 2025, no site do OPEU.
***
A escalada das tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela culminou com o envio de destacamentos militares norte-americanos nos mares caribenhos. A movimentação iniciada no dia 26 de agosto é justificada pela Casa Branca como parte de sua política ao combate ao narcotráfico. Para a professora de Relações Internacionais da Unifesp Carolina Pedroso, “não existe nenhuma prova” de que a Venezuela tenha se transformado em um narcoestado. Porém, Donald Trump “não precisa trabalhar com provas, assim como as acusações que ele faz contra o Brasil”.
O envio dos militares aconteceu após Washington dobrar uma recompensa para US$ 50 milhões por informações que levem à prisão do presidente venezuelano Nicolas Maduro. Um ataque “sem precedentes”, avalia Pedroso, ao destacar que a visão ideológica Departamento de Estado norte-americano, liderado por Marco Rubio, pode ameaçar não apenas a Venezuela, mas os demais países progressistas da região.
“O que impede presidente norte-americano de lançar o Brasil em sua política antidrogas?’, questiona. A Opera Mundi, a pesquisadora do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos (INCT-INEU) analisa as tensões nas relações entre os dois países e as reações internas e externas à ameaça norte-americana na região.
Leia entrevista na íntegra:
Opera Mundi: como você avalia a ameaça dos Estados Unidos contra a Venezuela neste momento?
Carolina Pedroso: a grande pergunta é por que chegamos ao ponto de os Estados Unidos deslocar frotas navais, realizar um cerco militar e promover uma escalada tão rápida? Estamos falando de relações bilaterais que são tensas há pelo menos 25 anos e este é, sem dúvidas, o pior momento. Nunca houve um movimento tão hostil dos Estados Unidos em relação à Venezuela do ponto de vista oficial.
É claro que conhecemos as implicações históricas dos Estados Unidos: a participação no golpe contra Hugo Chávez em 2002, na disputa petrolífera de 2003 e no financiamento de boa parte da oposição, tanto por democratas quanto por republicamos. Mas, agora, estamos vendo forças militares norte-americanas em águas internacionais, com capacidade real de ataque (destroieres equipados com mísseis teleguiados, navios com capacidade de mais de 4 mil militares na costa do território venezuelano). Isso não tem precedentes. Não é algo desprezível ou um simples exercício militar, mas um movimento concreto e efetivo de ameaça à soberania da Venezuela.
O principal argumento é o combate ao narcotráfico. Isso procede?
A tentativa norte-americana de incluir a Venezuela no alvo de sua política de combate às drogas surpreendeu muita gente. O combate ao narcotráfico foi um tema bastante presente na campanha de Trump, mas a Venezuela não aparecia neste contexto por causa desse motivo. Não existe nenhuma prova, mas o Trump não precisa trabalhar com provas. Qualquer suspeita para ele já é suficiente para virar verdade, assim como as acusações que faz contra o Brasil. Ele pega uma narrativa política de um grupo politicamente interessado e a transforma em uma verdade e premissa de política externa.
Essa tentativa de implicar o regime venezuelano com o tráfico de drogas não é recente. Isso vem desde a época do presidente Chávez e ganhou força durante o governo Maduro, em particular após a prisão pela Administração de Repressão às Drogas (DEA) dos sobrinhos de Silvia Flores, esposa do atual mandatário. Eles foram trocados por presos norte-americanos em 2022, durante o governo Biden. Isso foi muito explorado na época.
Não existe indícios, nos últimos 15 anos, de processamento de cocaína na Venezuela. O país é apenas um dos trajetos do tráfico de drogas na América Latina, assim como boa parte das nações. Há produção preocupantes na Colômbia, Bolívia, droga sintética no Equador e um problema também no Peru, mas a Venezuela não é um locus de produção de droga, ela é muito mais uma passagem.
A justificativa dos Estados Unidos para a Venezuela factualmente não cola. O relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) mostra que, do total da droga produzida na América Latina, apenas 5% passam pela Venezuela. Não é exatamente o país mais problemático. Do ponto de vista factual, faria muito mais sentido a inclusão de El Salvador, mas aí entra o componente político: o país é governado por uma liderança alinhada ao Trump.
Eles usam o termo de narcoestado.
Esse termo não é adequado. É um conceito usado no caso de países que teriam estruturas estatais muito débeis a ponto de as organizações criminosas se apoderarem do poder. Não é o caso da Venezuela que detém capacidades funcionais e uma estrutura muito bem consolidada.
O que realmente acontece, mas isso não é específico da Venezuela, e sim da América Latina, é um certo grau de conivência de estruturas políticas com grupos criminosos, como acontece no Brasil. A Colômbia tem uma relação muito mais intensa neste sentido. A Venezuela, no caso, seria colateralmente atingida por um fenômeno que transborda fronteiras, mas o problema não está no território venezuelano.
Nos dias 23 e 24 de agosto, milhares de venezuelanos se alistaram na Milícia Revolucionária Bolivariana, como você avalia a reação interna?
A Venezuela está sob ataque dos Estados Unidos desde o começo da Revolução bolivariana. Isso explica a forte reação da população e o uso pelo governo Maduro das milícias e coletivos para além das forças tradicionais de defesa do país. Existe uma visão política hegemônica muito bem consolidada de que eles precisam ter uma força de defesa heterogênea. Há bastante tempo o governo venezuelano investe na ideia da resistência civil e de que a população precisa ser treinada.
A Milícia Bolivariana é composta por cerca de 4 milhões de pessoas que são treinadas semanalmente pelos militares e têm acesso a armamentos, treinamento e noção de estratégia. É um país altamente militarizado e armado.
Diante das ameaças dos EUA, qual a posição dos opositores ao governo Maduro?
A oposição na Venezuela é muito fragmentada, o que explica porque Maduro até em momentos de muita crise interna consegue se manter no poder, além do apoio das Forças Armadas e do inegável apoio popular. A oposição tem dificuldade de se unificar, como vimos nas eleições de 2024, quando demoraram meses para definir uma candidatura única. Uma parcela dela participa da política institucional e eventualmente vence em prefeituras e governos regionais e detêm representação na Assembleia Nacional. Esse grupo é visto pelos mais radicais como uma oposição vendida ao chavismo.
Uma liderança dessa oposição institucional é o Henrique Capriles, candidato contra o Chávez em 2012 e contra o Maduro em 2013. Ele e outros deste grupo entenderam que a ameaça à soberania da Venezuela vai além da disputa política interna e condenaram o avanço militar dos Estados Unidos. Agora, os mais radicais apoiam os Estados Unidos. A Maria Corina é desse grupo. Há bastante tempo ela defende que os Estados Unidos intervenham militarmente na Venezuela. Disse isso no primeiro governo Trump, frisou no contexto de manifestações contra Maduro na eleição de 2018.
Embora, muitas vezes vendida como a esperança restaurada de uma democracia na Venezuela, Marina Corina é uma fascista. Participou do golpe em 2002 contra Chávez e tinha ligações muito próximas com [George W.] Bush nos anos 2000. É uma figura problemática do ponto de vista da atuação política, com muita truculência e realmente faria uma ditadura direita se chegasse ao poder.
Como você avalia a resistência da Venezuela neste momento?
Do ponto de vista tecnológico, a resistência é nula. Há uma assimetria gigantesca. Apesar de que em uma invasão por terra o país teria vantagens e não há como esquecer da lição histórica do Vietnã. O que pesa a favor da Venezuela, além da capacidade de mobilização interna, são suas alianças internacionais. A Rússia é a parceria militar mais consolidada do país desde 2006, quando aconteceu a primeira sanção dos EUA. Outra aliança é a China, tanto do ponto de vista comercial como em termos militares, e há também os equipamentos iranianos. Pequim é essencial para a Venezuela hoje, eles substituíram os Estados Unidos há mais de 10 anos nesta parceria.
É um cenário muito incerto. Estão todos preocupados, o Brasil e principalmente a Colômbia que poder ser atingido em uma escalada, não só por ser o epicentro dos grupos de narcotráfico na região, mas por conta do presidente Petro que vem sofrendo ameaças indiretas dos Trump. No Brasil isso tem sido mais direcionado para as tarifas.
O que preocupa é a falta de articulação regional. Na crise das deportações não conseguimos responder coletivamente. A resposta foi unilateral e vimos uma incapacidade de ativar os mecanismos que ainda existem. A ONU, embora um pouco mais ativa, ainda está desarticulada. O Petro agora está na presidência da CELAC, mas não conseguimos coordenar a articulação na Organização dos Estados Americanos (OEA), palco da disputa de Trump contra os países latino-americanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos também está em disputa.
Há um movimento, portanto, de enfraquecimento tanto da integração regional, quanto desses mecanismos diante de uma situação de muita assimetria. Nós sempre estaremos em desvantagem com os Estados Unidos, mas ela poderia ser reduzida se esses órgãos funcionassem. Além disso, a Venezuela não é unanimidade na região neste momento. Em outros tempos, a resposta poderia ser mais contundente e de forma articulada.
As manifestações que existem destacam que se trata de uma ameaça não só à Venezuela, mas contra todos os países da região. Você concorda com isso?
Sim. A região nunca saiu completamente da agenda norte-americana, embora não tenha sido uma prioridade nos últimos anos. Agora, entretanto, parece que estamos em uma fase ideológica no Departamento do Estado, com a visão do Marco Rubio prevalecendo. Trump não inventa a roda, ele sintetiza diferentes estratégias usadas pelos Estados Unidos ao longo do tempo. Nesse movimento, ele uniu a Guerra às Drogas dos anos 80 com a Guerra ao Terror direcionada para o Oriente Médio, mas com foco na região.
Se pensarmos que ele não pretende recuar e que essa política de usar grupos de narcotráfico, considerados grupos terroristas, para ameaçar militarmente os países, o que impediria, por exemplo, num contexto pré-eleitoral no Brasil de haver uma movimentação semelhante na nossa costa, como aconteceu em 1964? Trump pode usar a justificativa das drogas para intervir politicamente como fez com o tarifaço que, sabemos, não é uma questão comercial e econômica, mas sim uma questão política.
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
[1] Tatiana Carlotti atua como repórter há mais de 20 anos, com passagem por Fórum 21, Carta Maior, Blog Zé Dirceu e instituições como INCT-INEU. É doutora em Semiótica (USP) e mestre em Crítica Literária (PUC-SP). Esta entrevista foi primeiro publicada em 6 de setembro de 2025 para o Opera Mundi.
Referência imagética: Carolina Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifesp (Crédito: Acervo Pessoal/John Philip Wagner Jr./Wikipedia)