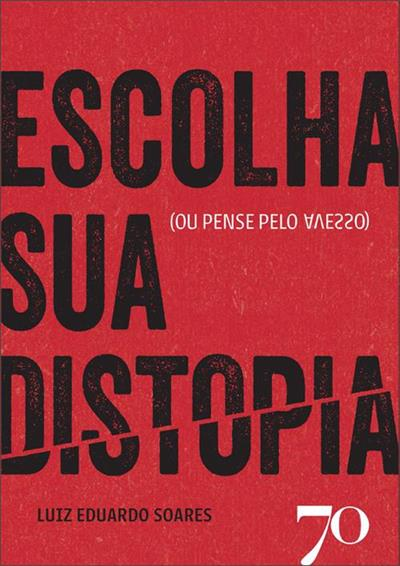Camila Bernardo de Moura[1]
Murilo Cesar Ançolim Nazareth[2]
***
Esta série especial do Boletim Lua Nova reúne reflexões críticas elaboradas por graduandas, mestrandas e doutorandas selecionadas por meio de edital de monitoria que acompanharam o Colóquio Internacional “Colonialidade, Racialidade, Punição e Reparação nas Américas (Séculos XIX-XXI)”, realizado de 26 a 29 de novembro de 2024, com financiamento do Instituto Beja, no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP). Longe de exercerem funções estritamente logísticas, essas pesquisadoras transformaram o Colóquio em um laboratório de formação acadêmica e política: acompanharam os debates, dialogaram com as/os palestrantes e produziram textos de relato‑reação que combinam descrição empírica e análise conceitual das mesas‑redondas. O texto que a leitora ou o leitor tem em mãos é fruto desse trabalho coletivo.
***
30 de julho de 2025
O evento ocorreu em 27 de novembro de 2024, no auditório Nicolau Sevcenko (Prédio de História e Geografia, FFLCH/USP), e contou com a presença da professora Carla Osmo (UNIFESP), do doutorando Matheus Almeida, do Departamento de Antropologia da USP, e de Dona Zilda Maria, ativista. O trio, que integra o Movimento Mães de Osasco e Barueri, discutiu a violência racial cometida por agentes do Estado e o que pode — ou deveria — ser reconhecido como reparação.
Carla Osmo, professora da Universidade Federal de São Paulo, coordenadora do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF) e integrante do Projeto Reparações, abriu a mesa expondo sua atuação nas atividades que dirige e propondo-se a refletir sobre qual reparação é possível para quem sofre violência institucional. Em parceria com o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública de São Paulo — que demanda o aprimoramento das práticas voltadas à busca de reparações pela violência estatal, por meio de ações judiciais e incidência em políticas públicas —, o centro desenvolve pesquisas para compreender o que o Judiciário paulista efetivamente concede em matéria de reparação, possibilitando, assim, um diagnóstico do que ocorre com as famílias quando buscam compensação pela violência de Estado. Constatou-se que aquilo a que essas famílias têm acesso, quando acessam, está muito aquém do que lhes seria devido, segundo o direito à reparação.
Osmo aborda o tema da reparação a partir da perspectiva jurídica, que prevê, em âmbito tanto internacional quanto nacional, o direito à compensação por violações de direitos humanos. Citando a relevante contribuição da Corte Interamericana de Direitos Humanos na construção do conceito de “reparação integral”, a palestrante reforça a necessidade de, antes de tudo, compreender a totalidade dos danos para, só então, pensar em reparações que deem conta da diversidade dos prejuízos causados por violações graves. Dessa forma, contrapõe-se à prática reducionista — quando existente — de restringir a reparação ao pagamento de indenizações individuais.
A reparação integral compreende que deve haver restituição, na medida do possível, daquilo que foi retirado, incluindo a compensação de danos materiais e imateriais; medidas de reabilitação — atenção médica e psicológica —; medidas simbólicas, isto é, de reconhecimento e produção de memória; e garantias de não repetição. Nesse sentido, embora a legislação brasileira preveja políticas de reparação que vão além da indenização, na prática os atingidos pela violência de Estado são submetidos a processos longos, burocráticos e violentos, permeados pela estigmatização e criminalização das vítimas e de suas famílias na busca por reparação.
Carla ressalta ainda que a compreensão da dimensão dos danos sofridos possui muitas camadas, acessíveis apenas a partir do diálogo com as pessoas atingidas, pois se trata de violência contínua que atravessa famílias e comunidades. Mas esse diálogo raramente ocorre, justamente porque tais casos são perpassados por uma visão demasiadamente restritiva de quem merece reparação — visão intrinsecamente relacionada a marcadores de raça e gênero que são constantemente desconsiderados. Ao final de sua fala, ela menciona que o campo de estudos sobre reparação ainda carece de pesquisas e que há considerável atraso no debate a partir da perspectiva racial, ponto que será desenvolvido por Matheus Almeida na sequência.
Doutorando do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, integrante do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF) e do Projeto Reparações, Almeida inicia sua exposição propondo que, para pensar a reparação a partir da racialidade, é preciso primeiro considerar o caráter racial da violência de Estado no Brasil — violência que assume diferentes formas (físicas, simbólicas, psicológicas, econômicas etc.) e cujos efeitos se prolongam indefinidamente. Em seguida, destaca três elementos essenciais para compreender a violência institucional sob o recorte racial: distensão temporal — referente a um intervalo muito mais amplo de violências e violações a serem reparadas; danos coletivos — reconhecimento do caráter sistêmico dessa violência, na qual casos “individuais” não devem ser dissociados dos séculos de violação do corpo negro; e dívida histórica — que não se configura como débito contraído apenas com indivíduos específicos, mas como dívida do país para com o povo negro, assumindo, portanto, dimensão pública e exigindo enfrentamento por meio de políticas públicas.
O diagnóstico obtido a partir dos três pontos mencionados demonstra que, quando o eixo analítico da raça é considerado, torna-se necessário reconhecer especificidades nem sempre evidenciadas. Para além do regime democrático contemporâneo, trata-se de ampliar o recorte temporal, de modo a identificar um histórico muito mais extenso de violências a serem reparadas. As agressões atuais não podem ser dissociadas dos séculos de violação do corpo negro durante o regime escravista, cujas estruturas repressivas se perpetuam, confirmando o caráter sistêmico dessa violência, tanto pela recorrência histórica quanto pela concentração social dos corpos das vítimas. Ademais, é preciso contemplar um período prolongado — séculos de escravização sem qualquer forma de reparação ou assistência —, configurando uma dívida coletiva para com todos os negros e indígenas do país. Os danos coletivos impõem, portanto, a consideração da escala pública da questão, cujos efeitos extrapolam a esfera individual e exigem políticas públicas de reparação.
Almeida conclui sua exposição reforçando a necessidade de diálogo com ativistas dos movimentos sociais para a construção do debate. O papel imprescindível da escuta tornou-se patente nas rodas de conversa promovidas pelo Projeto Reparações com esses movimentos, possibilitando uma concepção de reparação muito mais ampla do que a encontrada na bibliografia especializada. Ele cita, como resultado desse processo, o texto coletivo “Reparações a partir da perspectiva dos movimentos sociais”, elaborado em parceria com pesquisadores e representantes dos movimentos participantes e anexado ao 2º Relatório do Projeto Reparações, disponível no site da UNIFESP. A partir das trajetórias de vida compreende-se que reparação envolve a adoção de determinadas medidas, mas, sobretudo, a luta pelo fim das condições que institucionalizam, regulam e legitimam essas violências — esse é o verdadeiro processo reparatório. Em seguida, Almeida passa a palavra a Dona Zilda Maria, integrante do Movimento Mães de Osasco e Barueri.
O Movimento Mães de Osasco e Barueri é exemplo de resistência na busca por justiça e memória dos filhos assassinados na maior chacina ocorrida na Grande São Paulo. Dona Zilda, fundadora do movimento, afirmou na mesa: “Posso gritar, berrar e espernear pedindo reparação, mas ninguém está nem aí”. Segundo ela, são nove anos insistindo na mesma reivindicação e, hoje, quase uma década após os assassinatos, nenhuma satisfação foi dada.
Em agosto de 2015, num intervalo de apenas três horas, cerca de 28 pessoas — entre mortos e feridos — foram vítimas de uma chacina em 11 pontos distintos da periferia das cidades de Osasco e Barueri. O episódio foi associado a um ato de represália pelos homicídios de um policial militar e de um guarda civil municipal, ocorridos durante um latrocínio. Diante da repercussão nacional e internacional, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos emitiu comunicado condenando os assassinatos e situando a chacina em um contexto de insegurança cidadã. Não por acaso: até agosto daquele ano, outras 56 pessoas já haviam sido mortas em massacres na região, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.
Dona Zilda detalhou sua trajetória, a de seu filho Fernando e a importância do movimento na luta por reparação e memória no documentário Do luto à luta (Val Gomes, 2023). O filme integra a exposição Mulheres em luta! Arquivos de memória política, do Memorial da Resistência de São Paulo, voltada a ampliar vozes de mulheres que sofreram violência estatal tanto na ditadura quanto na democracia. Na entrevista, Dona Zilda contou ter passado por cinco abortos sem explicação médica; mais tarde, um “médico muito bom” assegurou que a criança nasceria com vida — e assim chegou Fernando.
A narrativa fílmica inicia com o relato desse nascimento e se encerra com uma reflexão crucial de Dona Zilda sobre violência de Estado e reparação:
“E a reparação? Reparação da morte não tem. A reparação que eu queria era o Governo mudar um pouco o estilo dessa justiça, porque o Estado ajudou a ter meu filho e o Estado matou meu filho. É engraçado, né?”.
Reforçando a constatação de Carla Osmo — para quem o sistema reparatório brasileiro falha na prática e submete as vítimas a novas violências —, Dona Zilda descreveu as ameaças constantes que recebe e o enfrentamento de uma “máfia tão grande e tão suja” que, em suas palavras, é o Estado. Trata-se da vitimização e revitimização de que falou Matheus Almeida.
Carla Osmo sublinhou que a mera indenização é insuficiente, pois os danos vividos são singulares e só podem ser plenamente compreendidos pelas próprias pessoas envolvidas. “Todas as mães que ficam também perdem as suas vidas, total ou parcialmente”, observou. Dona Zilda resumiu o sentimento: “Cada moleque que morre só aumenta minha dor de perder meu filho”.
O movimento Mães de Osasco e Barueri, composto majoritariamente por mulheres negras, denuncia que, embora raça e gênero não sejam considerados relevantes pela justiça no cálculo da reparação, são corpos negros que seguem sendo violentados desde a escravidão. Após anos de luta, Dona Zilda afirmou na mesa: “Não escolhi nascer preta” — e confessou estar perdendo o fôlego, diante de um processo exaustivo, violento e cíclico de vitimização. Como concluiu: “Aqui pra mim é uma Faixa de Gaza camuflada. Basta ser neguinho. Nem precisa ser neguinho; basta ter uma bombeta e moletom”.
Referências:
Comissão Interamericana de Direitos Humanos. CIDH condena assassinatos em São Paulo, Brasil. Organização dos Estados Americanos – Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Comunicado de Imprensa, 21 de agosto de 2015. Disponível em:https://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2015/092.asp. Acesso em: 18 dez. 2024
Gomes, Val. Do luto à luta (2023) – Mães de Osasco Barueri | Mulheres em Luta!. YouTube – Memorial da Resistência de São Paulo, 04 dez. 2024. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bhCsWeffUwY. Acesso em: 18 dez. 2024
Relatório n. 2 do Projeto Reparações: reparações de acordo com movimentos sociais, proposições legislativas e ações judiciais de caráter coletivo. / Carla Osmo (Coordenação) — São Paulo: CAAF; Unifesp, 2024. https://www.unifesp.br/reitoria/caaf/images/novo_site/relat%C3%B3rios/Relat%C3%B3rio_2___projeto_repara%C3%A7%C3%B5es.pdf
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
[1] Mestranda em Ciência Política IFCH – Unicamp. Graduada em Ciência Política e Sociologia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Pesquisa violência institucional e movimentos de mães que lutam por justiça, reparação e memória. E-mail: c232656@dac.unicamp.br
[2] Internacionalista formado pela PUC Minas e mestrando em Relações Internacionais no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo (IRI/USP). Email: murilonazareth@usp.br