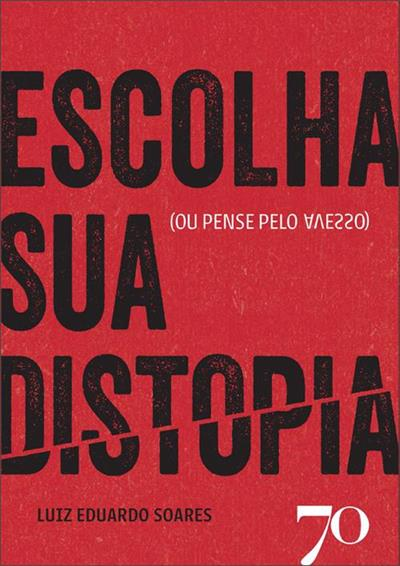Yara Frateschi[1]
Longe de estar restrita a homens brancos heterossexuais, em cuja imagem ainda é muito frequentemente fantasiada, a maior parte da classe trabalhadora global é constituída de imigrantes, pessoas racializadas e mulheres – tanto cis como trans – e pessoas com diferentes capacidades, cujas necessidades e os desejos são renegados ou deturpados pelo capitalismo (p. 55).
Escrito a seis mãos, Feminismo para os 99%. Um Manifesto foi publicado no dia 08 de março de 2019 simultaneamente em mais de vinte idiomas e em países como Estados Unidos, Brasil, Itália, França, Espanha, Inglaterra, Argentina, Suécia, Turquia, Hungria, entre outros. Coisa rara no mercado editorial mundial, mais rara ainda – inédita, efetivamente – para um manifesto feminista e que entra em campo assumindo-se abertamente anticapitalista. Para quem achou que era este um bordão ultrapassado, utopia de um mundo ido, palavra de ordem juvenil, Nancy Fraser, Cinzia Arruza e Tithi Bhattacharya se empenham em mostrar que na teoria e na prática o feminismo só é emancipador para a maioria das mulheres se assumir-se anticapitalista. Caso contrário, é papo no cafezinho das grandes empresas e universidades, é bom para vender revista e empoderar mulheres já empoderadas, mas não para enfrentar a enorme crise da reprodução social que vivemos hoje nas sociedades capitalistas, tanto do Norte quanto do Sul Global. A julgar pelo interesse que este Manifesto tem suscitado mundo afora, reivindicar-se anticapitalista já não é mais algo assim tão fora de moda. Apenas por isso temos motivo suficiente para comemorar.
Mas será que este texto, escrito por três teóricas e ativistas que assumiram papel de destaque na convocação das greves no 8 de março após a vitória de Trump nos Estados Unidos e que vem nos propor um “novo” feminismo batizado em homenagem ao movimento Occupy, tem alguma coisa a dizer para as feministas brasileiras de hoje? Pode ter alguma ressonância na realidade brasileira este programa teórico-prático escrito no contexto de uma disputa local das feministas de esquerda com a candidatura de Hillary Clinton e com o feminismo corporativo do “lean in” [“faça acontecer”], vigente nas grandes empresas e ao gosto de Wall Street?
Este ensaio, antes de pretender uma reconstrução minuciosa do texto do Manifesto, contenta-se em sugerir que sim: vale um engajamento mais intenso com a leitura das suas 11 Teses. Em primeiro lugar porque a proposta de um feminismo que faça sentido para a ampla maioria das mulheres – batizado por Nancy Fraser de “feminismo para os 99%” – é uma resposta a uma conjuntura de crise do capitalismo que também nos afeta, e cada vez mais intensamente a partir de 2015 (a disputar a data). Em segundo lugar, porque a maneira pela qual as autoras analisam as opressões vinculadas ao gênero, à raça e à classe no contexto do sistema econômico e social capitalista em geral interessa de modo particular a um país tão profundamente marcado pelo sexismo (efetivamente, pela misoginia), pelo racismo e pela pobreza como o Brasil. Em terceiro lugar, eu quero sugerir que a proposta mais concreta das autoras de união das lutas anticapitalistas é inspiradora por não aderir a uma oposição equivocada e contraproducente entre luta de classes e lutas identitárias. Infelizmente, a oposição entre “política de classe” e “política identitária” ainda divide o campo da esquerda no Brasil, ameaçando a construção das alianças que precisamos para estarmos à altura dos desafios atuais, inclusive os de curto prazo. Penso que a maneira pela qual Fraser, Arruza e Bhattacharya conduzem a antiga questão da “unidade na diferença”, à luz de uma análise sofisticada das opressões no capitalismo, pode ser inspiradora para nós, brasileiros e brasileiras, que estamos às voltas com a questão da construção de alianças num contexto de fragmentação política.
O capitalismo e suas crises
Em termos mais abrangentes, o programa deste Manifesto feminista é uma resposta à aguda crise do capitalismo contemporâneo, na fase neoliberal financeirizada. Comecemos, portanto, pelo final, mais precisamente pelo posfácio, que trata desta conjuntura de crise, cuja dimensão não se compreende a menos que se tenha em vista que o capitalismo não é apenas um sistema econômico, mas algo maior:
(…) uma ordem social institucionalizada que abrange relações aparentemente não econômicas e práticas que mantém a economia oficial. Por trás das instituições oficiais do capitalismo – trabalho assalariado, troca e sistema financeiro – estão os suportes que lhes são necessários e as condições que as possibilitam: famílias, comunidades, natureza; Estados territoriais, organizações políticas e sociedades civis; e, em especial, enormes quantidades e múltiplas formas de trabalho não assalariado e expropriado, incluindo muito do trabalho de reprodução social, ainda executado predominantemente por mulheres e muitas vezes sem compensação. Esses também são elementos constitutivos da sociedade capitalista – e lugares de luta em seu interior (p. 102).
A uma visão abrangente do capitalismo corresponde uma visão ampla de crise do capitalismo, que não se reduz aos colapsos do mercado, ao desemprego em massa, etc., mas abarca contradições “não econômicas”, das quais três são particularmente intensas na contemporaneidade (e no Brasil): a contradição ecológica, a política e a da reprodução social. A primeira se deve ao fato de o capital tratar a natureza como uma fonte inesgotável de recursos, dos quais se apropria gratuitamente e sem reposição. A contradição está em destruir os habitats e os ecossistemas dos quais dependem as comunidades e a própria existência da vida. A segunda explicita uma tendência intrínseca do capitalismo em limitar o campo da política (ou manejá-lo ao seu bel prazer, inclusive através de novos tipos de golpe) e inflar o do mercado, colocando as instituições estatais, que deveriam servir o público, à serviço do capital:
Por razões sistêmicas, portanto, o capitalismo está destinado a frustrar as aspirações democráticas, a esvaziar direitos, a enfraquecer poderes públicos e a gerar repressão brutal, guerras intermináveis e crises de administração governamental (p. 103).
A terceira crise, a da reprodução social, afeta especialmente as mulheres porque diz respeito a um tipo de trabalho estruturalmente ligado à assimetria de gênero. Esta crise afeta a maioria esmagadora das mulheres, em especial as mais pobres, racializadas e imigrantes e por isso ganha uma atenção especial em Feminismo para os 99%.
A reprodução social – tema amplamente explorado pelas feministas socialistas e marxistas não apenas de hoje – se dá mediante um tipo de trabalho que o capitalismo absolutamente não valoriza e esconde, mas do qual depende para sobreviver. Abrange aquelas atividades (que demandam muito tempo e recursos) para “dar à luz, cuidar e manter seres humanos” (p. 106). Interessa notar que não é apenas a mais-valia que a instituição capitalista esconde, mas também “as suas marcas de nascença”, ou seja, a mão de obra para a produção de pessoas – geralmente desempenhada pelas mulheres – da qual depende necessariamente (Cf. p. 108). De maneira breve, a especificidade da forma atual do capitalismo neoliberal – que retira todo e qualquer amparo público e estatal à reprodução de pessoas – é o esgotamento inegável das “nossas capacidades individuais e coletivas para reconstituir os seres humanos e para sustentar os laços sociais” (p. 111). Com verniz emancipatório, o modelo de família com dois salários infelizmente não tem sido libertador para as mulheres que, em sua ampla maioria, sofrem exploração reforçada.
Quem extrai algum ganho emancipatório do regime laboral no neoliberalismo são as pouquíssimas mulheres da alta elite, ainda assim sempre em desvantagem em relação aos homens (no Brasil, as mulheres recebem remuneração inferior em todas as profissões). A ampla maioria, entretanto, sofre com trabalho precário e mal remunerado e, cada vez mais intensamente, com jornadas extensas e múltiplos empregos que reduzem de maneira muito significativa o nosso tempo para cuidar de nós mesmas, das nossas famílias, das nossas comunidades (cf. 113). Na medida em que os serviços sociais públicos minguam ou desaparecem – em nome da “austeridade” – a situação das mulheres se torna ainda mais precária e tão pior quanto mais pobre for esta mulher. Quem pode, paga (mal) pelo cuidado, contratando as mulheres mais pobres para o serviço da reprodução social. Estas, por sua vez – que no Brasil, além de pobres, são em sua maioria negras – se encontram na situação de lutar “para cumprir as próprias responsabilidades domésticas e familiares muitas vezes transferidas a outras mulheres ainda mais pobres que, por sua vez, devem fazer o mesmo – e assim indefinidamente (…)” (p. 116).
As três crises têm a mesma raiz: o impulso do capital de se aproveitar das suas próprias condições indispensáveis, sem repor ou querer pagar por elas (caso pagasse, veria os seus lucros seriamente comprometidos). Em síntese: o capital precisa do ecossistema, sem o qual, no limite, não há vida; precisa do Estado “para defender a propriedade, sufocar a rebelião e salvaguardar o dinheiro” (cf. 104); precisa do trabalho de reprodução social para formar e sustentar os seres humanos, a serem devidamente explorados para a geração de lucro. No entanto, se não consegue sobreviver sem essas condições básicas – natureza, Estado e trabalho de reprodução social – “sua lógica também o leva a renegá-las” (idem). Não foi sempre assim no capitalismo? De certa forma sim, eis a sua lógica. Contudo, o nosso tempo é peculiar.
Em tempos ‘normais’, as tendências de crise do sistema se mantêm mais ou menos latentes, afetando ‘apenas’ aquelas populações consideradas dispensáveis e sem poder. Estes, contudo, não são tempos normais. Hoje, todas as contradições alcançaram o ponto de ebulição. Praticamente ninguém – com a parcial exceção do 1% – escapa dos impactos da desarticulação política, da precariedade econômica e do esgotamento da reprodução social. E a mudança climática também está ameaçando destruir a vida no planeta. Também está crescendo o reconhecimento de que esses desdobramentos catastróficos estão entrelaçados de maneira tão profunda que nenhum deles pode ser resolvido separadamente dos demais (pp. 104-5).
As autoras admitem que apesar dos efeitos colaterais e das suas insuficiências, o capitalismo administrado e o Estado de bem-estar ainda ofereciam alguma proteção contra a tendência do capital de canibalizar a produção social. Contudo, a forma neoliberal financeirizada e globalizada aniquila todas as proteções, mesmo as parciais. No Brasil, – onde o neoliberalismo mostra a força real das suas garras um pouco mais tarde, dado que os anos pós-redemocratização tenderam à estabilidade econômica e depois ao crescimento econômico com distribuição de renda, aumento real do salário mínimo, programas sociais e políticas públicas voltadas para as mulheres, para populações mais pobres e para as pessoas negras, demarcação de terras indígenas, etc. – o impacto é agora sentido com toda a força nos três domínios: no ambiental, no político e no da reprodução social. O afastamento orquestrado de Dilma Rousseff (PT) pela alegação de um crime do qual ela foi logo depois inocentada abriu caminho para a imediata instauração de uma agenda profundamente antissocial e antidireitos que começou a ser implementada pelo ainda interino Michel Temer (MDB) no dia seguinte da sua posse[2]. De lá para cá, presenciamos a imposição de uma política econômica de “austeridade” cortando programas sociais, serviços públicos, com especial efeito sobre a saúde e a educação. Se já era uma realidade dura a combinação explosiva de jornadas exaustivas, trabalho precário e insuficiência de amparo público para o cuidado das pessoas e da família, agora não temos qualquer proteção contra a tendência do capital de canibalizar a reprodução social. Quem sofre com isso? As mulheres mais pobres e as mulheres negras: o Brasil tem a maior população de empregadas domésticas do mundo, 6,2 milhões de pessoas, sendo 5,7 milhões mulheres, dentre as quais 3,7 milhões são negras e pardas[3]. E agora uma reforma da previdência que promete prejudicar mais as mulheres, que já trabalham em condições mais desfavoráveis do que os homens, estão mais sujeitas a menores salários, ao desemprego e à não formalização (inclusive devido às atividades da reprodução social).
Ao mesmo tempo, e em plena conformidade com a tendência do capital por lucros imediatos, a devastação ambiental galopa com a anuência e a autorização manifesta do governo federal. E o que farão as feministas enquanto “o planeta queima”? perguntam Fraser, Arruza e Batthacharya (p. 27). A Amazônia queima, literalmente. Queima junto com os serviços sociais, as instituições políticas e os direitos que atrapalham interesses políticos aliados do capital. A resposta é direta: não dá mais para as feministas ficarem em cima do muro (p. 27).
Por um feminismo anticapitalista e antirracista
A resposta que o Manifesto dá a essa ampla crise é concomitante com uma contestação do feminismo pela esquerda (cf. 28), partindo da constatação de que nenhum tipo de feminismo liberal é capaz de oferecer uma alternativa a essa forma extremamente predatória de capitalismo. Para dar um contorno mais preciso a isso que as autoras chamam de “feminismo liberal” – explicitamente detectado como um oponente dos 99% – precisamos nos engajar nas 11 teses. À primeira vista, trata-se do feminismo do “faça acontecer”, que identifica igualdade de gênero com sucesso no mundo dos negócios (cf. “Encruzilhada”) e empoderamento com a ascensão de mulheres enquanto indivíduos. No entanto, é mais do que isso, evidentemente. Ao longo do texto as oponentes vão ganhando outras feições na medida em que as autoras argumentam contra uma série de pautas, lutas e, nas entrelinhas, teorias que de um modo ou de outro também cedem ao individualismo e ao elitismo, afastando-se sempre e cada vez mais das lutas que visam a maioria (cf. p. 38).
É o caso, por exemplo, de um feminismo excessivamente formalista que se contenta com a luta por direitos. Embora imprescindível, “a emancipação legal permanece uma casa oca” se não vier acompanhada das condições materiais e sociais necessárias para o gozo dos direitos (cf, p. 43). Não basta, portanto, lutar pelo aborto legal sem lutar pela saúde gratuita e universal e contra as práticas médicas racistas, do que depende efetivamente a justiça reprodutiva. Do mesmo modo, não basta brigarmos por igualdade salarial, pois isso pode apenas significar igualdade em condições ainda muito precárias de trabalho: precisamos de pisos salariais maiores, de direitos trabalhistas, de uma nova maneira de organizar o trabalho de reprodução social. Finalmente, para dar um terceiro exemplo, não bastam leis que criminalizem a violência de gênero, pois o combate à violência contra as mulheres requer mudanças que afetem as suas causas culturais e estruturais, que são simbólicas e materiais (cf. p. 62).
O mesmo deve ser dito a respeito da população LGBTQ+: embora as suas vitórias legais tenham sido significativas e fruto de batalhas muito acirradas – igualdade de gênero formal, casamento igualitário, direito de adoção, etc. – elas continuam frágeis e sob constante ameaça. Novos direitos não têm impedido a escalada da violência contra pessoas LGBTQ+ (o Brasil é o país que mais mata essa população nas Américas[4]), como também não têm sido suficientes para abarcar as demandas da sua parte mais pobre e racializada. Para essa parcela, pouco adianta uma pauta de liberação sexual que valorize a liberdade sexual individual, mas que não desafia as condições estruturais que incitam homofobia e transfobia (cf. p. 72).
Quem se beneficia, em todos esses casos mencionados, são as pessoas que de um modo ou de outro gozam de privilégios e condições sociais e materiais favoráveis, ao passo que a maioria ampla da população continua fora da conta.
O feminismo também é “liberal” quando assume feição carcerária, por mais contraditório que isso possa parecer; afinal aposta todas as suas fichas na justiça criminal para combater a violência de gênero, enquanto se esquece de que a justiça criminal atinge desproporcionalmente homens pobres e negros, o que, por sua vez, afeta a vida das mulheres pobres e negras, que têm que sustentar as suas famílias sozinhas e lidar com as sequelas afetivas e burocráticas do encarceramento dos seus filhos, maridos e irmãos (cf. p. 61). As mulheres que talvez se beneficiem com uma resposta carcerária de mão única certamente não são as mais sujeitas à intersecção das opressões de gênero, raça e classe. Por fim, e o mais importante na minha interpretação, as autoras colocam sob esse amplo guarda-chuva do “feminismo liberal” a tendência de isolar o “gênero” da “raça” e definir sexismo a partir de um modelo de mulher universal que não é outra coisa senão a universalização de uma mulher bem particular: a branca de classe média. Isso indica claramente que o feminismo liberal tende a ser branco e de classe média, como a própria história das lutas e do pensamento feminista mostram, desde a capitulação racista das sufragistas estadunidenses até as teorias que clamam por uma sororidade pós-racial (ou suprarracial) em torno da opressão de gênero e acima da solidariedade antirracista (cf. 77). Seria ótimo ter espaço aqui para mencionar algumas dessas teorias feministas, mas fica para outra ocasião.
Nota-se que os contornos do feminismo para os 99% aparecem ao longo das teses em contraposição aos problemas do feminismo liberal, que acabou se consolidando em diversas frentes e matrizes teóricas a partir dos anos 1990 como um “feminismo despojado de aspirações utópicas, revolucionárias – um feminismo que refletia e acomodava a política liberal dominante” (p. 120). Para fazer frente a essa “hegemonia liberal”, as nossas autoras resgatam a memória das feministas socialistas do começo do século XX, das lutas operárias lideradas por mulheres e do radicalismo feminista dos anos 1970, nascido no contexto das lutas antirracistas e anticoloniais. O próprio Manifesto é dedicado ao combativo coletivo de mulheres negras e lésbicas Combahee River, atuante nos anos 1970 em Boston, e às grevistas polonesas e argentinas que lideraram greves de fato surpreendentes no 8 de março em 2016 abrindo caminho para uma nova onda de greves feministas desde então (cf. Tese 1).
O texto começa saudando a recente repolitização grevista do 8 de março e termina saudando as feministas negras que, na contramão do feminismo liberal, continuaram a produzir análises intersecionais profundamente reveladoras, e teorias materialistas queer, desveladoras de importantes elos entre capitalismo e reificação de identidades sexuais (cf. p. 120). Com essas alianças delineadas, Fraser, Arruza e Batthacharya defendem a plenos pulmões um feminismo com um sonho mais elevado que fala de um “mundo justo cuja riqueza e os recursos naturais sejam compartilhados por todos e onde a liberdade e a igualdade sejam premissas, não aspirações” (p. 27). Isso implica pensar a justiça de gênero em outro modelo de sociedade, isso implica engajar- se na luta – teórica e prática – por transformações estruturais. O Manifesto quer ser um guia neste caminho, que não parece às autoras apenas necessário, mas também factível (cf. p. 28).
Cabe às leitoras e aos leitores a avaliação dessa factibilidade. Se o Manifesto interessa, talvez seja menos por efetivamente mostrar que o presente anuncia as transformações que nós, feministas de esquerda, sabemos ser necessárias (quero crer que sim), e mais por mostrar que a nossa força política para provocar transformações de ordem estrutural requer uma tomada clara de posição a respeito do capitalismo, que é o sistema que estrutura as opressões. Em contraposição à estreiteza elitista dos feminismos liberais, trata-se, enfim, de levar a sério as “restrições socioeconômicas que tornam a liberdade e o empoderamento impossíveis para uma ampla maioria de mulheres” (p. 37). Se é evidente que o capitalismo não inventou a opressão de gênero, ele inventou, isso sim, modelos modernos de sexismo que são sustentados pelas estruturas institucionais, por exemplo, ao separar a produção de pessoas da obtenção de lucro, atribuir o primeiro trabalho às mulheres e subordiná-lo ao segundo (cf. p. 52). A produção de pessoas é tratada “como mero meio para gerar lucro”, embora seja um trabalho fundamental rotineiramente encoberto e renegado. Uma vez que na sociedade capitalista a organização da reprodução social se baseia no gênero, “depende de papéis de gênero e entrincheira-se no gênero” (p. 53), é evidente que o feminismo – até pra poder construir uma alternativa à agudíssima crise da reprodução social que vivemos – não pode se acomodar a esse sistema. Recuperar aspirações utópicas e revolucionárias significa precisamente lutar por uma sociedade na qual a produção de pessoas não esteja subordinada ao lucro.
Não basta, contudo, reconhecer que a reprodução social depende de papéis de gênero e está permeada pela classe porque ela é permeada também pela raça, afinal “as sociedades capitalistas sempre instituíram uma divisão racial do trabalho reprodutivo” (p. 53). Assim, o feminismo para os 99% opõe-se frontalmente ao feminismo liberal em seu entrelaçamento histórico com o racismo (cf. p. 77), reconhecendo a potência e a acuidade teórica das análises intersecionais da opressão de autoria das feministas negras (cf. p. 120), nas quais nitidamente se baseia para defender que “Um feminismo voltado para a resolução da crise atual deve compreender a reprodução social através de uma lente que engloba e relaciona todos esses eixos de dominação” (p. 53): gênero, raça, classe, sexualidade, etc. Embora Angela Davis não seja citada, essa já era a tese de Mulheres, raça e classe, de 1981. Aliás, cumpre notar que o Manifesto assume uma série de pautas encabeçadas por AngelaDavis desde os anos 1980 até os dias atuais – contra o racismo no movimento feminista hegemônico, contra o feminismo carcerário, entre outras – e também uma abordagem mais ampla, da qual Davis é precursora, aliando a crítica do sexismo às do racismo e do capitalismo. Não à toa, embora ela não seja citada e não assine o Manifesto a sua presença se faz sentir da dedicatória às páginas finais. Parece que com Davis as nossas autoras aprenderam que “nada que mereça o nome de ‘liberação das mulheres’ pode ser alcançado numa sociedade racista” (p. 77). Isso as leva a um compromisso com a interseccionalidade e, ao mesmo tempo, a uma reavaliação do antagonismo entre luta de classes e lutas identitárias, ainda sustentada por setores da esquerda em prejuízo não apenas de uma compreensão mais aprofundada da complexidade da opressão nas sociedades capitalistas contemporâneas, quanto também da construção de alianças estratégicas.
União das lutas
O reconhecimento da importância central da reprodução social encaminha o Manifesto para uma revisão da noção tradicional de “classe”; afinal, o que a forma não são apenas relações que exploram a mão de obra, mas também as relações que a geram e repõem (Cf. p. 54). Isso posto, a luta de classes também “inclui batalhas em torno da reprodução social”, como as feministas grevistas desde 2016 têm nos mostrado, inclusive ao identificar o capitalismo como o grande inimigo de um equilíbrio minimamente saudável entre produção reprodução para a maioria ampla das mulheres. Mais ainda. Além de abarcar pautas relativas ao salário, à jornada de trabalho, à organização sindical, a luta de classes se manifesta também nas lutas por sistemas de saúde e educação universais e gratuitos, por justiça ambiental (não há produção se pessoas sem recursos naturais), por moradia, por terra, etc. (cf. p. 55). Todas essas lutas são de classes porque envolvem a reprodução social e porque clamam, igualmente, pela inversão de prioridades estabelecida pelo capitalismo; em comum, reivindicam que as pessoas sejam mais importantes do que o lucro, que os bens materiais e naturais sejam divididos e não confiscados em benefício de apenas 1%)[5]. . Para Fraser, Arruza e Bhattacharya, essas lutas não são mais ou menos primordiais do que aquelas “pela libertação das mulheres, contra o racismo, a xenofobia, a guerra e o colonialismo” (idem) porque o capitalismo deles se beneficia e com eles se mantém. O capitalismo se beneficia do sexismo, do racismo, da guerra, do colonialismo: todos geram exploração, expropriação e lucro. Lutar contra o capitalismo, portanto, é lutar contra todas essas formas imbricadas de opressão. Assim sendo, a proposta estratégica do Manifesto para o enfrentamento da crise atual é a união das lutas:
O feminismo para os 99% não opera isolado de outros movimentos de resistência e rebelião. Não nos isolamos das batalhas contra a mudança climática ou a exploração no local de trabalho somos indiferentes às lutas contra o racismo estrutural e a expropriação. Essas lutas são nossas lutas, parte integrante do desmantelamento do capitalismo, sem as quais não pode haver fim da opressão sexual e de gênero. A conclusão é clara, o feminismo para os 99% deve unir forças com outros movimentos anticapitalistas mundo afora, com movimentos ambientalista, antirracista, anti-imperialista e LGBTQ+ e sindicatos. Devemos sobretudo nos aliar com as correntes de esquerda desses movimentos, que também defendem os 99% (p. 93, grifo meu).
Mas isso implica desfazer um equívoco enorme e ainda recorrente em setores mais tradicionais da esquerda que continuam a reiterar um certo reducionismo de classe ao defender que o que nos une é a classe (numa acepção bem restrita) enquanto o feminismo, o antirracismo, a luta LGBTQ+, por exemplo, nos apartam (cf. p. 122). Neste momento, as nossas autoras já não estão mais mirando os limites do feminismo liberal, mas os limites da própria esquerda. É que ambos, cada um ao seu modo, podem obstar os anseios de um feminismo para os 99%. No caso da esquerda, isso ocorre pela má avaliação do significado daquelas lutas pejorativamente consideradas “identitárias”.
São de pelo menos duas ordens os problemas que essa posição engendra: 1) o reducionismo de classe tende a desconsiderar ou a diminuir a importância das opressões vinculadas ao gênero, à raça, à etnia, à sexualidade, etc.; 2) tende também a desconsiderar a multiplicidade de lutas e o potencial político de uma aliança que, para acontecer, precisa estar ciente das nossas diferenças. As duas coisas andam juntas para refrear a construção da luta conjunta e da solidariedade política.
Parece-me que o primeiro é um déficit da esquerda causado por uma análise precária e não suficientemente complexa da opressão interseccional em sociedades capitalistas que são racistas, sexistas e repletas de fobias contra sexualidades consideradas “desviadas”. O segundo, derivado do primeiro, é um déficit de ordem estratégica na medida em que lamenta a fragmentação das lutas sem oferecer uma alternativa que não seja a pressuposição de uma unidade artificial. Sublinho este tema porque ele é urgente também para nós. A vitória eleitoral de uma nova direita, que combina neoliberalismo com neoconservadorismo, concomitante com a proliferação de lutas antissexistas, antirracistas, anticapitalistas, antilgbtfóbicas, impõe a pergunta urgente pela construção de alianças num cenário político fraturado e heterogêneo (cf. p.98), marcado pela fragmentação das forças capazes de resistência e ação. Se é certo, como apontam Arruza, Fraser e Bhatthacharya, “que a proliferação de lutas fragmentárias não engendrará os tipos de aliança robustos, de ampla base, necessários para transformar a sociedade”, também é certo que “essas alianças serão impossíveis se não conseguirmos levar nossas diferenças a sério” (p. 123).
Se as autoras do Manifesto marcam posição a esse respeito é porque reconhecem dois entraves importantes ao seu projeto: de um lado, mais liberal, a tendência teórica e prática de mitigar a centralidade do capitalismo na opressão de gênero e racial; de outro, mais à esquerda, a persistência da ilusão de uma unidade de classe (“a” classe trabalhadora) que motiva reação contra as distrações e fragmentações provocadas por feministas, pessoas negras, lésbicas, gays e transsexuais. Setores tradicionais da esquerda no Brasil continuam a tratar essas opressões como secundárias, como bem sabemos. Sem celebrar a diversidade à moda liberal, Fraser, Arruza e Bhattacharya parecem preocupadas em ampliar a conversa com esses setores da esquerda para tentar convencê-los de que é justamente a ilusão da unidade que atrapalha a união das lutas, imprescindível para uma resistência anticapitalista à altura dos desafios que nos são impostos nessa fase mais draconiana do capitalismo, a neoliberal financeirizada. Aqui está o nó do texto e a sua complexidade maior: admitir que as crises agudas que enfrentamentos têm como causa originária o capitalismo sem supor um “sujeito revolucionário” (ou a classe trabalhadora) que seja uma entidade indiferenciada, homogênea, sobre a qual incide um único e mesmo tipo de opressão.
Em termos mais filosóficos, o que está em questão é pensar a universalidade (que Marx atribuiu à classe trabalhadora) sem ignorar as particularidades dos agentes, das opressões, das circunstâncias. O universalismo proposto aqui “adquire sua forma e seu conteúdo a partir da multiplicidade de lutas vinda de baixo” (p. 123). Isso significa uma visão do universalismo sempre em formação, “sempre aberta à transformação e à contestação e sempre se consolidando novamente por meio da solidariedade” (idem). Em termos programáticos (ora, é um Manifesto!), trata-se de alertar para que “a universalidade não pode ser alcançada ignorando-se as suas diferenças internas” (p. 122, grifo meu).
É tempo de engajarmo-nos em compreender as nossas diferenças, até porque disso depende a nossa união, poder e solidariedade política. O mar não está pra peixe. Podemos começar lendo palavra por palavra do lindo prefácio à edição brasileira escrito por Talíria Petrone, que faz cada uma das onze teses do Manifesto encarnar em uma mulher brasileira. De Maria Carolina de Jesus à Marielle Franco, passando por Dona Nininha, Joselita e Luana, Petrone dá nome, corpo e história às mulheres brasileiras esquecidas não apenas pelo Estado, mas também pelas feministas liberais.
As almas mais ortodoxas da esquerda talvez fiquem um tanto confusas e incomodadas quando Petrone finaliza o seu prefácio unindo a mensagem ubuntu (sempre citada por Marielle Franco), “eu sou porque nós somos”, com a versão feminista da evocação do Manifesto de 1848 (aquele escrito por Marx e Engels), “mulheres de todo o mundo, uni-vos”. Mas é melhor alargar a mentalidade, acionar a capacidade de escuta e tentar compreender, pois nós não vamos recuar.
[1] Professora Livre Docentes do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pesquisadora do CNPq
[2] 2 Trato mais demoradamente deste tema em “Antibolivarianismo à Brasileira”. In: Almeida, Ronaldo de; Toniol, Rodrigo. (Org.). Conservadorismos, fascismos e fundamentalismos. Campinas: Editora da Unicamp, 2018, v. , p. 143-161.
[3] “Retratos da Desigualdade de Gênero e Raça”, IPEA, 2017. http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=29526
[4] https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1884666-brasil-patina-no-combate-a- homofobia-e-vira-lider-em-assassinatos-de-lgbts.shtml
[5] Nos últimos setes anos, a renda da metade mais pobre da população brasileira caiu cerca de 18%, ao passo que o 1% mais rico teve aproximadamente 10% de aumento no poder de compra Cf. “A Escalada da Desigualdade – Qual foi o Impacto da Crise sobre Distribuição de Renda e Pobreza?”. Fundação Getúlio Vargas, Agosto/2019. https://cps.fgv.br/desigualdade
Referência imagética:
Daniel Arroyo (www.ponte.org/8-de-marco-2019-por-marielle-franco-e-contra-bolsonaro/)