Tomaz Paoliello1
Priscila Villela2
13 de outubro de 2025
***
O texto a seguir corresponde à divulgação do artigo homônimo, publicado na edição mais recente da revista Carta Internacional, disponível aqui.
***
A segurança pública ganhou peso na agenda política e se tornou um dos principais temas das campanhas eleitorais em São Paulo e em todo o Brasil. Candidatos disputam quem tem as melhores propostas para enfrentar a criminalidade e muitos apontam soluções, como a ampliação da vigilância por câmeras, o fortalecimento das guardas municipais e parcerias com vizinhanças organizadas. É só andar pela cidade para perceber a multiplicação de câmeras e placas de sinalização alertando sobre segurança e vigilância nas entradas de prédios residenciais e estabelecimentos comerciais.
Se notarmos com atenção, muitas dessas câmeras vêm acompanhadas de um adesivo com a marca “Vizinhança Solidária”. Essa presença visível do programa nos bairros revela como a segurança passou a ser organizada não só pelas forças públicas, mas também por redes de moradores em parceria com a Polícia Militar. Mas o que pouca gente sabe é que esse modelo, que parece ter surgido de forma espontânea nas ruas da cidade, tem uma história transnacional, marcada por influências vindas de outros países e por disputas sobre quem define o que é segurança e como ela deve ser feita.
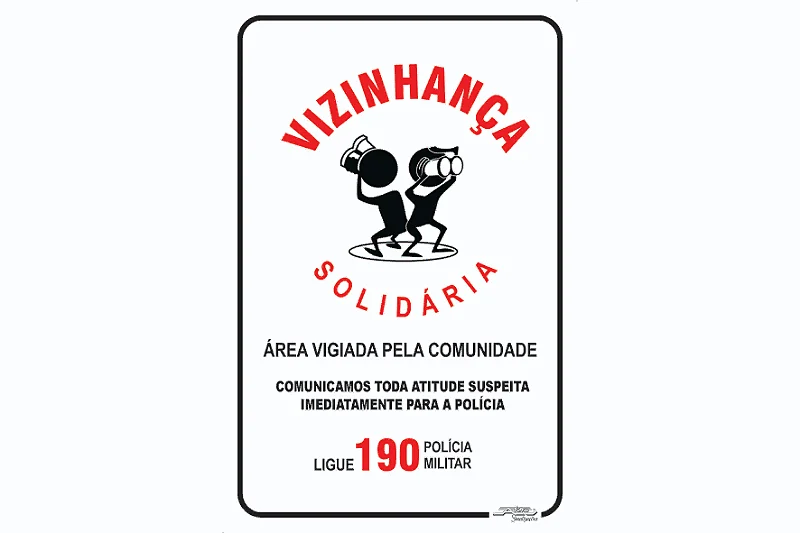
Logotipo oficial do programa Vizinhança Solidária, presente em placas e adesivos espalhados por condomínios e comércios de São Paulo.
O Programa Vigilância Solidária é uma estratégia de policiamento comunitário que visa estimular os moradores de uma determinada área a se envolverem ativamente na proteção e prevenção ao crime. A proposta é que haja colaboração entre a comunidade local e as forças de segurança, como grupos de WhatsApp com policiais da região, reuniões que aproximem a comunidade e policiais e o compartilhamento de imagens de câmeras de segurança privadas com a polícia, por exemplo.
No artigo “A Circulação Transnacional do Policiamento Comunitário: a Experiência do Programa Vizinhança Solidária em São Paulo”, publicado na revista Carta Internacional, buscamos reconstruir a genealogia do programa implementado na cidade a partir de 2010. Buscamos compreender como ideias sobre policiamento comunitário circularam pelo mundo, foram apropriadas, adaptadas e, por fim, transformadas em política pública em São Paulo.
Para isso, o artigo se baseia em entrevistas com policiais militares de São Paulo que estiveram envolvidos com a experiência do programa desde suas origens, na região do ABC paulista. Posteriormente, o programa ganhou maior abrangência e se espalhou pela cidade e pelo estado de São Paulo. Adicionalmente, buscamos compilar documentação, particularmente relatórios e policy papers de agências internacionais que tiveram projetos de policiamento comunitário no Brasil ao longo do período estudado. Dessa forma, buscamos conectar a experiência local com as influências transnacionais na formulação da política pública.
A partir da análise documental, identificamos que políticas de policiamento comunitário estão sendo vendidas globalmente como “boa prática” e solução para a brutalidade policial, a ineficiência e a falta de legitimidade perante a comunidade (e talvez uma alternativa à guerra às drogas e ao modelo de militarização). Assim, o policiamento comunitário não é apenas uma política pública, mas um “selo de legitimidade”.
Esse caráter global do policiamento comunitário é fundamental para entender o que acontece em São Paulo. Desde os anos 1990, países como Estados Unidos, Canadá, Japão e Reino Unido passaram a difundir experiências chamadas de best practices em segurança, como os programas de Neighborhood Watch e o modelo koban japonês. Essas ideias circularam em congressos, treinamentos, manuais de boas práticas e até por meio de cooperação internacional financiada por agências como o Banco Mundial e a USAID. A promessa era simples: aproximar polícia e comunidade para reduzir a violência e recuperar a confiança da população.
No entanto, ao chegar ao Brasil, essas propostas não foram copiadas literalmente. Elas passaram por traduções, disputas e adaptações que refletem tanto os desafios locais – como a violência policial herdada da ditadura – quanto as oportunidades abertas por redes internacionais. Assim nasceu a “Vizinhança Solidária”, que, embora apresente logotipos parecidos com os de programas estrangeiros, carrega também as marcas da realidade paulista. Mais do que isso: seus atores locais nem sempre reconhecem ou admitem a influência internacional, reivindicando a inovação sobre o programa.
O interessante é que São Paulo não está situada na cartografia transnacional da circulação das políticas apenas como “importador” dessas ideias. Ao longo da última década, a Polícia Militar passou a apresentar o programa em encontros no Brasil e em outros países da América Latina. Ou seja, aquilo que parecia uma invenção local virou também um produto de exportação, um “cartão de visitas” da polícia paulista no cenário internacional.
Essa circulação transnacional mostra que, quando falamos de segurança, não estamos diante de soluções isoladas, criadas do zero em cada bairro ou cidade. Pelo contrário: lidamos com políticas que fazem parte de uma rede internacional de trocas, traduções e disputas sobre como fazer policiamento. Reconhecer esse movimento nos ajuda a enxergar de forma mais crítica tanto os limites quanto as promessas de programas como o Vizinhança Solidária.
Concluímos que esse programa é implementado localmente, mas também é resultado da difusão transnacional de ideias e práticas. Buscamos explorar espaços e pontos de conexão que tornaram a difusão desse modelo possível. Mostramos que as políticas de segurança pública localmente implementadas emergem de um complexo arranjo de elementos nacionais e internacionais que se integram a partir de processos que nem sempre são formais, tampouco lineares e frequentemente não reconhecidos por seus protagonistas, revelando uma configuração sofisticada de poder internacional.
Redes sociais:
@tomazpaoliello (instagram) / https://www.linkedin.com/in/tomaz-paoliello/
@privillela89 (Instagram)/ https://www.linkedin.com/in/priscila-villela-53422222/
@nets_pucsp (nosso grupo de pesquisa)
- Coordenador do Mestrado Profissional em Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais da PUC-SP. Pesquisador do NETS – Núcleo de Estudos Transnacionais da Segurança, LEGS – Laboratório de Estudos sobre Governança da Segurança, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos (INCT/INEU). Foi Visiting fellow no LACC – London School of Economics (2020-2023). Desenvolve pesquisa sobre Governança da Segurança e seus impactos para a segurança urbana, enfatizando a difusão de políticas de segurança e policiamento e da privatização da segurança. ↩︎
- Professora de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Mestre e doutora pela PPGRI San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP). Vice-coordenadora do Núcleo de Estudos Transnacionais de Segurança (NETS), pesquisa temas relacionados ao policiamento em perspectiva transnacional, sobretudo no que concerne aos esforços de combate ao tráfico de drogas e outros crimes transnacionais. Como desdobramento desta agenda, sua pesquisa também avança para a temática das cidades e da violência sob uma perspectiva global. ↩︎




