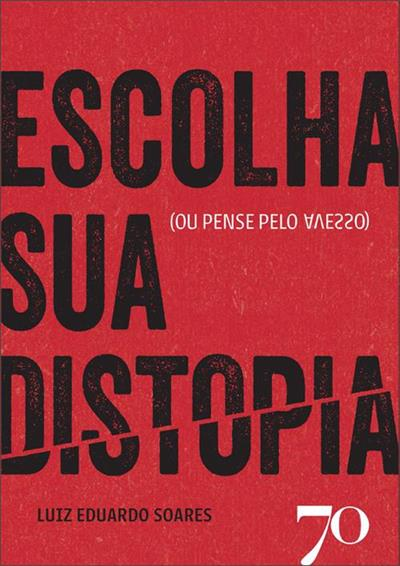22 de outubro de 2025
***
O texto a seguir corresponde à divulgação do dossiê (Des)regulamentação do digital na democracia constitucional publicado pela Revista Mediações.
***
A publicação do dossiê (Des)regulamentação do digital na democracia constitucional pela Revista Mediações, em agosto de 2025, integra as atividades do Projeto Acervo Digital Cedec-Ceipoc – coordenado pelo Prof. Andrei Koerner (Unicamp) e financiado pelo CNPq e pela Fapesp. Concebida nesse contexto, a iniciativa editorial dialoga com um conjunto de reflexões anteriores sobre a mobilização e avaliação crítica das tecnologias digitais, voltadas à compreensão e ao diagnóstico das inflexões democráticas do tempo presente. Tais reflexões materializaram-se em publicações como o Caderno Cedec n. 131 e a edição n. 123 da Revista Lua Nova. Em linhas gerais, os artigos apresentados no dossiê reúnem pesquisas empíricas sobre as transformações das normatividades sociais introduzidas por essas tecnologias, bem como sobre suas implicações para as formas de produção do Direito e para a própria dinâmica da democracia constitucional.
Para tanto, tomamos como ponto de partida que o modelo do direito social, tal como formulado pelo constitucionalismo democrático — e que constitui um dos eixos centrais para o projeto neocosmopolita de direitos humanos — vem sofrendo impactos de duas ordens. De um lado, a erosão das condições políticas, econômicas e sociais de sua realização, provocada pela razão governamental neoliberal; de outro, a emergência de novos problemas decorrentes das mudanças tecnológicas (Koerner; Vasques; Almeida, 2019). Nesse cenário, a experiência prática dos últimos anos tem sido marcada pelos efeitos ambivalentes produzidos pela onipresença do digital no cotidiano, afetando desde as rotinas pessoais, as interações sociais e econômicas até as relações entre os cidadãos, e os diversos poderes públicos e, mais amplamente, o Estado.
Esses efeitos manifestam-se, por exemplo, nas ações e interações que configuram o tempo presente, sobretudo nos modos de objetivação e subjetivação. Do ponto de vista da economia, o contexto tecnológico trouxe novas modalidades de lucro, acompanhadas de rearranjos nos domínios de atividade laboral, que precarizam as formas de trabalho e as relações entre os trabalhadores. O desemprego massivo em algumas dessas atividades combina-se com a criação de novas ocupações e demanda perfis e competências próprias. No quadro mais amplo da competição entre sujeitos empreendedores, corporações e o Estado, a inovação tecnológica aparece como uma questão central nos esquemas de governo das condutas sociais (Barry, 2001).
As mudanças não foram menores na política democrática, afetando-a em suas múltiplas dimensões: normativo-moral, jurídico-institucional, processos decisórios, formas de ação coletiva etc. Assim, os processos políticos transformam-se, legando impactos decisivos sobre a democracia, ainda incertos quanto à sua continuidade e existência. A década de 2000 foi caracterizada pelo surgimento de numerosos sites e softwares voltados a interconectar usuários e fomentar intercâmbios e vínculos sociais, bem como a promover a criação e circulação de conteúdos produzidos por esses usuários, sobretudo por meio das então recém-criadas redes sociais (Gendler, 2021). Porém, se, num primeiro momento, as potencialidades abertas pela internet — para a informação, a comunicação e as interações com os eleitores e políticas — pareciam apontar para um horizonte emancipatório, hoje observa-se a emergência das chamadas lideranças populistas e/ou protofascistas, que se apropriam intensamente das redes sociais.
A questão torna-se ainda mais complexa com o aperfeiçoamento dos mecanismos de extração de dados, que permite o desenvolvimento de múltiplos usos das redes, como a constituição de estratégias de guerra híbrida, oferecendo condições para a crise democrática contemporânea (Zuboff, 2019). A formação de “bolhas” na internet, articulada à produção e disseminação em massa de fake news, prefiguram a criação do chamado ecossistema da desinformação, no qual a esfera pública – antes dominada por uma espécie de mercado oligopolista da informação – transfigura-se em campos de batalha conformados por grandes empresas de tecnologia (i.e., big techs), onde atores estatais ou não estatais se embatem cotidianamente em diversos espaços. Multiplicam-se e intensificam-se, assim, esses espaços de intervenção, pari passu ao aumento significativo de circulação das informações falsas, que potencializam preconceitos, enrijecem posições e alimentam a polarização – sobretudo ao catapultar lideranças até então desconhecidas, agora situadas nos limites do jogo democrático.
O caráter agonístico (Mouffe, 2011) das interações afetou também o campo jurídico, uma vez que os tribunais e outros atores jurídicos deixaram de ser apenas “gestores do cotidiano” de uma sociedade competitiva, metamorfoseando-se em censores e interventores de enfrentamentos protopolíticos contínuos. Os processos de informatização da Justiça proporcionaram acesso amplo e barato à litigância, trazendo, de um lado, maiores oportunidades para a argumentação e a negociação sobre as perspectivas da vida boa. De outro, esses tribunais vêm se tornando cada vez mais palcos de embates públicos entre incontáveis atores que, ao mobilizarem estratégias complexas, ecoam e repercutem em vários planos de interação social. Esse problema se agrava com a utilização intensiva da inteligência artificial pelos inúmeros agentes da Justiça e com a adoção de processos judiciais automatizados, levantando novas questões sobre o acesso, equidade e respeito ao devido processo legal.
As primeiras análises sobre a inteligência artificial enfatizaram seus efeitos deletérios sobre a agência humana. A generalização do uso de algoritmos digitais, incluída na comunicação entre esses agentes, teria produzido efeitos de reforço mútuo de discriminação dos mais pobres, de gênero, de etnia, e de padrões de comportamento não convencionais. Tais mecanismos têm criado um agregado normativo à margem da lei – por vezes contra ela – que codifica o passado, mas não constrói um futuro segundo valores e escolhas explicitados e deliberados (Koerner; Vasques; Almeida, 2019). Pesquisas mais recentes passaram a adotar a perspectiva das interações e das práticas, mostrando as táticas de resistência, de inversão de posições e de reversão das possibilidades. As apropriações diversificadas e as possibilidades de sentido tornaram-se um campo de batalha simbólico sobre as tecnologias digitais (Lupton, 2019).
Tal multiplicidade de campos, dimensões, respostas e estratégias implica a tarefa de pesquisar e refletir sobre como nos relacionamos com esses processos. Nesse sentido, coloca-se o problema de elaborar os limiares da regulação e repensar os termos de controle, sem deixar de considerar as possibilidades de imaginar e promover esquemas de ação política que, articulados aos usos das tecnologias sociais, possam, quiçá, democratizar os algoritmos. Tendo em vista esse desafio complexo, o dossiê reuniu trabalhos que analisaram estratégias de regulação algorítmica na e para a democracia constitucional, com particular atenção à exposição dos efeitos e implicações das tecnologias digitais, bem como à recepção, às inflexões, às resistências e à imaginação de respostas que têm emergido diante dessa nova situação.
Composição do dossiê
A partir dos artigos reunidos no dossiê, podem-se identificar quatro principais linhas de investigação que vêm configurando os estudos do digital no âmbito mais amplo da teoria política democrática. A primeira, de natureza teórico–ontológica, remete à discussão sobre as formas de abordagem da tecnologia e suas implicações para a democracia. A segunda, estrutural-capitalista, trata o digital à luz da história do capitalismo em suas múltiplas dimensões, explorando os vínculos entre formas técnicas, regimes de acumulação e lógicas de mercado. A terceira linha, normativo-comunicacional, busca avaliar em que medida a esfera digital amplia ou enfraquece as condições de deliberação democrática, destacando a crescente colonização do espaço público por lógicas de visibilidade, vigilância e extração de dados. Por fim, as abordagens decoloniais e feministas latino-americanas interrogam como as dinâmicas digitais, ao reproduzirem desigualdades estruturais de gênero, raça e território, tendem a enviesar as democracias. Essas linhas não se excluem mutuamente, mas antes se entrelaçam em diversos níveis de análise – como se verá na apresentação dos artigos que compõem o dossiê, integralmente disponível no volume n. 30 da Revista Mediações.
O artigo de André Luiz C. Gonçalves, intitulado Mitoinformação e ideologia da tecnologia: uma leitura a partir de Langdon Winner, contribui com o debate teórico-ontológico ao trazer à tona a abordagem de Langdon Winner para enfrentar a questão da dimensão política da técnica. Gonçalves mobiliza o conceito winneriano de “mitoinformação” para lançar luz sobre o conjunto de crenças, narrativas e ideologias que surgem ou são deliberadamente criadas em torno das tecnologias – muitas vezes pensadas como instrumentos neutros e subordinados apenas aos usos sociais que delas se faz. A contrapelo da neutralidade, os “artefatos tecnológicos” conformam um campo de disputa simbólica e material, no qual diferentes atores, discursos e interesses competem pelo controle dos sentidos, funções e visibilidades atribuídas às inovações técnicas. A perspectiva crítica da “mitoinformação” orienta o mapeamento conceitual-analítico apresentado no artigo sobre a centralidade das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), revelando em que medida as TICs operam lógicas de extração de dados em favor de interesses corporativos (em larga medida representados pelas big techs). Assim, o autor atualiza as ideias de Langdon Winner ao enfatizar o caráter ideológico da “revolução digital” no contexto normativo-comunicacional do capitalismo de vigilância e, ao mesmo tempo, coloca em pauta a urgência de se analisar as implicações desta “ideologia da técnica” sobre a democracia (e a soberania).
Felipe Casteletti Ramiro e Luís Antônio Francisco de Souza, em O homo virtualis na confluência entre biopolítica virtual e capitalismo de vigilância: um ensaio bibliográfico, também articulam o debate teórico-ontológico com as abordagens normativo-comunicacionais sobre a tecnologia ao propor o conceito de homo virtualis. O objetivo do artigo, ao ancorar-se nas perspectivas analíticas de Michel Foucault e Giorgio Agamben, é explorar a transformação do sujeito biopolítico no contexto do capitalismo de vigilância. Para os autores, a virtualização da realidade contemporânea, marcada pelo uso das tecnologias digitais, ensejou a constituição discursiva de um novo sujeito. A emergência do homo virtualis, cuja existência é mediada pela virtualidade, relativiza as fronteiras entre o biológico e o digital ao substituir o corpo físico pela extração de dados, engendrando, assim, outro campo de intervenção na vida das populações, a datapolítica. Ramiro e Souza enfatizam em que medida esse sujeito é sequestrado pelas “realidades virtualizadas”, ficando à mercê de um biopoder que tanto deforma o real – desvirtuando sua própria visão de si – quanto atua na manutenção e ampliação das desigualdades sociais, de modo que suas múltiplas implicações sobre as democracias ainda são um campo em descoberto.
Já Pedro Odebrecht Khauaja, em Duas teorias para o problema regulatório da democracia digital: tecnofeudalismo, teoria da dependência e a economia política dos algoritmos, enfrenta o tema da crise da regulação democrática no contexto digital. De um lado, aciona a abordagem normativo-comunicacional por meio do conceito de “tecnofeudalismo”, a fim de examinar como as plataformas digitais – ao centralizarem o controle de dados, dos algoritmos e da própria infraestrutura digital – assumem a posição de “senhores feudais-digitais” do mundo contemporâneo. Essa centralização cria lacunas regulatórias, sobretudo devido à opacidade e ao caráter transnacional de suas operações. Do outro, Khauaja contextualiza esse tecnofeudalismo numa dimensão estrutural-capitalista ao atualizar a teoria da dependência para tratar das assimetrias globais entre o Norte (tecnológica e economicamente avançado) e o Sul (tecnológica e economicamente dependente) diante da crise regulatória. Com isso, explicita a tensão entre os esforços regulatórios nacionais e a natureza globalizada e privatizada do espaço digital, implicando novos desafios à governança, à soberania e à própria democracia.
Karen Artur, Ligia Barros de Freitas e Jean Filipe Domingos Ramos, em Algoritmos, trabalho e espaços normativos: reequilíbrio do poder para a democracia do trabalho, buscam compreender os impactos antidemocráticos do gerenciamento algorítmico nas relações de trabalho contemporâneas. O artigo conjuga duas dimensões analíticas: tanto contextualiza as condições de regulações do trabalho que configuram o capitalismo neoliberal, marcado pelo processo de “uberização” (dimensão estrutural-capitalista) quanto enfatiza as disputas entre atores sociais que representam, respectivamente, os interesses do capital e os interesses do trabalho organizado coletivamente num contexto das plataformas digitais (eixo normativo-comunicacional). A análise empírica se apoia em audiências públicas no Supremo Tribunal Federal e no Senado Federal brasileiro com o objetivo de examinar o impacto dos materiais produzidos pelo European Trade Union Institute sobre o debate regulatório nacional. Os autores demonstram que, ao contrário do caso europeu, as preocupações regulatórias trabalhistas foram esvaziadas nos debates institucionais no Brasil. O ponto central do estudo é a constatação da emergência de um regime de “taylorismo digital”, no qual a automação e o controle intensificam o ritmo de trabalho e produzem – tal como demonstrado no caso brasileiro – tensões e implicações para a democracia.
Por fim, Elaine Schmitt e Ailê Vieira Gonçalves, no artigo Antifeminismo e conspiritualidade nas novas mídias digitais: propiciação algorítmica ou reação às políticas de gênero?, articulam as abordagens decoloniais e feministas latino-americanas com a perspectiva normativo-comunicacional para compreender como o antifeminismo e a conspiritualidade3 são disseminadas – e potencializadas – pelas lógicas algorítmicas do meio digital. A partir da coleta e análises de dados do canal/perfil de Lucas Scudeler, um autodeclarado coach de relacionamentos que reuniria em seus conteúdos, filosofia, teologia psicanálise e neurociência, Schmitt e Gonçalves evidenciam a emergência de uma narrativa paralela à produção acadêmica sobre as questões de gênero, que atua na promoção da desinformação, da misoginia e dos discursos de ódio. Essa narrativa pode ser compreendida como uma reação à luta e aos avanços dos direitos das mulheres e da comunidade LGBTQIAPN+ nos últimos anos e que, no ambiente digital atual, adquire nova intensidade. Isso ocorre sobretudo porque esse reacionarismo se associa a dinâmicas algorítmicas que favorecem a conspiritualidade e a formação de públicos antiestruturais – isto é, comunidades que se constituem à margem ou em oposição às instituições democráticas. Assim, a pesquisa revela como essas dinâmicas contribuem para a reprodução das desigualdades de gênero, raça e território, comprometendo as possibilidades democráticas na contemporaneidade.
Referências
BARRY, Andrew. Political machines: governing a technological society. London: Athlone Press, 2001.
CESARINO, Letícia. O mundo do avesso: verdade e política na era digital.São Paulo:Ubu Editora, 2022.
GENDLER, Martín Ariel. Internet, algoritmos y democracia ¿Del sueño a la pesadilla? Revista Nueva Sociedad, Buenos Aires, n. 294, p. 37-48, jul./ago. 2021.
KOERNER, Andrei; VASQUES, Pedro Henrique Ramos Prado. ALMEIDA, Álvaro Okura de. Direito social, neoliberalismo e tecnologias de informação e comunicação. Lua Nova, São Paulo, n. 108, p. 195-214, 2019.
LUPTON, Déborah. Data selves. Cambridge: Polity, 2019.
MOUFFE, Chantal. On the political. Boca Raton: Routledge, 2011. ZUBOFF, Shoshana. The age of surveillance capitalism: the fight for a human future at the new frontier of power. New York: PublicAffairs. 2019.
* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!
- Pesquisador do Programa Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD) da Unicamp, junto ao Departamento de Ciência Política-IFCH/Unicamp, pesquisador do Ceipoc-IFCH/Unicamp e pesquisador associado do Cedec. ↩︎
- Professor assistente de Ciência Política da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Pesquisador associado do Cedec. ↩︎
- Segundo as autoras, a partir de Cesarino (2022), a “noção de conspiritualidade, especificamente, expõe a combinação de teorias da conspiração de base (geo)política e masculinista, em que as causalidades holísticas possuem um “encanto” e também uma posição antiestrutural, pois comumente apresentam conteúdos heterodoxos nos quais seu caráter revelatório, por incitar afetos de medo ou indignação, tem maior probabilidade de gerar engajamento e compartilhamento. (p. 7). ↩︎